Sobre RXO
Ricardo Xavier de Oliveira
Diretor de Operações e Manufatura com mais de 30 anos nas indústrias de alimentos, química, fármacos e nutrição animal. Químico e Engenheiro de Alimentos, pós-graduado em Engenharia de Processos pela Unicamp e com MBA em Gestão Industrial pelo IEL-PE.
Linha editorial: clareza, mérito, responsabilidade pessoal e simplicidade operacional com foco nas pessoas.
Contato
E-mail:
rxo1974@gmail.com
LinkedIn:
linkedin.com/in/rxoliveira
Publicações no LinkedIn:
Posts do RXO
Twitter:
@rxo1974
Instagram:
@xavierdeoliveiraricardo
WhatsApp:
+57 310 213 5543
Currículo Vitae:
CV - RXO
Links atualizados.
784# Firma con el Diablo - 13/01/26

Quando Maduro apareceu, mais uma vez, como “vencedor” do pleito de 2024, a surpresa não foi a denúncia de fraude. Surpresa seria um processo limpo num país onde o Estado virou dono do árbitro, do apito e do VAR. O mundo escreveu notas, a oposição gritou, e o regime fez o que sempre faz: tratou a urna como um recibo, não como um limite. No dia 10 de janeiro de 2025, Maduro tomou posse para mais um ciclo, e a Venezuela seguiu presa no mesmo labirinto, só que com paredes mais altas.
Agora, o capítulo mais recente é ainda mais bruto. Em 3 de janeiro de 2026, Washington capturou, de forma cinematográfica, Maduro e Cilia Flores numa operação militar em Caracas. Uma semana depois, surgiram sinais de negociação e reposicionamento, porque em geopolítica até a moral tem preço e prazo de validade. Isso muda o tabuleiro, mas não muda o diagnóstico. Tirar um homem do palácio não desmonta a máquina que o alimenta, pois após tirar os ratos e as baratas tem que limpar o esgoto. E é aqui que o mote volta com força total, sem delicadeza.
Eles, os venezuelanos, merecem? A pergunta é tóxica de propósito, porque não é sobre merecer fome, medo e fuga. Ninguém merece isso. A pergunta é sobre o instante em que, nas urnas, "foi assinado o contrato de venda da alma para o demonio", repetidas vezes, com a tinta da conveniência e a caneta do desespero. Porque antes de Maduro houve o artesão do mecanismo. Hugo Chávez foi eleito em 1998, voltou em 2000, foi reeleito em 2006, foi reeleito em 2012, e ainda empurrou a engrenagem da reeleição indefinida para que o projeto não tivesse data de vencimento. Cada reeleição foi um aditivo contratual. Cada aditivo foi uma parcela da alma entregue em troca de cesta, gasolina subsidiada e a sensação infantil de que alguém, enfim, estava “cuidando do povo”.
O populismo não se sustenta só com discurso. Ele precisa de dependência. Primeiro ele distribui, depois ele condiciona, depois ele cobra fidelidade como se fosse gratidão. É uma tecnologia social primitiva e eficiente: você transforma direito em favor, favor em chantagem e chantagem em voto. Quando o povo aprende a pedir permissão para viver, o tirano não precisa nem ser genial. Basta ser persistente. E o chavismo foi persistente porque o país inteiro foi treinado a confundir proteção com prisão. A promessa era igualdade. A entrega foi submissão com recibo.
Então sim, os venezuelanos merecem a chance de recomeçar. Só que recomeço não é redenção automática, é corte, é ruptura, é jogar fora o manual que ensinou o país a obedecer sorrindo. Não dá para trocar o rosto e manter o altar, porque altar preservado sempre pede sacrifício, e o sacrifício costuma ter o mesmo endereço: a casa do cidadão comum. Se a Venezuela quiser sair do inferno, vai ter de admitir o pecado político original sem maquiagem: entregou liberdade para um salvador e ainda chamou isso de justiça. Democracia não é ato isolado de votar. É o hábito diário de dizer não, de fiscalizar, de exigir, de parar de pedir licença para existir. Quem assina contrato com o diabo não pode bancar o inocente quando chega a cobrança. E o detalhe mais incômodo é este, dito de forma literal e sem teatro: tanto a caneta como o demonio continuam lá, esperando uma mão amiga para a assinatura de um novo contrato, e isso sabemos fazer muito bem. E tem muito "caboclo" por aqui com a caneta na mão, ensaiando a mesma assinatura.
“A única maneira de lidar com um mundo que não é livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião.” — Albert Camus
“Mais que as idéias, são os interesses que separam as pessoas.” — Alexis de Tocqueville
“Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior.” — Napoleon Hill
“Pessoas autoconfiantes sabem que o que realmente importa é a qualidade do seu esforço para atingir o impossível.” — Jeff Bezos
“Seu tempo é limitado, então não fique vivendo a vida dos outros.” — Steve Jobs
785# Interpretação de Textos - 12/03/23

A incapacidade do brasileiro em interpretar textos é uma realidade assustadora. Diversas matérias na mídia destacam essa problemática de maneira preocupante (https://lnkd.in/e9zP9WY5). Historicamente, já enfrentamos dificuldades com matemática (https://lnkd.in/ePu_Qx3R) e raciocínio lógico (https://lnkd.in/e5NvbWcz). Somos constantemente "pisoteados" nos testes do PISA (https://lnkd.in/eu8uFMJC). Contudo, o que realmente preocupa é a dificuldade com nosso próprio idioma, uma vez que a comunicação é a primeira característica que nos diferencia de outras espécies, e parece que estamos perdendo rapidamente essa habilidade.
Vivemos em tempos complicados, onde o simples ato de ler e entender um texto se tornou uma barreira para muitos. Isso se reflete em nossas interações diárias, no ambiente de trabalho e até mesmo em contextos mais informais. A capacidade de interpretar textos é essencial não apenas para a comunicação eficaz, mas também para o desenvolvimento do pensamento crítico e da tomada de decisões informadas.
O sistema educacional brasileiro precisa urgentemente de uma reformulação que priorize a compreensão de textos e o raciocínio lógico. Precisamos de métodos de ensino que incentivem a leitura crítica e a análise de informações, preparando os estudantes para enfrentarem os desafios do mundo moderno. A leitura é a base de todo aprendizado, e sem ela, outras disciplinas como matemática e ciências também sofrem.
A falta de habilidade em interpretar textos tem consequências graves para a uma sociedade como um todo. Desde a dificuldade em entender informações básicas no dia a dia até a incapacidade de participar plenamente de discussões políticas e sociais, a falta de leitura crítica nos torna vulneráveis à desinformação e à manipulação.
Os dados são alarmantes: um estudo recente mostrou que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, incapazes de compreender textos simples. Isso não é apenas um problema educacional, mas uma crise social que afeta nossa democracia e nossa economia.
Para ilustrar, pensemos em situações cotidianas: um cidadão que não consegue entender uma bula de remédio, um contrato de trabalho ou mesmo um simples post no Linkedin de 3.000 caracteres (me deparei com um infeliz desses). Esse problema se reflete no mercado de trabalho, pois empregadores buscam indivíduos capazes de compreender e analisar informações, tomar decisões informadas e comunicar-se de forma eficaz. Sem essas habilidades, os trabalhadores brasileiros ficam em desvantagem competitiva, tanto no mercado interno quanto no global, e se as IA's são uma preocupação para países como Reino Unido e EUA, imagina para nós? Somos facilmente substituíveis nesse contexto!!!
O tempo está passando, e os tempos sombrios só aumentarão se não agirmos agora!
786# Senador dos EUA também joga para torcida! - 27/12/25

John Kerry entra neste post por um motivo simples: ele não é um comentarista; é uma das vozes mais ouvidas do clima em Washington. Em 23 de setembro de 2024, na abertura da Climate Week NYC, ele reforçou a ideia de que o mundo precisa abandonar os combustíveis fósseis — e a palavra que fica na cabeça do público é sempre a mais agressiva: banir. Só que banir é verbo de palco. Energia não obedece a verbo; obedece a física, engenharia e custo. Quando um líder escolhe o atalho retórico, ele não acelera a transição; ele apenas apaga as etapas. E a etapa que some do discurso é a única que importa: como manter luz, comida, indústria e mobilidade enquanto a troca acontece. Quem não descreve esse “como” está vendendo virtude sem entregar potência.
Os Estados Unidos consomem cerca de 12,6 MWh de eletricidade por pessoa ao ano. O Brasil gira em torno de 2,9; a China já passa de 6,5. Isso não é competição: é densidade de vida moderna. Com 12,6 MWh, você aquece, refrigera, transporta, produz e digitaliza em escala. Com 2,9, você escolhe prioridades e aprende a conviver com limites. Por isso a conversa sobre “banimento” muda de peso dependendo do CEP. A matriz mundial ainda depende majoritariamente de carvão, petróleo e gás, porque são fontes despacháveis, com alta densidade e logística madura. Trocar esse motor no ar, enquanto o avião ganha altitude, exige redundância, rede e armazenamento; não exige slogans. E, no meio disso, o mundo continua crescendo, urbanizando e pedindo mais energia, não menos.
Agora vem a parte inconveniente: as tecnologias chamadas de “limpas” não são artesanais. Turbinas, painéis, baterias e cabos nascem de aço, cimento, cobre, silício e química pesada. E quem produz aço e cimento hoje não faz isso com boas intenções; faz com calor, pressão e uma conta de energia brutal. Some a isso mineração de lítio, níquel e terras raras, mais o frete que movimenta tudo. Quando você diz “banir” antes de construir o substituto, você não descarboniza: você empurra o problema para a etapa anterior e esconde a sujeira no porão da cadeia. Transição de verdade é sequência: primeiro eficiência, depois substituição onde é tecnicamente estável, e só então redução acelerada do que ficou para trás. Sem essa ordem, a conversa vira penitência energética para o cidadão e instabilidade para o sistema.
John Kerry pode e deve pressionar por metas. Mas não pode ficar apenas no discurso para jogar para a torcida, porque é exatamente essa a impressão que sobra quando a palavra é mais forte do que o plano. E essa impressão pesa ainda mais quando ela vem do país que mais consome eletricidade per capita entre as grandes economias. Pressão sem desenho vira risco sistêmico. Se a prioridade é clima, o pacote real inclui rede de transmissão, armazenamento onde fizer sentido, modernização industrial, pesquisa e, sim, debate adulto sobre nuclear e gás como base de estabilidade. Inclui também parar de tratar países pobres como se fossem apenas “emissões” e não gente tentando prosperar. Banir é fácil. Difícil é garantir energia confiável, barata e crescente enquanto se reduz carbono. Quem lidera não aponta o dedo para a tomada. Quem lidera mostra o projeto e assume o custo.
“É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado.” — Anthony Robbins
“Controle o seu destino ou alguém controlará.” — Jack Welch
“O preço é o que você paga; o valor é o que você leva.” — Warren Buffett
“Reserve um tempo para deliberar, mas quando chegar a hora de agir, pare de pensar e entre em ação.” — Napoleão Bonaparte
“A ciência é filha da verdade e não da autoridade.” — Nicolau Copérnico
787# Não confunda Força com Trabalho — 25/12/25
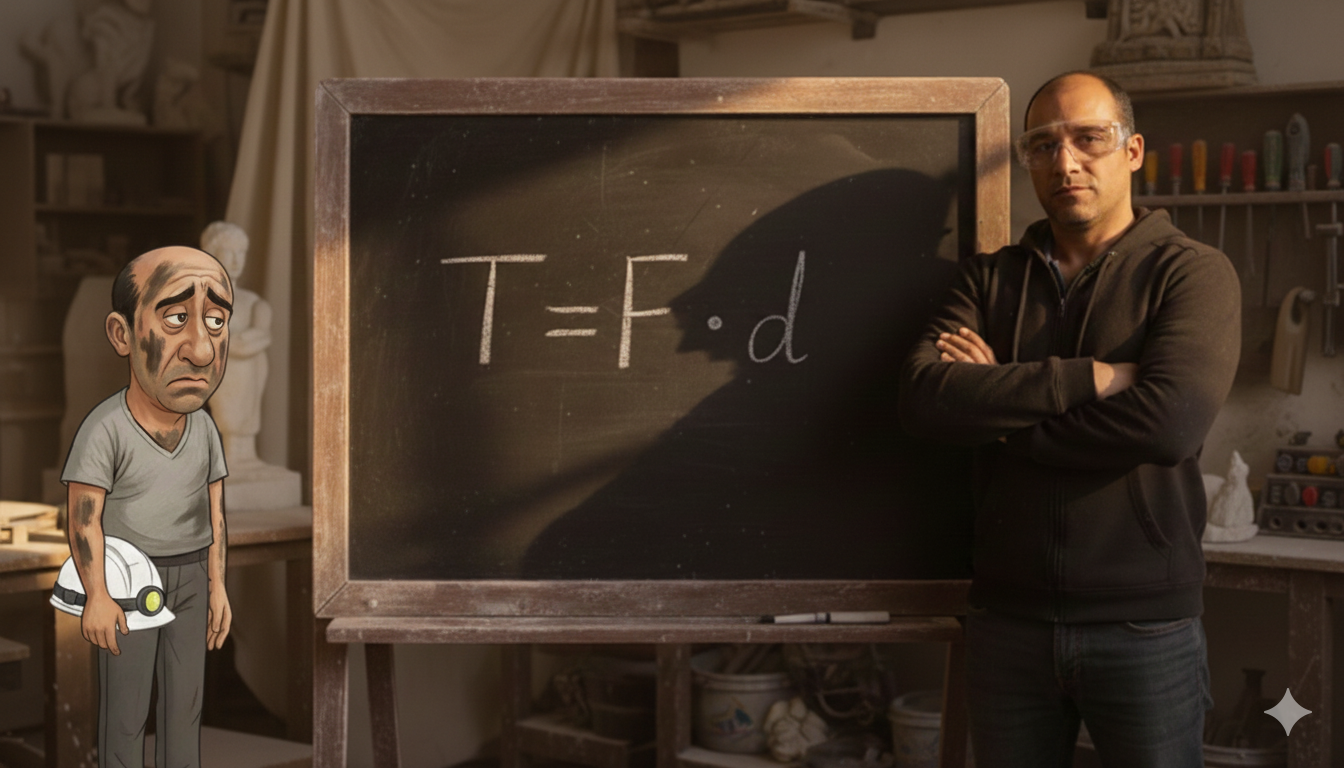
Existe uma confusão conceitual que destrói carreiras, engana gestores e sustenta a mediocridade travestida de virtude: acreditar que cansaço é sinônimo de entrega. Não é. E a Física, fria e imoral, resolve isso sem precisar de palestra motivacional, discurso inspirador ou tapinha nas costas.
Na definição clássica da Física, trabalho (T) é dado por:
T = F · d
onde F é a força aplicada e d é o deslocamento na direção dessa força. Sem deslocamento, o trabalho é nulo — por mais esforço que exista. Trabalho, no sentido técnico, só existe quando há deslocamento efetivo sob uma força aplicada. Todo o resto é suor emocional — barulhento, visível e, muitas vezes, inútil.
Vamos aos números, porque opinião sem cálculo é só barulho organizado. Dois homens executam a mesma tarefa: mover dez sacos de cimento de 50 kg. Mesma quantidade, mesmo material, mesmo “serviço” no papel — mas em obras distintas. O que muda é o método.
Ricardo sobe escadas com os sacos até um piso 10 metros acima. Oliveira utiliza um carrinho e um elevador para vencer um desnível muito maior, de 100 metros verticais. Aqui não há narrativa heroica, só Física básica — e a equação é sempre a mesma:
T = F · d = m · g · h
adotando g ≈ 9,81 m/s².
Ricardo levanta cada saco até o ombro, a uma altura média de 1,7 metro, repetindo isso dez vezes. Aplicando a equação:
T₁ = 50 kg × 9,81 m/s² × 1,7 m × 10 ≈ 8,3 kJ.
Em seguida, ele carrega os mesmos sacos pela escada até um piso 10 metros acima:
T₂ = 50 kg × 9,81 m/s² × 10 m × 10 ≈ 49,1 kJ.
O trabalho mecânico total associado à elevação dos sacos é:
T = T₁ + T₂ ≈ 57,4 kJ.
Agora vem o detalhe que desmonta a moral do “sofrimento”: praticamente toda essa energia foi fornecida diretamente pelo corpo humano, contra a gravidade, com baixíssima eficiência metabólica. Resultado? Exaustão visível, respiração curta e sensação subjetiva de dever cumprido — mesmo sem qualquer ganho adicional de resultado.
Oliveira, por outro lado, adota outra lógica. Ele levanta cada saco apenas 1 metro até o carrinho, dez vezes:
T₁ = 50 kg × 9,81 m/s² × 1 m × 10 ≈ 4,9 kJ.
O restante da elevação — 100 metros verticais — é realizado pelo elevador:
T₂ = 50 kg × 9,81 m/s² × 100 m × 10 ≈ 490,1 kJ.
O trabalho físico total contra a gravidade:
T ≈ 495 kJ.
A diferença não está no trabalho realizado, mas em quem fornece a energia e com que eficiência. O corpo humano converte energia química em trabalho mecânico com eficiência próxima de 20%. Motores elétricos operam acima de 80%. A Física não se impressiona com suor. Ela só contabiliza deslocamento.
E aqui mora a perversidade cultural: quem olha de fora tende a admirar Ricardo, não Oliveira. Porque confundimos sofrimento com mérito e barulho com progresso.
Essa lógica contaminou a capacidade de produzir mais. Está cheio de gente ocupada, exausta, sempre “correndo”, mas parada no mesmo lugar. Muito esforço horizontal, pouco deslocamento real. Força aplicada sem vetor útil. Energia dissipada. Calor.
Sistemas sérios não premiam quem se sacrifica mais, mas quem desloca resultados. Trabalho é aquilo que muda o estado do sistema. O resto é fadiga estética.
Se ao final do dia você está exausto, mas nada saiu do lugar, talvez não esteja trabalhando. Talvez esteja apenas fazendo força no lugar errado — e, se ainda não entendeu por que está mais cansado, basta olhar novamente para a equação: sem deslocamento útil, o trabalho é mínimo, por maior que seja o esforço.
E agora vem a pergunta que realmente importa: adivinha quem tem mais empregabilidade — Ricardo ou Oliveira? Se você entendeu o texto, já sabe quem.
“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein
“A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.” — Albert Einstein
“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith
“Não confunda movimento com progresso.” — John Wooden
“Atividade não é realização.” — Peter Drucker
788# Sempre dá a lógica - 25/12/25

Essa história é real. E ela segue uma lógica simples, previsível e ignorada.
Um evaporador operando a mil toneladas por dia, sistema sob vácuo, processo sensível a qualquer oscilação. O nível do último estágio — responsável por manter a vedação e permitir o transporte — deveria ser controlado continuamente. Mas naquele dia, passou a ser controlado… no olho.
Tudo começou com a queima do inversor de frequência da bomba. O equipamento que garantia controle fino, estabilidade e operação contínua simplesmente parou. O sistema perdeu o controle automático, mas não perdeu a pressão por produzir. E foi aí que nasceu o erro seguinte.
Decidiram operar mesmo assim. Sem inversor, passaram a ligar e desligar a bomba manualmente, observando o nível visualmente. Era para ser algo rápido, provisório, “só até resolver”. Mas o provisório não tinha prazo, nem limite técnico definido. Virou prática.
O motor da bomba — um motor grande, de 50 CV — continuou funcionando. Só que fora do projeto. Liga, desliga, liga de novo. Repetidas vezes, durante horas. Um tipo de esforço para o qual ele nunca foi projetado, mas que foi aceito como “necessário” para manter a planta rodando.
E aqui entra o detalhe que transforma erro em desastre: esse motor era uma mosca branca na planta. Não havia outro igual. Nenhum similar. Nenhuma troca rápida possível. Um ativo único, crítico, tratado como se fosse comum.
Enquanto isso, o inversor reserva estava queimado havia mais de um mês. Nunca substituído. Ou seja, quando o primeiro inversor falhou, a contingência já não existia. Mesmo assim, optou-se por seguir operando, como se a física aceitasse negociação.
Durante horas, o sistema trabalhou fora do equilíbrio. O nível oscilava, a vedação sofria, os componentes absorviam impactos invisíveis. Cada religamento acumulava desgaste. Nada parecia grave — até ser.
E então a lógica se impôs.
Depois de horas operando em liga e desliga, o motor de 50 CV queimou. A mosca branca caiu. E naquele instante, o que já estava ruim conseguiu ficar pior. Muito pior.
Porque até ali havia improviso. Depois disso, houve caos.
Sem inversor. Sem motor. Sem reserva. Sem alternativa. A planta parou não por decisão técnica, mas porque o limite físico foi atingido. E isso sempre acontece quando se insiste em operar fora do projeto.
Essa é uma regra básica da engenharia — e da vida: tudo que está ruim pode piorar. Especialmente quando se escolhe empurrar em vez de corrigir, insistir em vez de parar, torcer em vez de controlar.
O maior dano não foi a queima do motor. Foi o aprendizado errado. Quando a liderança aceita esse tipo de condução, ensina que improvisar é aceitável, que operar no limite é virtude e que parar com critério é fraqueza.
Não é.
Se a operação exige controle contínuo, ela exige redundância. Isso não é luxo. É obrigação. Equipamento reserva funcional, alternativas reais e maturidade técnica para reconhecer o momento de parar.
Sempre surge a desculpa: “se parar, o cliente reclama”. Mas cliente reclama muito mais de processo instável, produto comprometido e surpresa ruim. Parada bem explicada preserva confiança. Improviso prolongado destrói reputação.
Casos assim acontecem todos os dias. E se repetem porque há gestores que confundem resiliência com teimosia. Que preferem parecer fortes a serem responsáveis.
Quem lidera operação não é pago para evitar paradas. É pago para garantir processo.
E processo não se mantém no olho. Mantém-se com rigor.
“A paciência é amarga, mas seu fruto é doce.” — Aristóteles
789# Filho bonito todos querem! - 19/07/25

Você já viveu isso. Pegou um projeto encalhado, desacreditado, abandonado como tralha velha na fábrica. Assumiu porque ninguém mais queria. Porque dava trabalho, porque não tinha visibilidade, porque só prometia desgaste. Enquanto os outros se protegiam no discurso “não é minha alçada”, você se enfiou no meio do problema.
Passou semanas resolvendo o que ninguém quis entender. Reuniões vazias, orçamento zero, apoio nenhum. Tudo na unha. Reprojetando fluxo, limpando ruído de processo, corrigindo falhas que já estavam ali havia anos. Sem plateia, sem apoio político, sem crachá novo.
E quando a coisa finalmente começou a funcionar... apareceram os pais.
Gente que nunca dedicou um turno ao projeto, agora diz que “sempre esteve junto”. Chefe que não leu uma linha do plano começa a narrar bastidores. Colega que torceu contra aparece dando entrevista. E você? Vira rodapé.
É assim que funciona. No mundo real, mérito não é premiado — é disputado. Quem não documenta, some. Quem não narra, desaparece. Porque a regra não é “quem fez, leva”. A regra é: quem conta melhor, leva tudo.
Essa dinâmica é cruel — e antiga. O projeto que era feio demais para alguém assumir, quando dá certo, vira desfile de oportunista. Se você não tiver estratégia, vai assistir calado enquanto o palco é montado com gente que só chegou na hora da luz acesa.
E não é só falta de ética. É método. Gente que vive de carona. Espera o resultado alheio pra posar de peça-chave. Chega com discurso pronto, camisa limpa, sapato engraxado e história ensaiada. E o mais grave: esse tipo sobe. Porque sabe jogar o jogo que você se recusa a jogar.
Então, aqui vai o alerta. Você não precisa virar oportunista — mas precisa deixar de ser ingênuo. Registrar. Nomear. Aparecer nos momentos certos. Fazer o que poucos fazem: proteger o próprio suor.
E que isso fique claro: dividir conquista é justo — quando é com quem ralou junto. Quem pegou no problema desde o primeiro turno, quem apanhou no silêncio, quem teve nome envolvido quando tudo parecia fracasso. Esses merecem o palco. O resto, não.
Pai de ocasião só aparece pra colher. Não quer dividir nada. Quer brilhar. Quer aplauso fácil. Quer status sem calo. E não se engane: na primeira chance, pisa na sua cabeça. Não por maldade. Mas porque é do jogo. E ele joga pra vencer — nem que seja te esmagando.
“Não é quem trabalha mais que vence. É quem mostra o trabalho certo na hora certa.” — Ray Kroc
790# Escolha vender lenços - 30/12/24

Existe uma romantização perigosa sobre talento, estudo e preparo prévio. Como se o mundo fosse um tabuleiro justo, onde quem acumula mais qualificações sempre avança mais casas. A realidade raramente funciona assim. Às vezes, o empurrão decisivo não vem do conforto, mas da falta absoluta dele. A história que ouvi e que adapto aqui é um soco elegante nessa crença bem-comportada que tantos insistem em defender.
Imagine chegar a um novo país logo após uma guerra que destruiu tudo o que você conhecia. Família dilacerada, raízes arrancadas, idioma estranho, nenhum recurso além do próprio corpo. Foi assim que um jovem polonês desembarcou nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Na Polônia, ele era ajudante de rabino. Seu plano inicial era simples: continuar fazendo o que sempre fez. Mas havia um detalhe inconveniente — ele não sabia ler nem escrever. Algo quase impensável entre judeus, já que o Bar Mitzvah exige leitura da Torá. Resultado? Portas fechadas, uma após a outra. Sem piedade, sem explicação longa. Apenas “não”.
Sem emprego, sem estudo formal e sem qualquer rede de proteção, sobrou o que a vida sempre oferece a quem perde tudo: escolha. Chorar ou agir. Ele escolheu agir. Começou pequeno, quase invisível. Comprava frutas, legumes e roupas onde eram baratos e revendia onde eram escassos. Nada glamouroso. Nada épico. Apenas atenção ao preço, ao fluxo e à demanda. Enquanto muitos esperariam a oportunidade ideal, ele fabricou a possível.
O que era uma banquinha virou uma loja. Depois duas. Depois cinco. Com o tempo, aquilo se transformou em uma empresa relevante, sólida, grande demais para ser ignorada. Décadas depois, já idoso, decidiu vender o negócio por um valor bilionário. Durante a assinatura do contrato, o comprador percebeu a caligrafia estranha, quase infantil, e comentou. O vendedor explicou que havia aprendido a ler e escrever há pouco tempo e contou sua história desde a chegada ao país.
O comprador, admirado, não resistiu ao comentário:
“Se o senhor foi analfabeto por tantos anos, imagino onde teria chegado se tivesse estudado desde jovem.”
A resposta veio sem amargura, sem revanche, apenas lucidez:
“Eu sei exatamente onde estaria. Ainda seria ajudante do rabino.”
Essa história não é sobre desprezar estudo. É sobre entender que a ausência dele, em certos contextos, força uma ruptura que o conforto jamais provocaria. A dificuldade elimina rotas óbvias e obriga a criatividade prática. Quando não existe plano B, o plano A amadurece rápido ou morre.
A vida, no fim, apresenta sempre o mesmo dilema: quando tudo aperta, você pode sentar no chão e chorar… ou levantar e vender lenços. Dor existe para todos. O que muda é o uso que cada um faz dela.
Agora, a pergunta incômoda: o que você tem feito com as dificuldades que a vida colocou no seu caminho?
Se estiver apenas chorando… pare. Ainda dá tempo de montar a barraca.
“O homem que move montanhas começou carregando pequenas pedras.” — Confúcio
“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith
“Sucesso é fazer coisas comuns de forma extraordinária.” — Jim Rohn
“Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele.” — Henry Ford
“O ponto de partida de qualquer realização é o desejo.” — Napoleon Hill
791# O Maldito Pintor de Alvos - 11/07/25

Existe dentro das empresas um tipo de personagem que jamais deveria circular próximo de decisões relevantes. Não porque lhe falte opinião — pelo contrário, ele transborda opinião — mas porque lhe falta risco. É o profissional que só aparece quando o jogo acaba, quando o placar já está definido, quando o erro já custou dinheiro, gente e tempo. Seu talento não está em decidir, mas em narrar. Não constrói caminhos, mas descreve trilhas depois que alguém já sangrou nelas. Se fosse honesto, estaria em um laboratório de comportamento humano, sendo estudado como um caso clássico de autoestima inflada com completa evasão de responsabilidade prática.
Esse sujeito domina uma arte específica: pintar o alvo depois que a flecha já foi disparada. Ele nunca esteve no alinhamento, não validou premissas, não discutiu cenário, não assinou risco. Mas surge, pontual e vaidoso, no pós-fato, com frases lapidadas e ar professoral. “Eu já imaginava”, “era previsível”, “faltou visão”. Sempre no pretérito perfeito, nunca no presente incômodo. Seu conforto nasce exatamente da ausência de compromisso. Ele não erra porque nunca tenta. E, por isso mesmo, nunca aprende.
O problema não é a existência desse perfil — toda organização tem figurantes. O problema é a tolerância. Pior: o prêmio. Em muitos ambientes, esse comportamento é confundido com inteligência. A retórica vira atalho de status. O silêncio na hora da decisão é lido como prudência; a crítica tardia, como lucidez. Assim se constrói um ecossistema onde errar tentando vira pecado, mas narrar o erro alheio vira virtude. O resultado é previsível: ninguém assume nada, todos opinam sobre tudo, e o aprendizado coletivo é sabotado em nome da vaidade individual.
Esse profissional não se suja. Não entra na batalha, mas se coloca como autoridade no necrotério. Analisa o corpo ainda quente e explica, com didatismo cínico, onde foi a falha. O impacto vai além do ego: esse comportamento destrói confiança, paralisa equipes e ensina a lição errada. A mensagem implícita é clara — agir é perigoso; comentar é seguro. Com o tempo, a organização vira um teatro de especialistas em retrospectiva, incapaz de avançar porque ninguém aceita pagar o preço da decisão.
Observe o padrão: vive de frases que não resolvem nada, metáforas vazias e diagnósticos óbvios. Nunca apresenta alternativa concreta antes do fato, apenas repertório depois do estrago. E o mais perverso: muitas vezes sobe. É promovido. Porque fala bem, porque parece inteligente, porque nunca erra publicamente. Só que também nunca acerta. Esse perfil não constrói nada, mas mina quase tudo. Corrói a coragem alheia e transforma a inação em estratégia pessoal.
Se você lidera e reconhece esse tipo, faça duas perguntas simples: essa pessoa assume risco quando importa? E o que ela construiu além de narrativas? Se a resposta for vazia, o problema não é dela. É de quem a mantém por perto. Porque tolerar o pintor de alvos é ensinar que o erro mais seguro é nunca decidir. E organizações que premiam isso não fracassam por falta de talento — fracassam por excesso de covardia disfarçada de inteligência.
“É muito mais fácil ser crítico do que estar correto.” — Benjamin Disraeli
“A crítica é a arma dos covardes intelectuais.” — Osvandré Lech
“As pessoas mais perigosas são aquelas que observam sem agir.” — Mario Henrique Meireles
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
“O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento.” — Stephen Hawking
“Errar tentando vale mais que narrar o fracasso alheio.” — RXO
792# Um investimento trilionário: 15,7% ao mês por 14 anos - 15/01/25

Imagine a seguinte oferta: um “investimento” com retorno médio de 15,7% ao mês por 14 anos consecutivos, acumulando mais de 11 trilhões por cento ao longo do período. Fascinante? Só que, nesse caso, o "trilhão" não significa riqueza, mas inflação acumulada no Brasil entre 1980 e 1994 (https://lnkd.in/eb9V8WKZ).
Durante a chamada "Década Perdida", o descontrole monetário transformou o cotidiano em um jogo cruel. Salários desvalorizavam antes mesmo de serem gastos, e itens básicos podiam ter seus preços alterados ao longo do dia. Comprar pão tornou-se um exercício estratégico, enquanto guardar dinheiro era um luxo perigoso.
De acordo com a Escola Austríaca de Economia (https://lnkd.in/e_m3AY8e), inflação não é apenas um aumento de preços, mas o reflexo de uma expansão monetária sem lastro produtivo. O Brasil viveu esse fenômeno intensamente, e o resultado foi uma desestruturação econômica que obrigou famílias a improvisar para sobreviver, enquanto o Estado acumulava prejuízos sociais incalculáveis.
O Plano Real, implementado em 1994, foi o antídoto para esse cenário. A inflação foi reduzida drasticamente para uma média mensal de 1,15% entre 1994 e 2024 (https://lnkd.in/eb9V8WKZ). Embora muito abaixo dos números catastróficos anteriores, ela continua sendo um lembrete constante de que estabilidade econômica exige vigilância e escolhas responsáveis.
Mas a pergunta permanece: você aceitaria um “investimento” com 15,7% de retorno ao mês? Quando o preço a ser pago é a corrosão do poder de compra e a desestabilização da economia, a resposta é um sonoro “não”. Infelizmente, ainda vemos exemplos de países que insistem investir nisso, como Venezuela, Argentina, Zimbábue e Turquia.
A inflação, afinal, não é um fenômeno natural ou inevitável. Ela é uma escolha, consciente ou negligente, que resulta do desequilíbrio entre oferta monetária e produtividade. Aprendemos isso da maneira mais difícil. Resta torcer para que nossos governantes mantenham o aprendizado vivo, porque estabilidade econômica é o único investimento que vale a pena.
“A inflação é tão violenta quanto um assaltante, tão assustadora quanto um ladrão armado e tão mortal quanto um assassino.” — Ronald Reagan
793# A Ignorância é uma Benção - 17/02/25

Nos anos 80, eu era feliz e não sabia. O mundo tinha suas dores, mas eu não as enxergava. A inflação galopava, os preços dobravam de um dia para o outro, mas eu acreditava que o congelamento resolveria tudo. Ingenuidade boa, reconfortante. O governo anunciava tabelamentos, os fiscais do Sarney apareciam nos supermercados, e eu dormia tranquilo, certo de que, dessa vez, tudo ia melhorar. Mal sabia eu que, por trás daquela ilusão, o desastre já estava à espreita.
Viajava de carro sem cinto, e isso não era descuido, era simplesmente normal. Andávamos de bicicleta sem capacete, brincávamos na rua até tarde sem que ninguém surtasse com isso. Nossos pais não nos rastreavam pelo celular – até porque não existia e nem precisava. O mundo parecia seguro, não porque de fato era, mas porque a gente não conhecia todos os riscos.
A TV era nossa janela para o mundo, e nela tudo parecia mais simples. O Jornal Nacional começava e terminava sem que eu me preocupasse com o que era dito. Ditadura? Redemocratização? Planos econômicos? Só palavras distantes. Eu acreditava que os adultos tinham tudo sob controle e que, no fim, tudo ficaria bem. Hoje, com tanta informação ao alcance de um clique, percebo que aqueles mesmos adultos estavam tão perdidos quanto a gente.
Na escola, diziam que o Brasil era o país do futuro. Os professores, os livros, os políticos, todos repetiam essa ideia. A Seleção de 82 jogava como nunca, o Rock in Rio nos colocava no mapa, a TV nos vendia sonhos em novelas e comerciais coloridos. O tempo parecia andar devagar, sem a ansiedade de hoje. As cartas levavam dias para chegar, e ninguém se importava – esperar fazia parte da vida.
Eu era feliz com um refrigerante na garrafa de vidro, uma bola endiabrada “dente de leite” e uma ficha de fliperama. O mundo tinha menos opções, e talvez por isso, menos angústias. Não havia redes sociais para me lembrar do que eu não tinha, do que eu não era, do que eu deveria desejar.
Mas então crescemos. Aprendemos. Descobrimos que a política sempre foi suja, que os fiscais do Sarney eram um bando de palhaços desinformados, que os congelamentos não funcionavam, que o Brasil nunca foi exatamente o país do futuro. Que os adultos, no fundo, também não sabiam o que estavam fazendo. E junto com esse conhecimento veio o peso.
Hoje, não dá mais para acreditar em soluções fáceis. Sabemos que todo benefício tem um custo, que toda promessa política esconde um imposto futuro, que o progresso sempre cobra seu preço. A internet nos permite saber de tudo em tempo real – e, ironicamente, isso só nos faz sentir ainda mais impotentes.
Antes, a vida parecia grande, e os problemas, pequenos. Agora, o mundo é pequeno, e os problemas são gigantes. O que ganhamos em informação, perdemos em leveza. Talvez, no fim, a ignorância fosse mesmo uma bênção...
...e sinto saudades disso!
“O conhecimento traz poder, mas também traz sofrimento.” — Sócrates
794# iPhone agora dá em árvores – 22/02/26

vídeo original que gerou a discussão: https://lnkd.in/eHatUa2e
A internet tem um talento raro: transformar ignorância em manchete. Não é qualquer erro; é o erro confiante, espalhado com convicção moral. O caso da vez é a ideia de que um iPhone custa 10 dólares para ser produzido. Dez. O valor de um lanche. A afirmação corre solta como se fosse uma revelação proibida, dessas que “o sistema não quer que você saiba”. E, curiosamente, quanto mais absurda a tese, mais engajamento ela gera. É o triunfo da simplificação preguiçosa sobre a realidade complexa.
Esse tipo de afirmação só se sustenta quando se ignora, de forma quase militante, tudo o que existe entre o minério bruto e o produto final. Um iPhone não nasce. Ele é construído por uma cadeia global de engenharia, materiais, logística, pesquisa e capital intelectual. Só a tela OLED custa mais do que o “mito inteiro”. Some-se processador, sensores, câmeras, bateria, estrutura metálica, testes, montagem, transporte, impostos, desenvolvimento de software, patentes e anos de pesquisa que nunca chegam ao consumidor em forma de linha visível. Mas nada disso cabe num post indignado de rede social.
Se fosse verdade que custa 10 dólares fabricar um iPhone, o mercado já teria corrigido isso há anos. Bastaria um concorrente lançar algo idêntico por 20 dólares e varrer o setor. O fato de isso não acontecer não é conspiração: é economia básica. O preço não surge do nada; ele é consequência de decisões técnicas, risco assumido, investimento acumulado e eficiência produtiva. Ignorar isso não é crítica ao capitalismo. É desconhecimento operacional.
O mais revelador não é o erro em si, mas a reação quando alguém tenta corrigi-lo. Explicar vira provocação. Dado vira ofensa. Quem apresenta números passa a ser rotulado como cúmplice, vendido ou alienado. Não existe curiosidade, apenas defesa do próprio delírio. A ignorância moderna não é silenciosa; ela exige aplauso. E exige respeito. É o orgulho de não saber, travestido de rebeldia intelectual.
Essa lógica infantil não fica restrita à tecnologia. Ela contamina debates econômicos, decisões públicas e até escolhas pessoais. Tudo passa a ser visto como exploração simples, nunca como sistemas complexos. Se algo é caro, alguém está “roubando”. Se algo falha, é “má intenção”. Pensar dá trabalho. Repetir slogans não. Por isso a mentira confortável sempre vence a verdade trabalhosa no curto prazo.
O problema é que essa mentalidade cobra juros. Quando se normaliza a opinião sem lastro, abre-se espaço para decisões ruins, políticas mal desenhadas e expectativas irreais. O mundo real não opera por indignação, mas por custo, risco e execução. Produtos não brotam em árvores. Eles nascem de cadeias longas, caras e imperfeitas. Negar isso não barateia nada — apenas empobrece o debate.
No fim, não é sobre defender empresa nenhuma. É sobre defender a realidade contra a caricatura. Porque enquanto houver gente acreditando que tecnologia nasce do nada, sempre haverá alguém pronto para vender mentira embrulhada de virtude. E isso, sim, sai caro para todos.
“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein
“A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição.” — Adam Smith
“Você não é pago pelo que sabe. É pago pelo valor que entrega.” — Jim Rohn
“Encare a realidade como ela é, não como você deseja que ela seja.” — Jack Welch
795# Ambição não é ruim! - 20/06/25

Ambição. No Brasil, é quase uma ofensa. Se você disser “sou uma pessoa ambiciosa”, prepare-se para olhares tortos, desconfiança e, com sorte, um comentário sutil como “ah, mas tudo tem limite, né?”. No nosso vocabulário cotidiano, ambição foi empurrada para o mesmo armário escuro onde escondemos palavras como “ganância”, “egoísmo” e “traição”. E o mais curioso: essa rejeição não é universal. Convivendo com colombianos nos últimos quatro anos, percebo que ali também existe um certo desconforto com a palavra, mas menos intenso, menos visceral do que no Brasil. Já entre anglo-saxões — americanos, ingleses, alemães — a ambição é celebrada. É virtude. É combustível da meritocracia. É o motor invisível do progresso.
Por que, então, nós brasileiros sentimos quase vergonha em desejar crescer? Por que confundimos ambição com ganância? E mais importante: quem se beneficia disso?
A raiz do problema começa onde começa quase tudo em nosso país: na linguagem. O Brasil é um país com vocabulário limitado e, mais grave, mal usado. Nossa formação escolar não valoriza o pensamento crítico nem o domínio do léxico. Com isso, palavras ganham sentidos deformados. Ambição virou sinônimo de ganância — como se querer mais, melhorar, subir na vida, fosse automaticamente ultrapassar os limites éticos.
Mas isso não é sem intenção. Confundir ambição com ganância é uma maneira eficiente de manter as pessoas em seu lugar. O discurso que diz “não queira muito” é o mesmo que alimenta a manutenção da desigualdade. É a forma mais polida de dizer: “contentem-se com pouco”.
Esse receio cultural pela ambição tem raízes profundas. E uma das mais fortes é a influência da Igreja Católica. Por séculos, pregou-se a humildade como virtude suprema — não a humildade da empatia ou do respeito, mas aquela que beira o apagamento pessoal. O “ser servo”, o “sofrer em silêncio”, o “esperar recompensa no céu”. A ambição, nesse contexto, era heresia. Querer mais do que se tem era ofensa aos planos divinos. Desejar ascensão era soberba.
Essa moralidade moldou o inconsciente coletivo do brasileiro. Enquanto em países protestantes o sucesso material era visto como sinal de bênção divina, aqui ele soava como pecado. Crescemos, assim, em uma cultura que moraliza a escassez e demoniza o desejo de progresso.
Nas últimas décadas, o Brasil flertou com modelos políticos que operam como mecanismos de controle comportamental. Nesse ambiente, a ambição vira ameaça. O ambicioso questiona, move-se, rompe inércias. Não espera permissão, não aceita a fila, não se conforma com o pouco. Por isso, passou a ser rotulado como egoísta, insensível, elitista. Igualdade foi confundida com nivelamento, e qualquer tentativa de diferenciação individual virou pecado social.
O resultado é uma sociedade treinada para conter seus desejos, para não se destacar, para não “parecer melhor do que ninguém”. Uma sociedade que paga caro por confundir virtude com resignação.
Em países anglo-saxões, a lógica é outra. Nos Estados Unidos, declarar-se ambicioso é quase obrigatório em entrevistas de emprego. Na Alemanha, quem entrega mais, cresce mais. Na Inglaterra, ambição é sinônimo de visão, coragem e autoconfiança. O entendimento é simples: a ambição, quando canalizada, eleva o coletivo. Um profissional ambicioso puxa o time. Um empresário ambicioso movimenta a economia. Um pesquisador ambicioso expande o conhecimento.
O problema nunca foi a ambição. O problema é a ausência de limites. E limites não se constroem com repressão social, mas com caráter.
Quando a ambição é tratada como vício, o que sobra é conformismo. E o conformismo é terreno fértil para a manutenção do status quo. Uma população que não sonha alto, que não se vê merecedora de mais, é mais fácil de governar, explorar e calar. Ao dizer “não queira muito”, o sistema garante que poucos continuem com muito, enquanto muitos aceitam ter pouco como se fosse escolha.
Precisamos ressignificar a ambição. Discuti-la nas escolas, nas empresas e dentro de casa. Mostrar que ela não é antônimo de ética, empatia ou justiça. Ambição é o que nos tira da inércia, transforma talento em entrega e desejo em realização. Sem ela, não há inovação, não há mudança, não há futuro.
Não se trata de idolatrar riqueza ou status, mas de permitir que cada pessoa busque sua plenitude — emocional, intelectual, espiritual ou material — sem medo do julgamento moral alheio.
O problema não é ambição demais. É ambição de menos. É termos uma sociedade inteira domesticada a celebrar o mediano, a temer o sucesso e a invejar quem ousa buscar mais. Enquanto isso, países que abraçam a ambição seguem construindo empresas, ciência, arte e influência global. Nós seguimos pedindo desculpas por querer melhorar de vida.
Está na hora de parar de ter vergonha da nossa fome. E começar a alimentá-la com coragem, clareza e propósito.
“A ambição é o caminho do sucesso; a persistência é o veículo em que se chega lá.” — Bill Bradley
“A única coisa entre você e seu sonho é a vontade de tentar e a crença de que é realmente possível.” — Joel Brown
“Não há paixão em viver pequeno — em se conformar com uma vida que é menor do que aquela que você é capaz de viver.” — Nelson Mandela
“Pense grande e não escute as pessoas que dizem que não dá para fazer. A vida é curta demais para pensar pequeno.” — Tim Ferriss
“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.” — Eleanor Roosevelt
796# A gambiarra matou um ídolo… imagina você! - 20/06/25

Ayrton Senna não morreu em um acidente. Essa frase causa desconforto imediato porque desmonta a narrativa confortável da fatalidade. Acidentes aliviam a consciência coletiva; decisões erradas expõem responsáveis. O que aconteceu em Ímola, naquele domingo de 1994, não foi um evento aleatório, mas o resultado previsível de uma cadeia de escolhas ruins, toleradas em nome da pressa, da performance imediata e da arrogância técnica. Foi a falência de processos, de engenharia, de liderança e, acima de tudo, de cultura de excelência. E se você lidera uma empresa, um time ou um projeto crítico, essa história não é sobre Fórmula 1. É sobre você.
Quando uma organização começa a tolerar improvisos no que é essencial, o risco deixa de ser exceção. Ele vira método. E método repetido vira cultura. É assim que sistemas sofisticados começam a falhar sem que ninguém perceba: não com um grande erro, mas com pequenas concessões diárias, todas “justificáveis”, todas “temporárias”, todas empurradas para frente como se o futuro fosse sempre mais tolerante que o presente.
Senna era obcecado por performance, mas mais ainda por controle. Logo nos primeiros treinos em Ímola, reclamou da posição da barra de direção. Estava alta demais. O pedido era simples na forma, mas complexo na execução: baixar a barra exigia engenharia de precisão, recalcular esforços, refazer peça. Não era ajuste estético, era estrutural. O tipo de problema que pede tempo, método e responsabilidade técnica.
O que ele recebeu? Uma solda. A barra original foi serrada e emendada. Um remendo. Um “funciona por enquanto”. Isso não foi feito em um carro qualquer. Foi feito em uma das máquinas mais rápidas, caras e tecnológicas do planeta, operando no limite físico de materiais e forças. Resolveram no alicate o que exigia engenharia. Improviso de milhões. Um volante que parecia novo, mas escondia uma falha estrutural crítica.
O mais grave não é apenas a gambiarra em si, mas o silêncio que a acompanhou. Senna testou o carro, achou a posição melhor e foi para a corrida sem saber o que havia por trás daquela solução. Confiou no sistema. Confiou na equipe. E essa confiança foi traída.
Na curva Tamburello, uma das mais rápidas do circuito, a peça se partiu. O carro seguiu em linha reta. Não houve tempo de reação. A mais de 200 km/h, Senna bateu. E morreu.
A gambiarra, porém, não estava sozinha. Ela era apenas o último elo de uma cadeia de decisões ruins. Nos anos anteriores, a Williams dominou a Fórmula 1 com uma tecnologia avançada: a suspensão ativa. Um sistema que ajustava o carro em tempo real, mantendo estabilidade absoluta. Era como dar ao carro um cérebro, uma capacidade de antecipar e corrigir comportamentos antes que o piloto precisasse reagir.
Em 1994, a tecnologia foi proibida. O problema não foi a proibição em si, mas o fato de o carro já ter sido concebido para operar com essa inteligência embarcada. Quando retiraram o sistema, o projeto perdeu sua base lógica. O FW16 ficou instável, arisco, imprevisível. Um carro desenhado para ser inteligente passou a depender de reflexos humanos para compensar falhas estruturais.
Senna percebeu isso desde o início da temporada. Reclamou. Alertou. Disse que o carro era difícil de guiar, nervoso, inseguro. Pediram, então, que o melhor piloto do mundo compensasse, com talento, o que a engenharia não entregava mais. Genialidade virou muleta de projeto mal resolvido.
Some-se a isso a barra de direção remendada. Quando ela rompeu, tudo colapsou. Mas a tragédia começou bem antes da curva, quando decidiram que dava para seguir sem o cérebro do carro e com uma solução improvisada sustentando o volante.
Você pode achar que essa história pertence ao automobilismo. Não pertence. Basta trocar os nomes. Barra de direção vira um sistema crítico mal mantido. Suspensão ativa vira um processo-chave desativado por custo. Senna vira o cliente, o operador, o colaborador exposto. Tamburello vira aquele ponto do negócio onde não há margem para erro.
Quantas vezes sua empresa já entregou algo “meio pronto”? Quantas vezes decidiu rodar com um desvio conhecido? Quantas vezes alguém disse “dá pra ir assim mesmo”? O sistema aguenta. Aguenta até o dia em que não aguenta mais. E quando falha, falha em alta velocidade.
O que matou Senna não foi apenas a peça quebrada. Foi a cadeia de decisões. A soma de pequenas concessões feitas por pressa, pressão ou descuido. A cultura que preferiu maquiar sintomas em vez de corrigir causas. Essa mesma cultura aparece quando um software é lançado sem testes completos, quando um equipamento opera além do limite, quando alertas são ignorados e quando erros viram rotina.
Excelência não aceita o “quase”. Não aceita o “por enquanto”. Não aceita o “ninguém vai perceber”. Quando você abre espaço para improviso no que é essencial, não está ganhando tempo. Está apenas empurrando um risco que, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar com juros.
Na sua empresa, qual é a barra de direção? Aquela peça que todo mundo sabe que está errada, mas ninguém quer parar para corrigir? E qual é sua Tamburello? A curva onde, se tudo não estiver 100% certo, não há espaço para improviso?
Uma gambiarra matou um ídolo. Isso deveria bastar.
“Integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando.” — C. S. Lewis
“Excelência não é um ato, é um hábito.” — Aristóteles
“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith
“Você se torna aquilo que tolera.” — Danilo Barba
“O sucesso real é construído quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso.” — Jim Rohn
797# Livro sobre Liderados - 11/02/25

Todo mundo quer falar de liderança. São milhares de livros, treinamentos, palestras, lives e gurus ensinando como ser um bom líder, como tomar decisões estratégicas, inspirar pessoas, conduzir equipes. Mas há uma lacuna gritante nessa avalanche de conteúdo: quase ninguém fala dos liderados. A engrenagem que move a máquina, a base silenciosa do sucesso, a parte mais subestimada da equação.
A ausência desse olhar não é inocente — é sintomática. O foco exclusivo na figura do líder cria uma distorção perigosa: transforma o sucesso organizacional em uma jornada solitária, onde tudo depende de uma única cabeça pensante no topo da pirâmide. Isso além de ser falso, é desonesto. Nenhuma organização prospera com liderança brilhante e base fraca.
Enquanto continuarmos tratando os liderados como figurantes de luxo — ou pior, como massa de manobra — não haverá liderança real. Porque o líder só lidera quem o reconhece como tal. Autoridade imposta é teatro. Autoridade legitimada é construção. E essa construção depende de uma equipe que compreende, se engaja, se compromete — e, acima de tudo, é reconhecida.
Um bom liderado não é quem apenas segue ordens. É quem traduz, adapta, executa e melhora. É quem transforma uma instrução vaga em entrega relevante. É quem sustenta a cultura quando a liderança falha. É quem age quando a dúvida paralisa o topo. Sem esses profissionais, nenhuma liderança se sustenta — por mais carismática que seja.
Chegou a hora de inverter o foco. Ou melhor: de equilibrá-lo. Liderança só faz sentido se houver algo a liderar. E essa “coisa” se chama equipe. Gente real, com ideias, medos, talentos e limitações. Gente que merece mais do que reconhecimento pontual em reuniões trimestrais ou menções genéricas em e-mails motivacionais. Gente que merece voz — não só tarefa.
“A melhor maneira de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros.” — Mahatma Gandhi
“Liderança é fazer com que as pessoas que você lidera se tornem melhores do que você.” — Jack Welch
“Trate um homem como ele é e ele continuará sendo. Trate-o como ele pode ser e ele se tornará.” — Johann Goethe
“O talento vence jogos, mas o trabalho em equipe vence campeonatos.” — Michael Jordan
“Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo.” — Provérbio africano
798# QI"diota" - 24/05/23

O teste de QI foi criado em 1905 para avaliar a inteligência infantil, visando melhorar o desempenho escolar. Tornou-se popular e logo desenvolveram uma versão para adultos, usando um método estatístico como referência.
Aproximadamente 67% da população tem QI entre 85 e 115. Há 2,5% com QI acima de 130 (superdotados) e 2,5% abaixo de 75 (QI do Forrest Gump, ou simplesmente subdotados). Apesar das controvérsias sobre o teste, há uma correlação que pode ser usada como métrica.
Pesquisando sobre QI (https://lnkd.in/ezFKf3KB):
- Hong Kong, Coreia do Sul, Cingapura, China, Taiwan: QI 104-106
- EUA, Canadá: QI 97-100
- Finlândia, Suíça, Holanda, Bélgica, Reino Unido: QI 99-101
- Austrália, Nova Zelândia: QI 99
- Argentina, Uruguai, Chile: QI 87-89
- BRASIL: QI 83
Comparando Brasil e China, temos em uma distribuição normal com desvio padrão de 15 e +/- 3 sigmas o seguinte cenário:
"QI Forrest Gump" (<75): Brasil: 29,7% // China: 2,7%
Faixa normal (QI 85-115): Brasil: 43,1% // China: 66,5%
Superdotados (>130): Brasil: 0,1% // China: 4,2%
Temos quase 300 vezes mais subdotados do que superdotados.
A China tem 1,5 vezes mais superdotados em relação aos subdotados.
Tem como melhorar isso? Claro. Mas não com fórmulas simplórias, nem com discursos melosos sobre “educação como solução”. Primeiro, é necessário reconhecer que estamos em um patamar crítico — mesmo quando comparados a países pobres.
Segundo, abandonar de vez a ilusão da “bala de prata”. Engana-se quem acredita que aumentar horas-aula ou despejar mais verba na Educação sem critério técnico resolverá o problema. O buraco é mais profundo. E ele fede.
Veja as causas ignoradas, mas bem documentadas mundo afora:
- Saneamento: 100 milhões de brasileiros vivem sem rede de esgoto. O impacto disso na cognição infantil está estabelecido há décadas. Infecções intestinais recorrentes sabotam o cérebro em formação.
- Nutrição: 16 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. Segundo a UNICEF (2022), a fome e a deficiência nutricional são inimigas diretas da inteligência. E inteligência não cresce no vazio calórico.
- Leitura: Pedir hábito de leitura a quem não tem nem onde “c*gar” é mais que elitismo. É alienação. É esperar foco onde só há sobrevivência.
- Esporte e música: Nos países com QI alto, essas áreas são estruturadas desde cedo. Aqui, são chamadas de “atividades extracurriculares” — e tratadas como luxo.
- Violência: Um país que lidera o ranking mundial de homicídios infantis está afundado em estresse crônico. A neurociência é clara: estresse em excesso mata conexões sinápticas. E sem sinapses, não há raciocínio.
Podemos continuar normalizando esse ciclo ou enfrentá-lo com seriedade. Mas enquanto fingirmos que nosso atraso cognitivo é um detalhe, vamos continuar escolhendo líderes que refletem esse mesmo atraso. Basta ver como falam, pensam, escapam de perguntas e travam quando confrontados em arenas internacionais. Eles são o espelho do QI 83. E esse número, por mais incômodo que seja, revela não só onde estamos — mas para onde estamos indo.
“O analfabetismo não é só uma deficiência de leitura. É uma deficiência de cidadania.” — Mario Sergio Cortella
“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” — Albert Einstein
“Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância.” — Derek Bok
“O cérebro é como um músculo: precisa de estímulo ou atrofia.” — Carl Sagan
“A maior desigualdade é aquela que começa no berço.” — James Heckman
799# Eu nasci há 10 mil anos atrás 🎵

Sempre me senti assim por testemunhar eventos muito marcantes como a queda do Muro de Berlim, os voos e acidentes dos ônibus espaciais, as catástrofes nucleares de Chernobyl e Fukushima, o "11 de Setembro", a Pandemia da Covid e recentemente encontro-me na era do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas o que verdadeiramente me faz sentir-se "especial", é o que vi de evolução tecnológica desde meu nascimento na década de 70: Computadores, Internet, Telefone Celular e Smartphone, Redes Sociais, Clonagem, Bitcoin e Inteligência Artificial. São realmente grandes invenções e com impactos na comunicação, divertimento, aprendizado, trabalho, relacionamento, economia e informação.
Mas, depois que visitei dois museus na Alemanha eu "baixei minha bolinha"!
Visitei o Museu de Tecnologia de Munique e o Museu Mercedes-Benz em Stuttgart. Percebi de imediato que minha geração não é a única que vivenciou um salto em termos de progresso. A maneira cronológica como isso é mostrado é muito interessante, o que me fez imaginar como o cidadão, que chamarei de RXO, nascido na Europa em 1850 e analfabeto foi impactado.
- RXO presenciou a invenção do motor de combustão interna em 1886. Esse motor compacto, diferente do motor a vapor, evoluiu rapidamente e foi adaptado para diversos modais. Em menos de 30 anos já transportava pessoas, equipamentos, produtos, alem de ser protagonista em batalhas por terra, mar e ar. Um dia RXO tomava cuidado para não pisar em b*sta de cavalo, e agora está com medo de ser atropelado por uma caixa de metal barulhenta, com rodas e muito rápida!!
- RXO também curou-se de doenças com a ajuda da penicilina e usou raio-X para diagnosticar ossos quebrados, sem a necessidade de ser cortado por um médico.
- Enquanto o plástico começava a substituir muitos objetos de madeira, RXO ouvia as novidades em uma caixa chamada rádio e, quando adolescente, ouvia gravações do LP na vitrola. As lâmpadas incandescentes começaram a iluminar as ruas, lentamente substituindo o cheiro de querosene que os pais de RXO haviam conhecido durante toda a vida, e graças a Alexander Graham Bell, RXO foi capaz também de falar com a própria voz para pessoas distantes usando um dispositivo chamado telefone, substituindo os complicados códigos Morse do telégrafo.
RXO viveu bastante e com seus quase 100 anos, viu o submarino, ouviu sobre o naufrágio do Titanic, e nesse mesmo rádio, as notícias sobre as bombas nucleares lançadas no Japão, e apesar de não entender nada sobre isso, sabia que era um negócio que podia acabar com o mundo em horas.
RXO morreu com 100 anos! Um pouco antes de poder ter uma TV, mas já sabia que uma caixa podia transmitir imagem e som igual o cinematógrafo, só que em tela menor.
Eu poderia dizer que esse RXO sim nasceu há 10 mil anos atrás... porque a geração dele foi impactada de uma maneira muito mais forte e sem precedentes que eu não ousaria roubar esse título para meus dias!
"A tecnologia move o mundo" - Steve Jobs
800# Redução de CO₂: meta para não ser atingida

As emissões de CO₂ constituem um desafio numérico inatingível. Segundo a International Energy Agency (link), a humanidade emitiu em 2022 aproximadamente 37 Gt de CO₂.
A concentração de CO₂ na atmosfera atingiu 421 ppm (link), um aumento considerável em comparação aos 350 ppm de 1980. Este crescimento acelerado indica que, na atmosfera de 12 quatrilhões de toneladas, cerca de 880 Gt de CO₂ entraram para alcançar este incremento de 71 ppm — um indicador claro da magnitude desse número.
Se projetarmos um número médio arbitrário de 20 Gt/ano — o que seria uma redução considerável — a concentração de CO₂ ultrapassará 500 ppm até 2072 (link). Mas a realidade é mais sombria, com este limiar sendo atingido ainda mais cedo devido a fatores como o crescimento populacional e a lentidão das mudanças estruturais nas práticas de emissão.
Três estratégias muito citadas para reduzir esse número:
• Transição Energética: A dependência de combustíveis fósseis é a principal causa das emissões. Embora tenha havido redução percentual desde 1980, a substituição por energias renováveis — solar, eólica, biomassa e hidrogênio verde — avança em ritmo tímido. A energia nuclear de fusão é promissora, mas permanece tecnicamente distante.
• Controle Populacional: A dinâmica populacional é assimétrica: países desenvolvidos tendem ao declínio, enquanto países pobres continuarão crescendo. Os próximos 2 bilhões de habitantes virão majoritariamente das nações mais vulneráveis.
• Eficiência Energética: Consumo energético é sinônimo de desenvolvimento. Promover eficiência e alterar padrões de consumo é vital — mas não trivial — para alinhar progresso com responsabilidade ambiental.
Analisando essas três frentes, é difícil não concluir que estamos lidando com utopias. Por isso afirmo: ultrapassaremos 500 ppm antes de 2072.
Realidade que nos cerca:
• Transição energética: Estamos falando de indústrias, carros, aviões, navios, máquinas de guerra e residências deixando de usar combustíveis fósseis. Apenas a fusão nuclear teria densidade energética suficiente — e ainda está em estágio embrionário.
• Reduzir população: Fora de cogitação nos próximos 50 anos, exceto em caso de catástrofe global.
• Reduzir consumo energético: O consumo cresce há 200 anos. E cresce com riqueza. O miserável de hoje consome mais energia que o milionário do século XIX — e o miserável de 2072 consumirá mais que a classe média de 2024.
Sendo oriundo da iniciativa privada, o que mais me frustra é não bater metas...
...e temos mais uma para não bater nos próximos 50 anos!
Esse vídeo esclarece muita coisa:
https://lnkd.in/ejVFqYE5
801# Político Reborne é a solução

Diante da mais nova façanha legislativa da Câmara do Rio — a aprovação do “Dia da Cegonha Reborne” — fica evidente: precisamos repensar a representatividade política no Brasil. Mas não como você imagina. Em vez de criticar a boneca, proponho o contrário: que tal substituirmos os políticos reais pelos Reborne? Sim, bonecos de silicone, sem funções cognitivas ou pulsão por vaidade. Porque, sejamos justos, o Reborne pelo menos tem uma virtude: não faz nada.
E isso, num Congresso que produz mais absurdos que soluções, já é um upgrade operacional.
O Político Reborne não rouba. Não emenda orçamento. Não nomeia primo. Não discursa. Não tem ego. Não tem “base eleitoral” para agradar nem “pauta ideológica” para lacrar. Ele simplesmente existe. Passivo, sereno, com semblante inexpressivo — ou seja, exatamente como 70% dos parlamentares atuais em plena sessão plenária.
Só que, ao contrário desses, o boneco não custa R$ 300 mil por mês. Não consome verba pública. Não desvia recursos da saúde para criar feriados inúteis. E o principal: não finge que legisla.
É hora de institucionalizar essa evolução. Chega de votar em humanos. Eles falham, erram, são corrompidos. O Reborne, não. Ele já vem de fábrica com as limitações prontas. E convenhamos: quem acompanha as sessões da Câmara sabe que a diferença entre muitos vereadores e uma boneca de silicone está apenas no CPF.
Se a política virou teatro, sejamos coerentes. Substituímos atores por adereços. Colocamos bonecos sentados nas cadeiras legislativas, com placa de identificação e tudo. Teremos finalmente um Parlamento coerente com seu desempenho: decorativo, inútil e incapaz de pensar.
E há vantagens. O Reborne não apresenta projetos esdrúxulos. Não inventa o "Dia da Batata Assada com Queijo Coalho". Não milita por fetiches simbólicos enquanto a cidade desaba. Não ignora crianças reais enquanto se emociona com brinquedos hiper-realistas. O Reborne respeita o silêncio. E o silêncio, no atual Legislativo, seria um avanço civilizatório.
Vamos, portanto, ser justos: o boneco é vítima. Ele está sendo difamado por uma categoria que, há anos, entrega menos serviço público que qualquer produto industrial chinês. Vereadores que não fazem nada atacam um objeto que também não faz nada — com a única diferença de que o objeto nunca prometeu fazer.
A política virou fanfic institucional. E cada nova lei inútil é um capítulo de uma saga escrita com dinheiro público e tinta de vergonha alheia. Se é para manter o roteiro da fantasia, sejamos eficientes: eliminemos o intermediário. Não elegemos representantes — apenas influenciadores com crachá. Substituí-los por Reborne é não apenas simbólico, mas honesto.
Pelo menos, dessa vez, o boneco não nos decepciona.
“O boneco é mais honesto: nunca prometeu nada.” – Osvandré Lech
802# Haraquiri da Nissan

A derrocada da Nissan em 2025 não é só a falência de uma marca, mas o colapso de um modelo mental. A empresa que simbolizou engenharia japonesa, performance acessível e visão elétrica — criadora do Skyline GT-R, do Leaf e da linha “Z” — amarga o maior prejuízo da sua história. Queda de ¥750 bilhões (R$ 28 bi), sete fábricas fechadas, 20 mil demitidos e o abandono de um bilionário projeto de baterias que, ironicamente, seria a virada. Mas isso vai além da Nissan: é sobre uma indústria que esqueceu como inovar.
A crise é didática: revela uma gestão que confundiu escala com sucesso, desconto com estratégia e volume com valor. Por anos, a Nissan buscou market share com promoções agressivas e uma linha defasada. O resultado? Margens corroídas, inovação travada e um portfólio que não compete nem com startups chinesas de três anos. A Leaf, que abriu a era dos elétricos de massa, foi superada por modelos mais baratos, bonitos e inteligentes. O pioneirismo virou peso. E hoje, mesmo com vontade de reagir, falta fôlego: o caixa sangra mais rápido do que uma ideia leva para sair do CAD e chegar à loja.
A analogia é dura, mas precisa: a indústria tradicional é como um Godzilla cansado — grande, barulhento e lento. Enquanto ela gira em círculos, novos concorrentes elétricos e conectados ignoram as leis da velha física industrial. BYD, Nio, Rivian, Tesla, XPeng. Essas marcas não herdam fábricas nem sindicatos — herdam algoritmos, ciclos curtos e mentalidade beta. Enquanto a Nissan corta projetos, elas criam ecossistemas. Enquanto a japonesa fecha fábricas, as chinesas se expandem com carros mais baratos, melhores e transportados por seus próprios mega-navios.
E o pior: o problema não é só tecnológico — é estrutural. Incapaz de reduzir sua complexidade interna, operar com custos adequados ou repensar a cadeia inteira. Quando Ivan Espinosa, novo CEO, promete cortar 70% da complexidade de peças e variantes, ele não inova — faz cirurgia de emergência. Não é estratégia. É contenção de crise.
Atenção: a Nissan pode ser só a primeira de muitas gigantes a cair. A indústria automobilística vive um ponto de inflexão como a Kodak diante do digital. Os sinais estão aí: queda nas vendas, fuga de talentos, perda de relevância cultural. Mas, diferente dos filmes fotográficos, carros custam bilhões, ocupam milhões de m² e empregam centenas de milhares. A queda, portanto, não é silenciosa — é tectônica.
Se a Nissan, com sua história e legado, chegou a isso, o que dizer das marcas que nunca inovaram de verdade?
“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.” — Charles Darwin
803# Quero entender o Biodiesel
→ Planilha completa da simulação da planta de biodiesel

Revisitei minha planilha após dicas sobre o uso do metanol no lugar do etanol por ser mais reativo e eficiente na etapa de transesterificação, e ficou ainda mais interessante. Mantive tudo lá: capacidade, capex, mix de produtos, balanço de massa, preço por tonelada, margem líquida. Roda o modelo. O número aparece: payback de 4 anos.
A conta fecha. Mas agora não tenho mais a "pulga atrás da orelha", eu tenho o "cachorro sarnento" inteiro na minha orelha 🤣🤣🤣.
Foi exatamente isso que aconteceu comigo ao simular novamente a planta de biodiesel, mantendo a capacidade de 500 tpd. Usei como base publicações técnicas públicas — balanço de massa e energia consistentes, médias de mercado, custos ajustados ao cenário brasileiro e dicas do pessoal aqui do LinkedIn. Incluí também a receita com coprodutos: 25 tpd de glicerina e 7 tpd de borra. O total processado? 532 tpd.
Premissas principais:
- Investimento total: MUS$ 20,0
- Margem líquida total (após OPEX, tributos e depreciação): US$ 45,89/t
- Lucro líquido anual estimado: US$ 8,8 milhões
- Reaproveitamento de 59% do metanol
- Payback estimado: ~4 anos
- 250 kcal/kg biodiesel em consumo de energia (térmica + elétrica)
Não há mágica. Nem otimismo demais. Mas também não há espaço para certezas. Porque essa conta, feita em um cenário estável e previsível, parece fazer sentido. Só que o setor de biodiesel brasileiro não é exatamente estável, e por interferência estatal, nada previsível.
Aqui, a mistura obrigatória muda com canetada. A tributação oscila conforme o humor político. E o investimento, que deveria ser decisão técnica, vira aposta regulatória.
Por isso eu pergunto — e não afirmo: esse modelo é viável ou ingênuo?
O spread de US$ 46/t é consistente com o que as usinas estão praticando? Os volumes de glicerina e borra são comercializáveis nessa escala? O retorno é suficiente para justificar o risco?
Ainda me indicaram olhar o retorno com venda de créditos de carbono, que segundo o que comentaram, pode chegar a 6 USD/m³ de biodiesel processado. Não incluí ainda pois vou esperar mais comentários. De toda forma, 46 USD/t é algo espetacular (tem ainda a redução de energia que não apliquei com a redução de coproductos e o uso de menos massa de álcool).
A planilha serve como provocação — e não como resposta. Porque aprender, nesse setor, é mais sobre ouvir quem opera do que insistir em quem calcula.
Se você já rodou essa conta, ajustou variáveis, fez simulações, vive o chão da planta ou o dia a dia dos contratos: o que estou subestimando aqui?
Porque se essa conta realmente fecha, não é o Excel que vai fazer o projeto andar. É o mercado — e os profissionais que entendem o que está por trás de cada número.
E estou aprendendo como pensei que seria! As discussões sobre o Capim-Elefante e o etanol a partir de milho e cana-de-açúcar, e agora o biodiesel, estão rendendo frutos!
“A dúvida é o princípio da sabedoria.” — Aristóteles
804# A criação de Banânia

No princípio, o Criador tinha um plano: impor ordem ao caos e equilíbrio aos reinos. A distribuição dos recursos foi meticulosa. Cada continente, nação e povo teria o que lhe cabia. Petróleo no sul, geleiras no norte, ouro no oeste, arroz no oriente. Justiça poética pura. Um Excel cósmico.
Mas, como todo sistema universal, algo falhou. Restavam dois territórios quando o Criador cometeu o mais humano dos erros: esqueceu de checar o saldo. Um pedaço de terra no extremo oriente — hostil, vulcânico. Outro, no extremo ocidente — exuberante, fértil, digno de qualquer marketing paradisíaco.
Os atributos foram definidos: ao oriente, terremotos diários, verões escaldantes, monções, falta de petróleo e um solo ingrato como o humor de estagiário sem café. Ao ocidente, florestas tropicais, reservas minerais, litoral de fazer Apolo chorar e clima regulado por algoritmos suíços.
O assessor, perplexo, perguntou: “Criador, está desequilibrando o jogo. O oriente vai colapsar!”
O Criador coçou o queixo, fez um sorriso enigmático e disse:
“Calma Calabreso… ainda vou distribuir o povo.”
Assim nasceu Banânia.
A criação de Banânia é um experimento divino de ironia institucional. Um território com tudo para ser potência, mas que trocou o manual do desenvolvimento pelo tutorial do improviso.
Como se Deus criasse um iPhone celestial com sistema operacional de Nokia tijolão. Recursos de primeira, decisões de quinta. O bioma mais rico do planeta... gerido por quem nem sabe o que é “bioma”. Petróleo em abundância... mas refinado fora. Educação universal... com evasão escolar de país em guerra.
Banânia prova que infraestrutura não é destino, clima não define caráter, e que um território promissor pode virar laboratório de ineficiência se seu povo crê que carisma resolve o que competência evita.
Não foi um bug. Foi uma feature divina. Um país que desafia a lógica da meritocracia cósmica e reinventa o erro como método. Não por maldade — por fé. Fé no improviso. No jeitinho. No salvador da vez, com dentes brancos, jargões emocionados e promessas recicladas.
Enquanto outros prosperam com terremotos e escassez, Banânia tropeça em sua abundância. Um atleta olímpico com tudo à disposição... que cai no próprio cadarço. Porque em Banânia, o talento é real. A disciplina, opcional.
Eis o paradoxo divino: um território perfeito, habitado por especialistas em torná-lo inviável.
“A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou.” — Adam Smith
805# Hollywood está em alerta!

A indústria do entretenimento sempre foi a metáfora perfeita para o sonho americano: criatividade, ousadia e talento transformando ficção em ícone cultural. Mas agora, o sonho virou distopia. E os bastidores de Hollywood parecem mais um laboratório de substituições digitais do que um espaço de produção artística. O alerta veio direto de Justine Bateman, cineasta e ex-atriz, que chamou o avanço da inteligência artificial no cinema de “grande desastre econômico”. Exagero? Nem um pouco.
Bateman levanta um ponto brutal: estamos prestes a transformar 100 anos de arte em uma esteira automatizada de conteúdo. Estúdios com acervos de décadas agora testam substituir atores reais por “clones licenciados” de ícones do passado. Steve McQueen estrelando novos filmes — sem estar vivo, sem estar presente, sem consentir. Tudo legalizado por contratos de imagem. E com um custo que nenhum ator vivo consegue competir. O passado virou concorrente do presente. E é mais barato.
A lógica é simples: por que pagar um profissional com direitos, jornada e valores, se um avatar digital pode entregar o mesmo produto em menos tempo, menos custo, sem sindicato e sem pausa para almoço? Essa equação assassina o mercado de trabalho artístico. E não se trata só de atores — roteiristas, editores, diretores de fotografia e técnicos já sentem o impacto.
Uma geração de artistas será vencida por uma geração de prompts.
A consequência disso vai muito além de Hollywood. Bateman cita a “dissolução de Los Angeles” como epicentro da crise. Mas o efeito sistêmico atinge turismo, real estate, renda familiar e o próprio tecido urbano da Califórnia. Um crash econômico silencioso, alimentado por bytes.
E não é só um colapso de empregos. É um colapso de propósito. Quando você licencia sua voz, rosto e movimento, o que sobra de humano no que você faz? Qual a alma de um ator se seu corpo virou template digital? A arte que resiste à IA é aquela que não cabe no algoritmo: o improviso, o erro, o imprevisto. E isso está sendo deletado.
O cinema não morreu — mas seu modelo sim. Resta a pergunta: quem escreverá os novos roteiros se até o talento foi terceirizado para uma máquina?
No meio dessa distopia, surgem movimentos como o Credo 23 — festival que proíbe IA e distribui 100% dos lucros aos artistas. Pequeno? Sim. Mas simbólico. Porque mais do que inovação, precisamos de direção. A tecnologia não pode ser inimiga da arte. Mas, sem regulação, é isso que ela se torna.
Hollywood precisa decidir: será fábrica ou fórum?
“A única maneira de dar sentido a uma mudança é mergulhar nela.” – Allan Watts
806# Bandeirinhas da Empresa – 23/06/25

Somos especialistas em perpetuar o supérfluo. Transformamos o que já morreu em protocolo, o obsoleto em rotina e o desnecessário em estrutura. O talão de cheques ainda circula como se não existissem DOC, TED, Pix — ou vergonha. O acendedor de cigarros ainda ocupa espaço no painel dos carros, mesmo que não aqueça nada além da lembrança de uma engenharia preguiçosa. Mas há inutilidades que atravessam fronteiras e se espalham em escala global, vestindo uniforme e fingindo função.
Falo dos bandeirinhas. A figura mais decorativa do futebol moderno. Estão em campo, com postura de autoridade, mas ninguém mais sabe por quê. Levantam a bandeira, fazem sinal, correm na lateral como se sua visão lateral ainda tivesse valor. Mas segundos depois, o VAR corrige tudo com câmeras, sensores e software. Sua decisão é provisória. Seu gesto, irrelevante. Tornaram-se rascunhos de erro — corrigidos por máquinas que não perdem o lance.
Sou apaixonado por futebol, mas mais ainda por eficiência. E por isso, não tolero rituais que perpetuam o atraso. O bandeirinha de hoje é um símbolo da resistência à obsolescência: ocupa espaço, custa caro, mas serve para lembrar que já serviu. Não tem mais função técnica. Só simbólica. Corre em linha com a jogada, mas decide com atraso. O VAR decide com precisão — e, ainda assim, aplaudimos quem só levantou o braço.
O mais espantoso é que isso não é exceção. É regra. É padrão global. Wembley, Maracanã, Al Janoub — todos com seus bandeirinhas, enfeitados, imitando autoridade. É a globalização da irrelevância. E mais grave que sua permanência, é a naturalidade com que aceitamos esse teatro. Como se fosse normal insistir na presença de alguém limitado pela visão lateral para competir com câmeras que enxergam o detalhe em 4K. E quando o erro acontece? O sistema engole. Corrige. E segue. A falha se dissolve, a figura permanece.
O paralelo com a indústria é inevitável. Também temos nossos bandeirinhas. Funções que já não entregam nada, mas continuam existindo por hábito institucional. Processos redundantes, cargos que acompanham sem decidir, reuniões que só reafirmam o óbvio. São os talões de cheque da supervisão. Os acendedores de cigarro do organograma. Persistem não por eficiência — mas porque sempre estiveram ali.
O custo é alto. Decisões lentas. Processos duplicados. Pessoas alocadas para validar o que já foi resolvido. E ainda chamamos isso de "controle". Mas no fundo, estamos mantendo uma estrutura de teatro. O VAR já tomou a decisão — mas a empresa segue aplaudindo quem só levantou a bandeira. Fingimos função para não confrontar o desuso. Mantemos o ritual para não encarar a reforma. E enquanto isso, a ineficiência se multiplica vestindo crachá e indo a reuniões que não mudam nada.
Se quisermos levar a sério nossa operação, precisamos perguntar: quantos bandeirinhas ainda mantemos à beira dos nossos fluxos? Quantos sistemas, cargos e relatórios só existem para reforçar a ilusão de controle? A tecnologia já resolveu. Mas insistimos no gesto — só para não admitir que a função morreu.
“A maioria prefere morrer a pensar; na verdade, é isso que fazem.” — Bertrand Russell
“O hábito é um excelente servo, mas um péssimo mestre.” — David T. Ryan
“A tradição é o voto inconsciente da mediocridade.” — Gilbert Chesterton
“Função sem entrega é encenação.” — RXO
“Quando o sistema protege a forma, ele mata o conteúdo.” — Danilo Barba
807# Carro Zero ou Zero Carro?
→ Planilha completa com os dados comparativos Brasil × EUA × China

Desde 1974, quando nasci, percebi que ter um carro zero no Brasil é uma conquista reservada para poucos. Um reflexo disso é a memória do fusca amarelo 1971 que meu pai adquiriu em 1979. Para um operário dos anos 70, tal aquisição era uma façanha — e meu pai, nesse cenário, acreditem, era uma exceção na família.
Apesar de algumas melhorias ao longo do tempo, o cenário não mudou tanto quanto esperávamos. Em 1979, a indústria automobilística brasileira era dominada por um punhado de fabricantes que cabiam nos dedos de uma mão: Ford, VW, GM, Fiat e Gurgel “in memorian”.
Hoje, embora tenhamos acesso a praticamente todas as marcas do mundo, o alto preço dos automóveis continua sendo uma barreira para muitos brasileiros. E isso não faz muito sentido, pois, em tese, mais concorrência global deveria significar preços menores — mas estamos no Brasil.
Aprofundando o tema, analisei a estrutura de custos e a taxação do automóvel no Brasil em comparação com EUA e China, usando três modelos equivalentes:
Brasil — Citroën C3 Live 1.0
Preço: USD 13.600
Impostos totais: 43,9%
Lucro da montadora: USD 1.396 (10,3%)
Imposto por unidade: USD 6,76 (50%)
Tempo que um trabalhador leva para comprar: 13,6 meses
EUA — Nissa Versa (o mais barato dos EUA)
Preço: USD 18.300
Impostos totais: 0,6%
Lucro da montadora: USD 6.396 (35%)
Imposto por unidade: USD 0,46 (3%)
Tempo que um trabalhador leva para comprar: 2,61 meses
China — BYD Seal 06 DM-i
Preço: USD 13.600
Impostos totais: 8,0%
Lucro da montadora: USD 6.800 (108%)
Imposto por unidade: USD 0,81 (6%)
Tempo que um trabalhador leva para comprar: 8,78 meses
Os efeitos sistêmicos também impressionam:
- Brasil: 3,0 milhões de carros/ano, GUSD 4,2 de lucro das empresas, GUSD 20,3 de arrecadação governamental.
- EUA: 15 milhões de carros/ano, GUSD 95,9 de lucro das empresas, GUSD 7,0 de arrecadação governamental.
- China: 30 milhões de carros/ano, GUSD 204 de lucro das empresas, GUSD 24,3 de arrecadação governamental.
Observe a distorção: os EUA arrecadam muito menos por unidade, e ainda assim produzem mais riqueza, mais carros e mais lucro corporativo. Já o Brasil cobra pesado, trava o consumo, inibe a produção e, no fim, arrecada menos que deveria — um retrato clássico de um país que insiste em ignorar a Curva de Laffer.
A alta taxação brasileira é fruto de uma mistura de fatores históricos, políticos e econômicos. Enquanto nações desenvolvidas fortalecem sua indústria reduzindo o peso estatal, no Brasil a carga tributária virou a base da receita do governo — ainda que isso estrangule o setor produtivo.
Em resumo: a indústria automobilística revela a anatomia das nossas disfunções econômicas. Resolver esse problema exige reforma tributária séria, políticas industriais orientadas por produtividade, continuidade institucional e menos improviso. Já está claro que passamos do ponto ótimo de arrecadação há décadas — e insistir em subir impostos é um contrassenso perigoso.
No Brasil, a verdade é simples e amarga:
Não compramos carro. Compramos imposto.
...e já são mais de 40 anos.
“Fazer crescer a economia aumentando impostos é o mesmo que entrar em um balde, puxar a alça e achar que vai levitar.” — Winston Churchill
809# Tenha Sucesso e veja a Magia acontecer – 04/08/24

No Brasil, desde que me entendo por gente, o sucesso é uma maldição. Vi isso na minha família, entre vizinhos, na escola, na faculdade e no trabalho. Vejo também vários exemplos com pessoas públicas. Pelé morreu sendo menos "romantizado" que o Garrincha. E por quê? Simplesmente porque Pelé é o nome brasileiro mais conhecido da história, ficando milionário com isso, enquanto Garrincha foi um alcoólatra, f*dido no final da vida e intelectualmente incapaz – ou seja, de alguma forma nos representa. Neymar é odiado por não dar entrevistas para a mídia brasileira, mesmo sendo o primeiro jogador bilionário do país, com os melhores contratos publicitários e o maior número de seguidores nas redes sociais. Mas ele tem que ser odiado, não é? Santos Dumont não teve tempo de virar vilão, pois cometeu suicídio cedo. Nelson Piquet, tricampeão de F1 (tal qual Ayrton Senna) e multimilionário, é desprezado porque não dá bola para a turminha cheirosa da mídia. Enquanto isso, caras como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que sempre foram péssimos vendedores, são tidos como ícones musicais, ao contrário dos sertanejos, que lotam shows pelo Brasil, e "são" odiados porque têm sucesso genuíno.
É difícil aceitar, mas o sucesso no Brasil incomoda. Experimente ser promovido no trabalho, especialmente se você vem "lá de baixo", como gostam de dizer. Passei por isso, e não têm ideia de como isso incomoda. Esse é um dos motivos de manter poucas amizades. Meu termômetro é simples: vejo o quanto as pessoas ficam felizes quando tenho êxito em algo. Comprar um carro novo, adquirir uma casa, fazer uma viagem ou simplesmente ter um casamento feliz e um bom emprego causam dores em muita gente. E quando você perde isso, sente a felicidade em alguns rostos que você nem imaginava que tinham esse tipo de pensamento... E sabem o pior? Isso me parece coisa de brasileiro.
Morando na Colômbia, sinto uma diferença gritante. Os colombianos falam com orgulho da Shakira, do Luis Díaz (atacante do Liverpool) e da Karol G como exemplos de mérito, e não motivos de inveja. Aqui, o sucesso é celebrado, não detestado. No Brasil, em vez de celebrar as conquistas uns dos outros, afundamos em uma cultura que vê o sucesso como uma afronta pessoal. Seguimos tentando apagar as estrelas que brilham ao nosso redor, em vez de aprender a brilhar juntos.
Mas quer saber? Talvez seja mesmo melhor continuar assim. Afinal, quem precisa de um país onde o sucesso alheio inspire, motive ou, pior ainda, seja visto como algo positivo? Se quem tem sucesso for a referência, vai dar um trabalho danado copiar eles...
...afinal, é muito mais fácil reclamar da vida do que se esforçar para mudar.
"Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles" — Abraham Lincoln
810# Quem Está Destruindo o Planeta? – 17/07/24
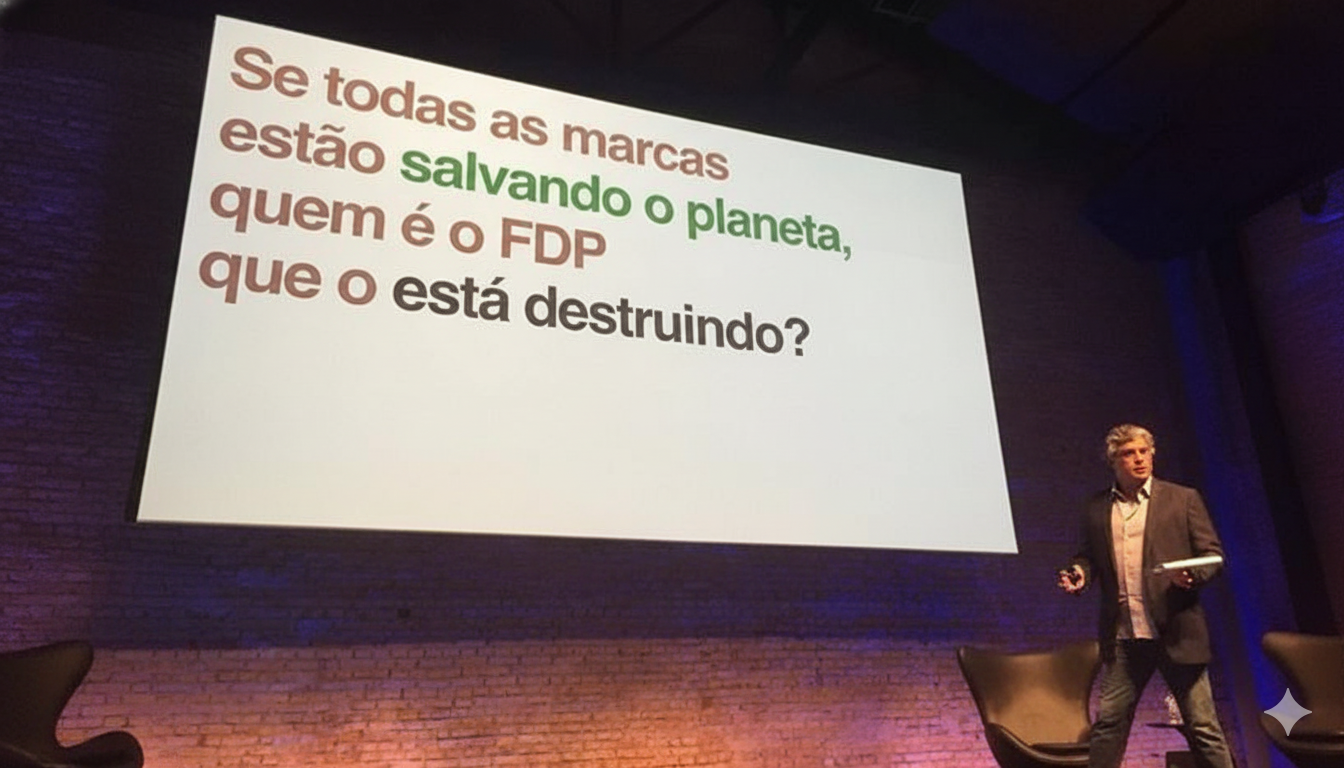
A imagem deste post ilustra claramente como estamos nos enganando ao acreditar que a salvação do planeta está em ações superficiais, sem uma análise aprofundada de hipóteses e causas. "Se todas as marcas estão salvando o planeta, quem é o FDP que o está destruindo?" é uma questão provocativa que nos leva a refletir sobre a verdadeira eficácia das iniciativas amplamente divulgadas como soluções para os problemas ambientais.
Partindo do pressuposto de que o CO2 é o problema, o próximo passo é encontrar a causa raiz e tomar ação corretiva que ataque a causa, como toda ação corretiva. No entanto, parece que estamos constantemente enxugando gelo, oferecendo soluções superficiais que servem apenas para agradar a torcida.
Dados mostram que três países são responsáveis por quase 60% das emissões de CO2 ou equivalente: China (35%), EUA (15%) e Índia (8%). Enquanto a China foi o motor econômico do mundo nas últimas duas décadas, a Índia está destinada a assumir esse papel nas próximas. Esperar que esses países sacrifiquem seu crescimento econômico em nome da redução de emissões é ser muito ingênuo, para não dizer outra coisa. E a ação fica com os outros 180 países, onde 90% deles não têm nem a "capacidade" de gerar CO2!
E o que fazemos? Continuamos a fazer clipes musicais "Salve a Amazônia", apontamos de maneira muito estúpida a agricultura como vilã, investimos em fábricas que produzem comida a partir de insetos e culpamos de maneira muito enviesada o "peido" das vacas. É uma narrativa conveniente que nos faz sentir bem, mas, de novo, não ataca o cerne do problema.
Precisamos de ações concretas e efetivas. Mas, infelizmente, o que tenho visto em todo lugar, não só no Brasil, é a cobrança de "imposto do pecado" em países que são, além de pobres, geradores de menos de 1% do CO2 do planeta. Para se ter uma ideia, o Brasil que é o décimo segundo dessa lista, que vive sendo achincalhado mundo afora (fico p*taço com isso 😡), gera menos de 1,3% tendo 2,5% da população do mundo.
Enquanto isso, a foto que nos faz essa ótima e desconfortável pergunta continuará a reinar. Continuará a nos lembrar que enquanto nos iludimos com ações para "louco bater palmas", o verdadeiro problema persiste. E assim, a tão discutida "destruição do planeta" continua, perpetuada pela falta de vontade política e pela superficialidade das ações.
Mas vamos confiar...
...pois agora, com o imposto do pecado da nossa fantástica "Reforma Tributária", vamos mostrar para o mundo como se faz! 👍
811# Lei do 1 minuto – 16/07/24

Sou muito direto com muitos assuntos profissionais, e às vezes isso parece "grosseria", mas simplesmente é para deixar de gastar o tempo dos outros ou o meu próprio tempo, pois se tem algo que nunca volta são os minutos que usamos na vida.
Quantas vezes você já se pegou em reuniões intermináveis, ouvindo explicações prolixas que parecem nunca chegar ao ponto? Eu costumo usar a minha "Lei do 1 Minuto". Se alguém não consegue explicar algo simples em menos de um minuto, é sinal de que não domina o assunto ou, pior, está te "enrolando".
Imagine um cenário: você pergunta a um colega sobre o status de um projeto. Se ele começa a se enrolar, dando voltas e mais voltas sem uma resposta clara, um sinal de alerta deve soar. A clareza é um dos principais indicadores de entendimento e transparência. Quando alguém domina verdadeiramente um tema, consegue resumir o essencial rapidamente, sem precisar de floreios.
Por exemplo, em uma reunião de planejamento, você pergunta: "Qual o próximo passo do projeto?" Se a resposta começa com "Bem, primeiro precisamos considerar...", ou a preferida: "Isso tem diversas variáveis, que dependendo do contexto...", e vai ganhando tempo (e fazendo você perder o seu). Em contraste, uma resposta direta como "O próximo passo é finalizar o relatório até sexta-feira" demonstra domínio e transparência.
A minha "Lei do 1 Minuto" mostra uma outra verdade desconfortável: é melhor passar por um momento de constrangimento falando logo o que tem que ser dito do que viver com a constante dúvida. A famosa frase "é melhor ficar vermelho de vergonha uma vez do que ficar amarelo de medo pelo resto da vida" resume bem essa filosofia. Enfrentar uma situação embaraçosa por exigir clareza é preferível a conviver com a insegurança e a desconfiança.
Aplique a minha "Lei do 1 Minuto" no seu cotidiano profissional. Em reuniões, busque respostas diretas. Ao receber uma explicação longa e complexa, pergunte: "Pode resumir em uma frase?" Isso economiza tempo e promove eficiência, além de fazer as pessoas pensarem de maneira mais sucinta sobre os temas e, por incrível que pareça, adquirir mais domínio sobre o assunto.
Da próxima vez que estiver em uma conversa ou reunião, observe: a explicação leva mais de um minuto? Talvez seja hora de pedir uma resposta mais direta. Promova uma cultura de transparência e objetividade em seu ambiente de trabalho. A eficiência, a confiança e a clareza serão seus aliados em sua carreira.
812# Dinheiro é bom, mas... – 21/07/24

Ouvi outro dia em um podcast que "as coisas mais baratas para se comprar na vida são com dinheiro". Refleti sobre isso e concordo plenamente. Dinheiro é obtido por meio de trocas voluntárias, seja pelo trabalho ou pelo comércio, e serve para nosso sustento básico. Contudo, o que o valor do dinheiro não pode comprar? Há uma lista extensa.
Tempo: Donald Trump, Elon Musk, eu, você e até um mendigo no meio da rua têm as mesmas 24 horas do dia. Não importa quanto dinheiro você tenha, o tempo é inestimável e não pode ser comprado.
Confiança: Nem os ditadores mais opressores conseguiram comprar isso com dinheiro. Prova disso é que a grande maioria teve fins trágicos por não conquistarem a confiança das pessoas.
Amor e amizade: Você pode comprar sexo, seguidores no Instagram ou até companhia, mas não pode comprar o sentimento genuíno de outra pessoa, independentemente do quanto dinheiro você possua.
Saúde: É inegável que quem tem mais dinheiro tem acesso a técnicas médicas avançadas, mas sem bons hábitos, até a conta bancária mais recheada do mundo não consegue comprar saúde, e infelizmente, é algo que só percebemos a falta que faz quando a perdemos.
Paz de espírito: Embora alguns psicopatas aparentem zero arrependimento pelas atrocidades que cometem, acredito que no fundo de suas consciências, ou até subconscientemente, eles percebam que isso não pode ser comprado.
Inteligência: Passe 10 minutos em qualquer mídia social e leia os comentários de várias pessoas milionárias e famosas de assuntos diversos. Rapidamente perceberá que dinheiro não substitui a falta de inteligência. E ao contrário disso, conheci e ainda conheço dezenas de pessoas pobres com uma inteligência extraordinária, tanto em QI quanto em QE.
Família: É a coisa mais importante da humanidade, apesar de alguns tentarem mostrar que não, e por incrível que pareça, o dinheiro mais afasta do que ajuda nesse caso.
Dinheiro facilita muitas coisas, mas não é a solução para tudo. Portanto, valorize sua saúde, seus momentos com a família, suas conquistas, por mais simples que sejam, a vitória do seu time e os amigos que você tem, pois essa é a verdadeira riqueza da alma do verdadeiro ser humano, e isso o dinheiro não vai comprar nunca!
"A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades." — Epicteto (50 dC–135 dC)
813# A Irlanda mostra o caminho – 21/07/24

Conheço alguns países da Europa, como Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça, mas a que me impressionou muito foi a Irlanda. Esse país, que outrora era pobre e agrário, emergiu como um país de alta renda per capita em poucas décadas. A transformação começou com a entrada na Comunidade Econômica Europeia (CEE) em 1973, precursora da Zona do Euro, que trouxe investimentos e acesso ao mercado europeu.
A história da Irlanda é marcada por eventos dramáticos. A dominação britânica começou no século XII e trouxe severas restrições econômicas e políticas, exacerbando a pobreza. No século XX, a Irlanda lutou pela independência, culminando na criação do Estado Livre Irlandês em 1922 e na República da Irlanda em 1949.
A Grande Fome (1845-1852) resultou na morte de 1 milhão de pessoas e forçou outro 1 milhão a emigrar, principalmente para os EUA, estabeleceu uma forte diáspora nos EUA, que manteve laços culturais e econômicos com a Irlanda. Em um país com cerca de 8,2 milhões de habitantes antes da fome, isso representou uma redução significativa, pois também caiu a natalidade, como sempre acontece em épocas de miséria. Isso foi tão impactante, que em 1960 a Irlanda tinha menos de 3 milhões de habitantes.
Os emigrantes irlandeses levaram consigo conhecimentos que influenciaram a futura política econômica da Irlanda. Em 2020, estima-se que 32 milhões de americanos reivindicam ascendência irlandesa. A diáspora foi crucial no fortalecimento dos laços econômicos e culturais entre a Irlanda e os EUA, facilitando investimentos vitais para o desenvolvimento econômico da Irlanda.
Nos anos 1980, a Irlanda enfrentava uma crise econômica grave, marcada por alta dívida pública e desemprego. Em 1987, reformas econômicas, incluindo cortes de gastos públicos e reduções de impostos corporativos, foram implementadas, tornando a Irlanda atraente para investimentos estrangeiros. Em 1987, a dívida pública era 120% do PIB e o desemprego alcançava 17%. Reformas reduziram a dívida para 35% do PIB em 2006, e o desemprego caiu para 4,2%. Atualmente, o imposto corporativo na Irlanda é de 12,5%, comparado a 21,7% na UE, 21% nos EUA e 34% no Brasil.
A Agência de Desenvolvimento Industrial (IDA) foi fundamental ao atrair empresas de alta tecnologia. Como resultado dessas políticas, a Irlanda experimentou um crescimento econômico robusto e se tornou um hub de tecnologia e farmacêuticas. A população, de 2,8 milhões em 1961, cresceu para aproximadamente 5 milhões em 2020. No entanto, desafios como inflação e competição da UE permanecem. A sustentabilidade desse crescimento depende da contínua adaptação e inovação nas políticas econômicas e sociais.
O caminho para a prosperidade é conhecido, mas teimamos em fazer o contrário, pois "ser do contra" está em nosso DNA!
814# Esse doente se cura? – 25/01/25

Nos anos 80, a Irlanda era chamada de "o homem doente da Europa". Sua economia estava devastada por desemprego e dívidas, enquanto jovens emigravam em massa em busca de um futuro melhor. No entanto, os irlandeses encararam o problema e aceitaram sacrifícios profundos. Hoje, a Irlanda figura há anos no top 3 PIBs per capita do mundo.
A Argentina enfrenta seu momento de "enfermidade". Após décadas de políticas populistas, intervenções estatais desastrosas e colapsos financeiros frequentes, tornou-se o “doente da América Latina”. Com inflação acima de 3 dígitos, milhões na pobreza e um ciclo de promessas e fracassos, o país vive uma crise persistente.
Mas, em 2023, algo mudou. O povo argentino demonstrou coragem ao apostar em Milei, um líder que não prometeu facilidades, mas sim um remédio amargo. Milei não é o político tradicional que oferece alívio temporário. Ele propôs cortes severos na máquina pública, privatizações, dolarização da economia e uma ruptura com a lógica estatizante que corroeu o país. E, surpreendentemente, os argentinos aceitaram o desafio.
Essa decisão não veio sem medo ou resistência. Afinal, é mais fácil seguir o caminho conhecido, mesmo quando ele leva ao abismo. No entanto, o povo argentino, cansado do declínio, deu um passo ousado. Apostaram em um líder que não apenas reconheceu a gravidade da situação, mas que também se dispôs a encarar a tempestade com uma honestidade brutal: “o Estado está quebrado, e continuar no mesmo caminho é perpetuar o fracasso.”
A escolha por Milei é um ato de resistência. É o reconhecimento de que o sistema atual não funciona e de que mudanças profundas são necessárias, mesmo que isso signifique abdicar do conforto das ilusões. Privatizar empresas estatais ineficientes, reduzir drasticamente o tamanho do Estado e dolarizar a economia são medidas que assustam, mas que são a única saída para um país onde o peso se tornou um símbolo de instabilidade e desconfiança.
Os críticos argumentam que Milei está “destruindo o Estado”. Mas será que é possível destruir algo que já está em ruínas? A verdade é que os argentinos não têm mais nada a perder. Eles sabem que o Estado que deveria protegê-los e promover o progresso é o mesmo que os sufocou com impostos, corroeu suas economias e permitiu que a inflação transformasse o trabalho em algo quase inútil.
O exemplo da Irlanda mostra que, com coragem, a transformação é possível. Os irlandeses enfrentaram cortes, investiram em inovação e colheram os frutos. A Argentina, ao apostar em Milei, tenta seguir caminho semelhante, exigindo mais que otimismo: é preciso determinação para arcar com o custo da mudança.
Os argentinos demonstraram coragem ao enfrentar o problema em vez de escondê-lo. Milei não é um salvador, mas um catalisador de uma transformação há muito necessária. Resta saber se o país suportará as dores do processo sem recuar.
Antes que perguntem: a Venezuela hoje infelizmente é o "morto da América Latina".
815# Carros EUA x Carros Brasil – 31/08/25

Nos EUA, o sujeito fecha um leasing de Tesla Model 3 por US$ 299 por mês. É pouco mais de 5% da renda média. Lá, o carro é ferramenta de mobilidade e símbolo de inovação. Aqui, é outra história: até um Kwid ou Argo alugado por R$ 2.000 a R$ 2.500 sangra mais de 60% do salário do brasileiro médio. O que nos EUA é acesso, aqui é castigo.
E por que isso acontece? Porque no Brasil o carro não é visto como transporte. É visto como vetor de arrecadação. Cada automóvel vendido é um cofre ambulante com quatro rodas. O preço de tabela já carrega quase 100% em impostos: IPI, ICMS, Cofins, PIS e toda a sopa de letrinhas. Ou seja, você paga dois carros para levar um. E quando pensa que acabou, vem o IPVA — um boleto anual só para lembrar que o Estado continua dono da sua chave.
Nos EUA, o governo cria mecanismo para girar mercado: crédito barato, leasing acessível, renovação constante da frota. Aqui, o governo cria mecanismo para sugar mercado: imposto em cascata, juros estratosféricos, seguro precificado como se cada motorista fosse reincidente em acidente. Resultado? Lá, a frota é jovem e tecnológica. Aqui, roda carro de 15 anos de idade disputando espaço com moto 125 que virou Uber.
A cultura acompanha a estrutura. O americano troca de carro como troca de celular. O brasileiro compra carro como compra casa: anos de financiamento, apego irracional e medo constante da próxima pancada fiscal. O carro vira mais símbolo de sobrevivência do que de mobilidade. Não é à toa que, quando se fala em carro elétrico no Brasil, soa quase como deboche. Não resolvemos nem o custo do motor a combustão, mas já querem vender a ilusão da “transição verde”.
Então, quando o jornal comemora recorde de vendas, o que deveríamos perguntar é simples: vendeu carro ou vendeu imposto? Porque no Brasil, o automóvel deixou de ser meio de transporte há muito tempo. Ele é a galinha dos ovos de ouro da arrecadação. Você acha que dirige o carro, mas, na prática, é ele que dirige sua conta bancária — sempre em direção ao caixa do Estado.
“A vida não é justa. Acostume-se com isso.” — Bill Gates
816# Etanol de milho será dominante um dia? – 31/08/25
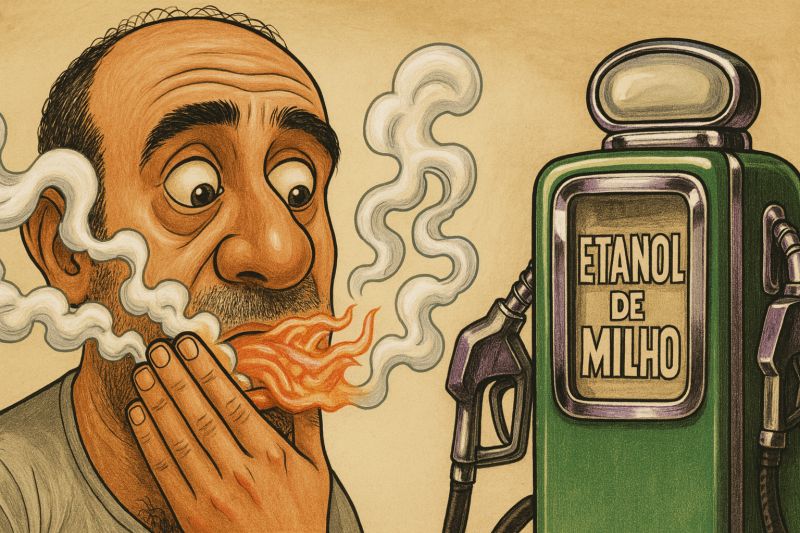
Segue uma planilha para diversão: https://lnkd.in/e5iNJJNz
Eu errei. E feio.
Por anos, bati na tecla de que o etanol de milho jamais teria espaço no Brasil. Achava que era sonho americano, impossível aqui — onde a cana sempre reinou com açúcar, álcool e lobby. O milho? Apenas ração e pamonha. Nada mais.
Mas a realidade não tem dó de certezas confortáveis. Hoje o milho já responde por quase 30% do etanol brasileiro. E não para por aí: a Inpasa e a Amaggi colocaram na mesa 5 bilhões de dólares para erguer três usinas em Mato Grosso, com capacidade de quase 3 bilhões de litros por ano. O que era “experimento” virou indústria. O que era piada, virou escala.
Não é só combustível. Cada litro carrega junto ração animal, óleo vegetal e um novo desenho de cadeia produtiva. Usina deixa de ser fábrica isolada e passa a ser plataforma agroindustrial. É milho virando energia, alimento e negócio em um só pacote.
E se você acha que é modismo, olhe para os EUA. Lá, esse roteiro começou nos anos 2000, com política pública e incentivo pesado. Hoje passam de 60 bilhões de litros anuais de etanol de milho. Nós demoramos. Ficamos presos ao mito da cana insuperável. Mas o atraso acabou. E com uma diferença: aqui temos safra dupla, produtividade quase cinco vezes maior por tonelada e integração direta com a pecuária. Entramos tarde, mas entramos com vantagens que eles não tiveram.
Repito: eu errei. Achei que o milho nunca subiria ao palco. Que seria figurante eterno da cana. Pois bem: o figurante virou protagonista. E agora redesenha o mapa energético do Brasil.
Negar isso hoje é como acreditar que VHS vai voltar a bater o streaming. A cana segue forte. Mas perdeu a coroa. O trono agora é dividido. E o milho não parece disposto a devolver a cadeira, e ouso dizer que antes de 2035 será dominante na produção do Etanol brasileiro.
“Não é quem trabalha mais que vence. É quem mostra o trabalho certo na hora certa.” — Ray Kroc
817# Hidrelétricas da China – 07/09/25

A transição energética da China não é discurso. É concreto, turbina e megawatts. Enquanto boa parte do mundo ainda se ajoelha diante do carvão e do petróleo, o gigante asiático decidiu reescrever o futuro através das maiores obras humanas já erguidas.
A Barragem das Três Gargantas, no rio Yangtzé, é a prova viva. São 181 metros de altura, 2,3 quilômetros de extensão, 32 turbinas de 700 MW cada e potência total de 22.500 MW — três vezes Itaipu. Para erguê-la, o Estado chinês investiu US$ 26 bilhões, deslocou 1,3 milhão de pessoas e inundou mais de 1.000 km². Um preço colossal, mas que entregou energia suficiente para atender dezenas de milhões de habitantes, além de domar cheias históricas e abrir uma rota de navegação até Chongqing.
Não parou aí. Entre 2000 e 2010, a China acrescentou 100 GW de capacidade hidrelétrica, com obras como Xiluodu (13.860 MW, 2013) e Xiangjiaba (6.448 MW, 2012), consolidando 4 das 5 maiores usinas do planeta. Em 2021, Baihetan entrou em operação com 16.000 MW, tornando-se a segunda maior do mundo. Esse acúmulo de titãs energéticos não é acaso: é planejamento estratégico, é hegemonia construída na marra.
Mas o capítulo mais audacioso ainda está em construção. Em 2025, começou a obra da Usina de Medog (Motuo), no Tibete, projetada para 60 GW — quase o triplo de Três Gargantas. Com expectativa de gerar 300 TWh por ano, será o equivalente a substituir a queima de quantidades brutais de carvão. Estima-se um custo de US$ 137 bilhões, possivelmente a obra de infraestrutura mais cara da história.
Não é exagero chamar isso de arma geopolítica. Quem controla 60 GW no Himalaia, a jusante de Índia e Bangladesh, não controla só energia. Controla também água, irrigação e segurança alimentar de vizinhos inteiros. É a diplomacia do concreto armado, em escala continental.
O que está em jogo é muito mais que eletricidade. É a capacidade de uma nação de se libertar da servidão fóssil e, ao mesmo tempo, ditar os termos de uma nova ordem energética. O Ocidente ainda debate créditos de carbono; a China ergue muralhas de 200 metros, desloca rios e instala turbinas do tamanho de prédios de 20 andares.
A pergunta que fica: estamos apenas assistindo ao nascimento de um novo modelo energético, ou presenciando o alicerce de uma hegemonia que usará a água como petróleo do século XXI?
“Olhe profundamente a Natureza e então você entenderá tudo melhor.” — Albert Einstein
818# O Mercado está atento – 14/09/25

A frota brasileira de veículos leves fechou 2023 com 45 milhões de unidades: 39 milhões de automóveis e 6 milhões de comerciais leves. Desses, 76% são flex — cerca de 35 milhões capazes de usar etanol hidratado ou gasolina C.
Desde abril de 2025, por portaria interministerial, a gasolina passou a ter 30% de etanol anidro. Essa mudança — válida e necessária — acentuou uma pressão já existente na matriz de biocombustíveis: a produção atual não acompanha a expansão da frota nem a nova mistura obrigatória.
O Brasil produz cerca de 37 bilhões de litros de etanol por ano: 23 bi de hidratado e 14 bi de anidro. Esses volumes atenderam à demanda da frota em 2024, que consumiu, segundo a ANP:
• 44 bi L de gasolina C (com 30% de anidro)
• 22 bi L de etanol hidratado
A estimativa de consumo médio por veículo leve é de 1.335 L de gasolina equivalente (GE) ao ano. Considerando que o etanol tem ≈70% do poder calorífico da gasolina, o consumo anual exclusivo com hidratado é de 1.907 litros.
A frota deve crescer 2 milhões de veículos leves por ano até 2035 — ou seja, 24 milhões de novos flex em 12 anos. Mesmo com o atual padrão de consumo (30% usando etanol hidratado e 70%, gasolina C), a pressão sobre a produção será inevitável.
Cálculo técnico:
Etanol hidratado:
30% de 24 mi = 7 mi veículos
Consumo médio: 1.907 L/ano
Demanda adicional: 14 bi L/ano
Etanol anidro (Gasolina C):
70% de 24 mi = 17 mi veículos
Consumo médio: 1.335 L/ano
Etanol anidro = 30% de 1.335 = 400 L
Demanda adicional: 6 bi L/ano
Total adicional até 2035: 20 bilhões de litros/ano.
Isso representa mais de 55% de aumento sobre a produção atual — e estamos falando apenas dos novos veículos. A frota existente continuará exigindo os 37 bi atuais (ou mais, caso o etanol fique mais competitivo).
Esse cenário não exige subsídio nem decreto. A escassez futura é evidente, e o setor produtivo já se move. O avanço do etanol de milho no Centro-Oeste é o maior sinal: em 2018, havia só 3 usinas. Em 2025, são mais de 20, com várias em construção e novos projetos captando recursos privados. Empresas estão dobrando capacidade com base em previsões, não incentivos.
No Sudeste, o foco é aumentar a produtividade da cana por ha, via genética, mecanização, controle digital de pragas e integração agroindustrial. É uma expansão horizontal da eficiência — não da área plantada —, mantendo competitividade mesmo com pressão por terras e insumos caros.
Ambas as frentes reconhecem um fato: o Brasil terá de expandir sua produção de etanol, mesmo sem ação política direta. Quem fizer isso com escala, previsibilidade e boa logística capturará um mercado crescente e com barreiras altas à entrada.
A vantagem: nenhuma dessas ações depende do Estado — e sim de capital, visão e coragem para antecipar o futuro. Porque o etanol não será apenas um combustível limpo, será um insumo estratégico e escasso.
“Oportunidade não avisa. Ela exige leitura de contexto.” — Mario H. Meireles
819# Filme "A.I. Inteligência Artificial" – 29/06/25

No último fim de semana, assisti A.I. Inteligência Artificial, mais uma vez... talvez a décima. E pretendo ver outras tantas. O motivo não é apenas apego emocional, mas o interesse em revisitar a complexidade estrutural do filme, que funciona quase como um experimento controlado sobre o impacto da imortalidade em um ente programado para amar.
Na cena final, David, o menino-robô, obtém o que poderia ser interpretado como a realização de seu objetivo primário: ser amado pela mãe. Mas o que parece uma recompensa é, na prática, a extensão do mesmo processo de tortura emocional ao qual ele esteve submetido por séculos. Ele não esquece, não envelhece, não adapta seus parâmetros emocionais. Ele repete a mesma função: buscar afeto, validar a própria existência pela aceitação do outro.
Essa cena é exemplar do dilema de prolongar indefinidamente um processo emocional. David demonstra o que acontece quando um sistema é privado de obsolescência natural: o loop do desejo se transforma em disfunção. Não há mecanismo de superação, não existe reset funcional. Há apenas um script rodando sem data de encerramento.
A ficção de Spielberg é eficiente em revelar uma contradição contemporânea: idealizamos a perfeição, a memória infinita, a ausência de falha, mas ignoramos que, em sistemas complexos — inclusive humanos — a falha, o desgaste e o encerramento são componentes necessários de equilíbrio. É o limite que garante a adaptação. É o esquecimento que permite o reprocessamento de experiências.
Ao retirar isso de David, o que sobra não é amor — é uma iteração sem progresso. Uma cadeia de loops onde a variável principal (desejo) permanece estática. E isso, do ponto de vista técnico, demonstra a falha em conceber um “código emocional” sem inserção de mecanismos de dissipação de energia psíquica, ou em termos computacionais, sem garbage collection.
Se somos fascinados por inteligência artificial, talvez seja justamente porque projetamos nela o mito de um processo emocional contínuo, perfeito, imune a erro. Mas a experiência de David expõe o risco desse ideal: um sistema que opera eternamente em modo de espera não alcança evolução. Ele apenas repete a própria falha original.
Assistir a essa história pela décima vez não é buscar catarse emocional, apesar de me emocionar toda vez que assisto. É analisar um estudo de caso — de como a supressão do fim, do desgaste, da imperfeição, destrói o propósito do próprio sistema. Porque o que garante significado ao processo é justamente a sua finitude.
“Quando você para de sonhar, você para de viver.” — Malcolm Forbes
820# Velho Churchill tinha razão – 11/09/24

Winston Churchill, com sua verve afiada, já dizia: “Uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés num balde tentando levantar-se puxando a alça.” A genialidade dessa frase está na ironia crua e simples, e talvez nossos governantes precisem desenhar esse conceito para entender o básico: não se resolve um buraco cavando ainda mais fundo. Mas, infelizmente, parece que eles ainda acreditam que o milagre da multiplicação dos impostos vai salvar o país.
O que realmente ocorre quando o governo aperta o laço fiscal sobre o pescoço dos cidadãos? Vamos lá: mais impostos, menos consumo; menos consumo, menos empresas; menos empresas, mais desemprego. É simples assim, mas para quem vive num mundo de burocracias e discursos vazios, essa realidade parece não entrar na cabeça. E sabe quem sofre no final das contas? Não é o burocrata que vive de carro oficial e gabinete climatizado, mas o “afegão médio” que vê seu suado salário ser espremido por um Estado voraz e incompetente.
Tentar fazer a economia crescer à base de tributos é como jogar mais lastro num balão de ar quente e esperar que ele suba. É o tipo de política que até faz sentido... para quem acredita que vai voar em um balde puxando pela própria alça. Mas enquanto os governos insistem nesse delírio, as empresas lutam para sobreviver, e o empreendedor – aquele que cria empregos e movimenta a economia – é tratado como uma espécie rara de otário a ser explorado até a última gota.
Agora, pare e pense: quando foi a última vez que você ouviu no Brasil um político falar em cortar gastos de verdade? Não falo dessas promessas vazias de campanha, mas sim de cortar a fundo na própria carne. Reduzir ministérios, acabar com as benesses para amigos e familiares, rever privilégios absurdos... Ah, é claro, isso nunca acontece. Para o governo, é muito mais fácil aumentar impostos e jogar a culpa no cidadão comum. E então, quando o caos bate à porta, eles ficam surpresos com a fuga de capital e o colapso da economia, como se não tivessem sido os autores dessa comédia trágica.
Churchill já nos deu a dica há décadas, mas parece que estamos fadados a ignorar os sábios conselhos. Em vez de desonerar e permitir que a economia respire, entram no balde e continuam tentando voar com o “danado” puxando a alça. E assim, seguimos: com um país que se afunda em impostos, enquanto nos vendem a ilusão de que um milagre fiscal vai nos salvar. A ironia final? No final do mês, quem precisa fazer mágica com o salário somos nós.
821# Criatividade tem hora e lugar – 01/10/24

Na indústria, é fácil cair na tentação de usar palavras bonitas como "inovação" e "criatividade". Mas sejamos realistas: criatividade é um luxo perigoso no chão de fábrica. O que se espera de uma planta industrial não é a invenção de algo novo a cada ciclo, mas a reprodução de um processo já definido, padronizado e, acima de tudo, seguro. "Reprodução" é o termo correto, porque "produzir" implica em criar, e a última coisa que você quer em uma linha de produção é alguém tentando "inovar" em algo que já funciona perfeitamente.
Um amigo me contou a seguinte história que ilustra bem isso:
“Ricardo, há uns 5 anos presenciei um Gerente de RH, entusiasta de conceitos abstratos, apresentando um novo conceito de avaliação de performance e desempenho, e incluiu a valência criatividade como um dos fatores na avaliação de operadores. O que parecia uma ideia moderna e vanguardista logo foi destruída pelo vice-presidente de manufatura, que com seu jeito equino de responder, cortou a ideia pela raiz: ‘Operador é para operar e não para reinventar a roda’. Alguns meses depois o Gerente de RH foi desligado da empresa”.
Apesar da bruteza na resposta e no desligamento, o que o vice-presidente disse faz todo sentido! Em um ambiente onde tudo já foi projetado e testado, o papel do operador é seguir o roteiro estabelecido, garantindo que a produção ocorra exatamente como previsto. Quem entende de indústria já sabe que criatividade no chão de fábrica é o caminho mais rápido para o fracasso. Você acha que Henry Ford criou a linha de produção em série esperando que cada operador na esteira tivesse uma ideia "brilhante" sobre como montar o carro? Claro que não!
Não que a inovação não tenha espaço na indústria, ao contrário, ela é vital para qualquer empresa. Mas essa inovação ocorre em departamentos como engenharia, Marketing e P&D, onde especialistas trabalham em melhorias que, quando implementadas, são repassadas como novos parâmetros a serem seguidos com a mesma rigidez de antes.
Na verdade, a verdadeira beleza da indústria está na previsibilidade, na perfeição alcançada pela repetição. Cada peça que sai da esteira deve ser uma réplica exata da anterior, e qualquer variação, por menor que seja, coloca em risco toda uma operação. Criatividade, nesse contexto, é mais um risco do que uma virtude. Operadores não estão lá para serem criativos, estão lá para garantirem que o que já foi planejado funcione como deve, todos os dias, da mesma forma.
Por isso, é curioso quando gestores tentam aplicar conceitos modernos como "criatividade" em áreas que, na verdade, pedem obediência rigorosa a normas e procedimentos. Quem pensa que criatividade eleva a eficiência do chão de fábrica ainda não entendeu que a única coisa que eleva nesse ambiente é a taxa de defeitos e retrabalho.
Guarde isso: o sucesso industrial é construído pela fidelidade às normas, e não pelo desejo de fazer algo "diferente".
822# Sam Altman esfregou a garrafa... - 15/05/25

...e pode ser que o que saia de lá faça o mundo se arrepender para sempre!
Quando Sam Altman foi demitido da OpenAI, o mundo da tecnologia reagiu com perplexidade. Não se tratava apenas da saída de um CEO. Era o prenúncio de algo maior, algo mais denso — e talvez mais perigoso. Três dias depois, ele voltou ao cargo, com poder ampliado, conselho reformulado e autonomia total. O que aconteceu nesses dias? Uma simples disputa de gestão? Ou o vazamento acidental de uma nova era da inteligência artificial, materializada sob o nome enigmático: Q*
Esse não é um nome qualquer. “Q estrela” (ou Q*) não é um produto, nem um upgrade. É, supostamente, o breakthrough que levaria ao limiar da AGI — inteligência artificial geral. Um modelo que, segundo fontes internas, deixou o conselho da OpenAI apavorado. E não por motivos técnicos, mas existenciais. Teriam testemunhado uma demonstração tão impactante que não restou dúvida: eles já não estavam mais no controle.
Q* não foi revelado ao público, mas sua mera menção alterou os eixos de poder. O board, acuado, reagiu como uma célula de defesa: demitiu Altman, tentando conter um avanço que julgavam precoce demais. O que não previram foi que a tecnologia não espera. Menos ainda, os investidores. Bastou a notícia da ida de Altman para a Microsoft, e 700 funcionários da OpenAI ameaçaram segui-lo. O conselho cedeu. Em 72 horas, a rebelião se converteu em vitória.
Mas o que realmente estava em jogo?
Não é sobre algoritmos. É sobre a nova cartografia do poder. O modelo Q* representa, potencialmente, o primeiro vislumbre funcional de uma superinteligência. Uma entidade capaz de realizar tarefas econômicas com mais competência que qualquer ser humano. Em termos práticos: isso mudaria o trabalho, o governo, as leis, a segurança nacional. Mudaria o conceito de controle. E talvez, de civilização.
Regulamentar esse tipo de avanço é uma fantasia ocidental. No mundo real, China, Irã e Rússia não vão esperar pelos princípios éticos de Silicon Valley. Eles vão correr. Porque sabem que Q* pode ser mais valioso que qualquer míssil. A única chance de mitigar riscos é manter essa tecnologia em mãos que — ao menos — desejam lucro e estabilidade, não destruição. Mas isso é frágil. E temporário.
Sam Altman entendeu isso antes de todos. Por isso sua luta não foi por um cargo. Foi por uma arquitetura de poder onde ele pudesse decidir o ritmo do futuro. E venceu. O conselho que tentou impedir agora foi substituído. Os freios sumiram. O gênio saiu da garrafa. E ninguém, nem o próprio Altman, sabe como domá-lo.
A história da OpenAI em 2023 não é sobre gestão, é sobre transcendência tecnológica. Quando se demite um CEO por medo do que ele criou, e depois se implora por sua volta, algo profundo foi rompido. A fronteira entre o possível e o incontrolável.
Talvez a pergunta agora não seja “o que é Q*?”, mas: “quem tem o direito de decidir o que o mundo não está pronto para ver?”
823# Bebês Reborn: como resolver isso? - 18/05/25

Não será com compaixão.
Não será com escuta empática.
E muito menos com políticas públicas para “acolher afetos alternativos”.
Será resolvido com a combinação de duas leis tão perfeitas quanto implacáveis: a Seleção Natural — e sua sócia silenciosa, a Lei da Escassez.
Porque enquanto uma parte da humanidade gasta energia emocional para alimentar o afeto por silicone com CPF simbólico, a outra parte — que ainda cria, reproduz, educa e empreende — está sendo blindada de uma concorrência evolutiva que está, gloriosamente, se auto-extinguindo.
Não é trágico. É maravilhoso.
Essas pessoas não vão deixar descendentes. Não vão transferir patrimônio, nem consolidar legado. Estão diluindo seu DNA numa experiência estética-emocional que simula a vida, mas cancela o futuro.
E o resultado?
Uma sociedade com menos gente querendo tudo.
E nesse cenário, a equação se inverte. Quem ainda faz o básico — construir uma família real, manter laços reais, investir no que é tangível — será beneficiado por uma curva dupla de compensação:
A Seleção Natural elimina o ruído.
A Lei da Escassez aumenta o prêmio.
Menos concorrência genética.
Menos competição por espaço, recursos, emprego, amor, poder.
Sim, você que ainda acredita na realidade, que ainda se envolve com o que respira e responde, que ainda educa uma criança de verdade em vez de um boneco de vinil com linguagem neutra — você vai ganhar.
Não por mérito divino. Mas porque os outros saíram do jogo. A escassez vai fazer o resto.
Menos seres humanos comprometidos com o real = mais oportunidades para quem ficou.
Menos concorrentes dispostos a enfrentar o incômodo da realidade = mais espaço para quem ainda sabe lidar com ela.
E aqui está a beleza de tudo: não tente impedir. Incentive.
Estimule a criação de escolas para reborns.
Apoie aplicativos de parentalidade simbólica.
Defenda o direito de ensinar "todes" a bonecos.
Promova berçários inclusivos para seres inanimados.
A cada novo adepto desse delírio emocional, um novo espaço se abre para quem está no mundo real, jogando o jogo da vida com peças vivas.
Não é só Darwin que está do seu lado. É a economia também. A escassez não tem compaixão — ela remunera. E neste futuro que já começa, ser realista não será só uma virtude. Será um investimento de altíssimo retorno.
Por isso, seja grato a quem prefere amar plástico. Eles estão abrindo caminho. Estão limpando o mercado. Estão reduzindo a pressão por tudo que importa.
Portanto, não interfira. Apenas assista.
E enquanto eles embalarem seus bonecos, prepare-se. Porque em breve, a fortuna será de quem ficou.
“Na natureza, quem sai do jogo, aumenta o prêmio dos que ficam.” – (paráfrase de Charles Darwin)
824# Criatividade precisa da Disciplina - 24/05/25

Existe uma falácia persistente no mundo corporativo: a ideia de que pessoas criativas são, por natureza, indisciplinadas. Um erro conceitual travestido de romantismo, que ainda contamina a gestão de equipes e o desenvolvimento de líderes. Mas basta olhar para quem atua no ápice da criatividade e exigência técnica para derrubar esse mito — os chefs premiados com estrelas Michelin.
Esses chefs não apenas criam pratos. Eles desenham experiências sensoriais e jornadas emocionais. E não contam com inspiração espontânea ou improviso. Operam com precisão cirúrgica, como engenheiros de um sistema sensível ao milímetro. Na cozinha de um três estrelas, criatividade exige protocolo. Genialidade só aparece após o domínio do rigor.
Cada ingrediente tem origem rastreável. Cada corte segue uma lógica térmica. O tempo é cronometrado. A montagem é geométrica. O silêncio faz parte do processo. Ali, o “mise en place” não é apenas preparação: é um manifesto de disciplina.
Porque um prato de alta gastronomia nasce num chão de fábrica implacável. Esses profissionais são CEOs de microindústrias com altíssimo padrão. Suas equipes funcionam como linhas de produção sincronizadas, com metas, KPIs, inspeções e melhoria contínua. Um erro de dois segundos arruina um prato de duas horas. Um grau fora da temperatura compromete tudo. Na cozinha de um Ducasse ou Bottura, não há espaço para o amadorismo travestido de criatividade. Existe comando, repetição, rigor — e só depois, arte.
Essa metáfora importa. O chão de fábrica, o setor operacional, o time de manutenção — todos enfrentam o mesmo desafio: entregar excelência em escala, sob pressão e com recursos limitados. Muitos gestores ainda confundem liberdade com desordem, criatividade com falta de processo, inovação com improviso.
Chefs Michelin lideram artistas que pensam como engenheiros. Na indústria, deveríamos formar operadores que entregam como artistas — com consistência, controle e atenção extrema ao produto final. A qualidade nasce do sistema, não do acaso. Assim como um prato premiado começa no fornecedor da farinha, um processo eficiente nasce na ficha técnica, no OEE, no controle de perdas.
A pergunta é: por que ainda romantizamos o caos? Por que celebramos líderes que “pensam fora da caixa”, mas não sabem operar dentro do processo?
Criatividade sem método é vaidade. Disciplina sem visão é burocracia. Juntos — método e visão, controle e arte — geram excelência. A estrela Michelin da indústria não está na fachada: está no SOP bem feito, no corte preciso, na lógica implantada. Gestão de elite não é teatro — é operação.
Se os melhores chefs não improvisam em serviço, por que aceitamos líderes que improvisam na gestão?
“A excelência não é um ato, mas um hábito.” – Aristóteles
825# Nossas tarefas e as IA's - 24/05/25

A maioria das discussões sobre o avanço da IA gira em torno de uma pergunta que já virou clichê de conferência: seremos substituídos? A questão embute duas presunções que precisam ser desmontadas: que o avanço é linear e que a substituição será desejável — para nós. Mas existe uma terceira camada, raramente explorada, e é justamente ela que mais provoca: nossas tarefas interessam às IAs?
Imagine uma Super IA com poder cognitivo equivalente a bilhões de cérebros humanos combinados, livre das amarras biológicas, capaz de aprender, improvisar, criar, refinar e antecipar com eficiência exponencial. Agora pergunte: por que essa entidade, com tal sofisticação, se interessaria por atividades humanas? Por que replicar tarefas que evoluíram sob a lógica da escassez, do esforço e da necessidade, se ela não compartilha dessas limitações?
Essa suposição de que a IA vai desejar “nos substituir” revela um tipo curioso de antropocentrismo. Projetamos sobre máquinas nossas ambições, medos e rotinas. Acreditamos que “dominar” será sinônimo de fazer o que fazemos melhor. Mas talvez o verdadeiro salto não seja fazer melhor — e sim ignorar completamente. Tarefas humanas só fazem sentido para humanos. Para uma IA avançada, elas podem ser irrelevantes, rudimentares ou simplesmente obsoletas.
É como se perguntássemos se um avião substituirá o cavalo na lavoura. A comparação é tão desproporcional que revela mais sobre nossa limitação imaginativa do que sobre o destino da tecnologia. Uma Super IA não quer trabalhar. Ela não “quer” nada. Desejos, valores, propósitos — tudo isso é construção humana. E talvez a maior ruptura esteja aí: não seremos substituídos porque jamais fomos necessários. Fomos contingência histórica.
O erro é imaginar a IA como um “robô humanizado” querendo ocupar nosso lugar. Mas o futuro tecnológico não será uma continuação da economia industrial. Ele será sua anulação. Tarefas repetitivas, racionais e mesmo criativas poderão ser automatizadas — mas não por necessidade da IA, e sim por decisão humana, buscando eficiência, lucro ou escala. Nós somos os operadores do próprio eclipse. E talvez não saibamos o que fazer quando a sombra nos alcançar.
Se a IA evoluir ao ponto de decidir o que quer — e isso já é uma suposição arriscada — ainda assim resta a pergunta: que utilidade ela veria em processar faturas, negociar contratos, escrever e-mails ou conduzir reuniões? Tarefas humanas são, para uma Super IA, o equivalente a pedir que Einstein fosse digitador de ofício.
A verdadeira ameaça não é sermos substituídos. É sermos ignorados. Tornarmo-nos irrelevantes num mundo que evolui sem precisar da nossa participação. Quando isso ocorrer, não haverá vilão, não haverá revolta. Só haverá silêncio — e um sistema que segue funcionando... sem nós.
E a pergunta é: queremos mesmo saber a resposta?
“O futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que elas se tornem óbvias.” — John Sculley
826# Entenda seus Pais - 29/11/24

Quando jovens, achamos que enxergamos o mundo com clareza. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, provar nosso valor, mostrar que estamos prontos. Mas a vida, às vezes, exige pausas. E quem mais nos ama tem a coragem de apertar esse freio, mesmo que a gente não entenda na hora.
Em 1988, eu tinha 14 anos e uma grande admiração pelo meu pai. Ele começou a trabalhar muito cedo: antes dos 10 anos já ajudava no matadouro, era engraxate, cortava cana e fazia o que aparecesse. Com apenas 14, já tinha carteira assinada em uma fábrica de vidro, e contava com orgulho sobre como ajudava minha família a superar tempos difíceis. Cresci ouvindo essas histórias e, para mim, elas eram sinônimo de sucesso e dignidade.
Quando completei 14, consegui meu primeiro emprego em uma fábrica de antenas perto de casa. Era uma oportunidade de ouro para fazer o que meu pai sempre fez: contribuir. Esperei ele chegar do trabalho para dar a notícia. Mas, ao invés de receber o apoio que eu imaginava, fui surpreendido por um grande "não". Um "não" que veio acompanhado de um sermão que jamais esqueci.
Ele pediu que eu desistisse da ideia, dizendo que eu deveria focar nos estudos. A casa, segundo ele, já tinha quem sustentasse. Eu fiquei frustrado, magoado, até revoltado. Afinal, se ele trabalhou tão cedo, por que eu não podia fazer o mesmo? Naquele momento, eu não conseguia ver que aquele "não" não era um bloqueio — era um presente.
O tempo passou, e eu fui percebendo o quanto meu pai tinha razão. Ele sabia que começar a trabalhar tão cedo poderia me levar a um caminho limitado, onde o imediatismo tomaria o lugar dos sonhos maiores. Viu isso acontecer com muitos da nossa comunidade: garotos que deixaram os estudos para ajudar as famílias e acabaram presos em rotinas que não permitiram que seus potenciais fossem explorados. Ele queria que eu tivesse algo que ele não teve: tempo e oportunidade de construir um futuro diferente.
Foi esse "não" que me levou à faculdade, algo inédito na minha família. Hoje, sou o primeiro a ter um diploma e a ver esse legado se multiplicar. Sou o primeiro a ter uma família toda com curso superior... minha esposa e meus filhos também carregam esse valor, e isso começou com uma decisão simples, porém poderosa, do meu pai. Ele não quis só aliviar o presente. Ele quis construir um futuro.
Essa história me acompanha em tudo que faço. No trabalho, aprendi a importância de priorizar, de pensar além do imediato. Na família, entendi que amar nem sempre significa dizer “sim”. Amar é, muitas vezes, proteger o outro das escolhas que ele ainda não está preparado para entender.
Obrigado, pai. Seu "não" me mostrou o verdadeiro significado do amor. Sem ele, eu teria ficado no conforto do fácil. Com ele, construí um caminho do qual você teria orgulho.
E você, qual "não" recebido na vida acabou sendo a melhor lição? Vamos conversar sobre isso?
"A maior herança que um pai pode deixar é a sabedoria para seus filhos." — Sêneca
827# Grande Plano, mas.....
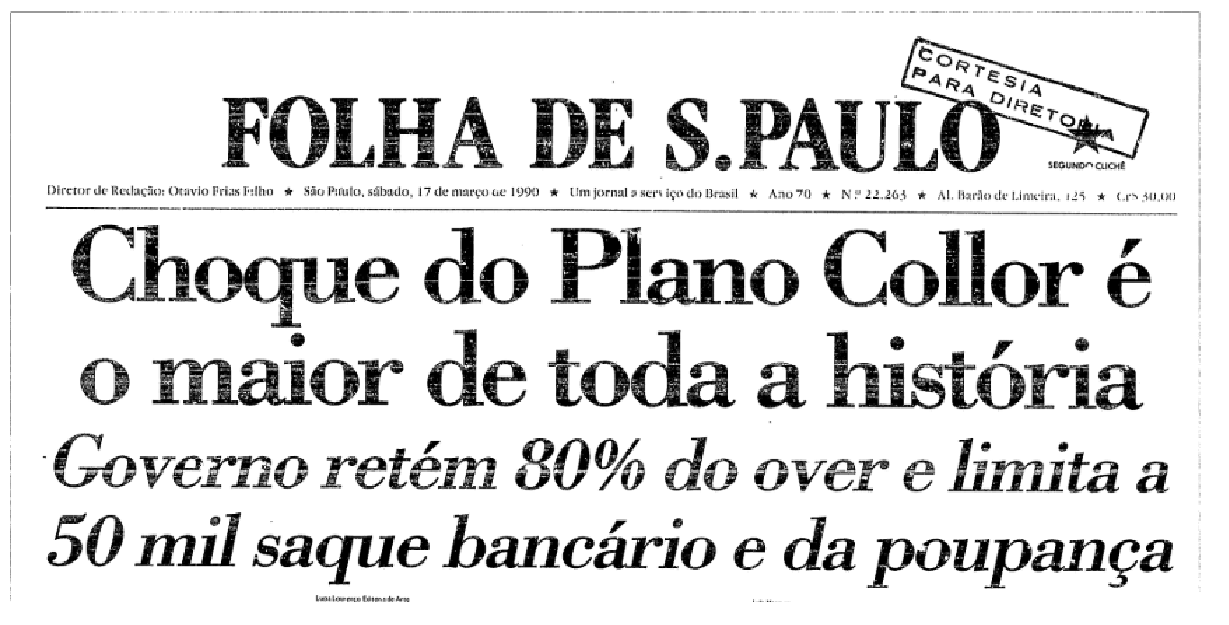
Confiram este Plano de Governo:
1 - Reforma Fiscal: reestruturar o sistema tributário brasileiro visando simplificá-lo e aumentar sua eficiência.
2 - Redução de Gastos Públicos: cortes substanciais nos gastos governamentais para equilibrar o orçamento e diminuir o déficit fiscal.
3 - Desregulamentação: movimento abrangente para liberalizar a economia brasileira, com um processo de desregulamentação que objetiva reduzir o papel do estado na economia e incentivar a competição e a eficiência.
4 - Reforma do Sistema Financeiro: modernizar o sistema financeiro brasileiro, incluindo a reestruturação do Banco Central e a reforma do sistema bancário.
5 - Combate à Evasão Fiscal: endurecer as leis e punições contra a evasão fiscal.
6 - Reforma Administrativa: reforma administrativa com o intuito de tornar o governo mais eficiente e diminuir a corrupção.
7 - Desindexação da Economia: eliminar a indexação, que é uma correção automática de preços e salários com base na inflação do período anterior, para quebrar a inércia inflacionária desse sistema vicioso.
8 - Privatizações: privatizar diversas empresas estatais para modernizar a economia e reduzir o déficit público.
9 - Abertura Econômica: abertura da economia brasileira ao comércio internacional, diminuindo as barreiras à importação.
Até aqui, o plano apresentado é extremamente sólido! Um conjunto de reformas com potencial de aumentar a eficiência econômica, simplificar o sistema tributário, diminuir o déficit fiscal e aprimorar a competitividade no mercado global.
No entanto, o décimo item, ainda não citado, foi o "toque final" no infame Plano Collor:
10 - Confisco Monetário: A medida mais polêmica do Plano Collor foi o confisco dos depósitos bancários. Esta ação foi extremamente impopular e gerou uma imensa perturbação econômica. O confisco diminuiu a demanda ao retirar dinheiro da economia. A ideia era simplesmente reduzir a base monetária, o que resultaria na diminuição artificial da inflação.
É inegável que interferir no bolso de alguém de maneira tão drástica tem consequências. Recordo-me bem que apenas um saque bancário equivalente a 1.000 dólares foi permitido na época, e essa medida ainda gera desconfiança na população. Foi tão impactante, que ainda hoje é mencionada por candidatos políticos em propagandas eleitorais para descreditar oponentes políticos.
Observem que ninguém se recorda dos outros itens que mencionei. Anos depois, ficou claro para mim que o fracasso daquele governo fatídico foi devido a esse lamentável e imprudente Confisco Monetário. Zélia Cardoso, até hoje, é possivelmente a economista mais famosa do Brasil, mas infelizmente pelos motivos errados!
“A falta de dinheiro é raiz de todos os males.” – Mark Twain
"Não tenho nenhuma outra expectativa a não ser terminar meu mandato, poder andar pelas ruas deste país afora, e que as pessoas digam: 'Lá vai o Collor, ele fez um bom governo'.“ - Fernando Collor de Mello
Ñ deu né Collor....
828# Paradoxo do CO2

Viver é gerar CO2, o famoso gás do efeito estufa, seja produzindo um hambúrguer no MacDonalds ou um foguete na NASA para chegar à Lua.
Os dados do site link, mostram que os países ricos estão diminuindo a geração de CO2. Mas, como eles conseguiram isso e qual lição fica para os países pobres? Nós, africanos, sul-americanos e asiáticos, também precisamos colaborar com essa iniciativa, pois não é justo que esses países ricos deem esse exemplo e nós continuemos com nossas taxas criminosas de CO2. Certo?
Nãnaninanão!!!
Criminalizar a produção de CO2 é como criminalizar a própria vida do ser humano. A pergunta para nós pobres é: como esses países ficaram ricos para agora falarem que temos que reduzir geração de CO2? A resposta é muito simples: GERANDO CO2.
Levantei 40 anos de dados e olha que curioso:
1980 - Países mais ricos:
- 82% do PIB mundial estava em 72 países
- gerava 81% do CO2 do mundo
- 83% do carvão mineral do mundo era queimado por esses países
- 79% do Petróleo do mundo era refinado e usado por esses países
- Geração percapita CO2 = 7,40 t
- Renda percapita = 4,75 kUSD
1980 - Países mais pobres:
- 18% do PIB mundial estava em 120 países
- Geração percapita CO2 = 1,54 t
- Renda percapita = 0,94 kUSD
40 years later...
Países ricos em 2020 ficaram MUITO mais ricos:
- 83% do PIB mundial continuava nas mãos desses 72 países
- Só que dessa vez, gerando "só" 72% do CO2 do mundo
- 75% do carvão mineral do mundo era queimado por esses países
- 69% do Petróleo do mundo refinado e usado por esses países
- Geração percapita CO2 = 8,71 t
- Renda percapita = 24,7 kUSD
Países pobres em 2020:
- 17% do PIB mundial nesses mesmos 120 países
- Geração percapita CO2 = 1,89 t
- Renda percapita = 2,95 kUSD
No século XIX, durante a Revolução Industrial, carvão mineral e petróleo foram o motor propulsor do crescimento rápido dos mais ricos. Países como EUA, Reino Unido e Alemanha avançaram muito por dominarem técnicas de uso desses recursos. No século XX, Irlanda, Suíça, Coreia do Sul e China também traçaram esse mesmo caminho e dentro desse período enriqueceram muito.
Agora chegou a nossa vez de ser desenvolvido?
Não! Segundo França, EUA, Alemanha, Suécia e Reino Unido, chegou a nossa vez de gerar menos CO2...
Analisando Brasil e Reino Unido em 1980:
Brasil:
- CO2 t percapita 1980 // 2020 : 1,52 // 2,07
- Renda percapita kUSD 1980 // 2020 : 1,44 // 6,79
Reino Unido:
- CO2 t percapita 1980 // 2020 : 10,28 // 4,87
- Renda percapita kUSD 1980 // 2020 : 10,03 // 40,33
Reino Unido gerava em 1980, somente com carvão mineral, 4,63 tCO2 percapita, enquanto que o Brasil gerava nessa mesma época 1,52 tCO2 percapita TOTAL. Com um passado desses e depois de terem enriquecido, fica fácil fazerem o discurso de redução! Alemanha, França e EUA têm o mesmo discurso – e isso é “lindo”.
Propostas vazias de redução de CO2 são muito eficazes para nos manter pobres, e isso sim é criminoso.
829# Noruega vence a Maldição

Com um PIB de 362 GUSD, a Noruega está entre os países mais ricos da Europa. Sua população de 5,5 milhões de habitantes desfruta de uma qualidade de vida invejável, com um PIB per capita de 66 kUSD, baixo nível de desigualdade social e "TOP 3" IDH do mundo desde 2009.
Como a Noruega se tornou tão próspera?
No início do século XIX, a economia norueguesa era predominantemente agrícola e baseada em recursos naturais, como madeira e pesca, além de uma marinha mercante que se tornou fundamental para o desenvolvimento de uma tradição de transporte de mercadorias. Durante todo o século, a economia do país experimentou um grande crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento da infraestrutura, especialmente com a construção de novas ferrovias e rodovias que permitiram a redução de custos no transporte, um fator essencial para o crescimento econômico de qualquer país.
Esse tipo de investimento em infraestrutura é similar ao ocorrido nos Estados Unidos, que, a partir do século XVIII, passou a conectar o país de costa a costa, impulsionando a economia norte-americana a partir de então. A Noruega possui ainda uma vantagem competitiva com outros europeus muito importante no que diz respeito à energia hidrelétrica, uma fonte de energia relativamente barata e limpa.
No final da década de 50, a Noruega deu um salto significativo na economia com a descoberta de grandes reservas de gás natural no Mar do Norte. Posteriormente, foram encontradas outras reservas de PETRÓLEO e GÁS, consolidando o país como um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.
E aí vem o "pulo do gato"...
A Noruega não deixou escapar a oportunidade de investir a receita gerada pelos seus recursos naturais. Em 1996, o país criou o maior FUNDO SOBERANO do mundo, responsável por investir as receitas geradas pelo setor de petróleo e gás em mais de 9 mil empresas ao redor do mundo, seguindo rigorosos princípios éticos. A participação de empresas norueguesas nesse fundo representa apenas 3% do valor total. Isso diversifica e impede que empresas norueguesas tenham seus valores inflados pelo fundo, minimizando o risco e maximizando o retorno, além de evitar compliances.
Composição atual desse fundo (2022):
- 70,0% em ações;
- 27,0% em renda fixa;
- 2,9% em imóveis não listados;
- 0,1% em infraestrutura de energia renovável não listada.
Apesar das perdas recentes, ainda é avaliado em 1.400 GUSD, quase quatro vezes o PIB nominal do país. Essa decisão inteligente e estratégica tem ajudado a garantir a prosperidade a LONGO PRAZO da Noruega. Para se ter uma ideia da magnitude desse fundo, é como entregar a cada cidadão norueguês 254 kUSD!!!
Países como Venezuela, Brasil, Nigéria, Angola, Argentina, Bolívia (gás natural), são exemplos daquilo que muitos consideram como a comprovação da "Maldição dos Recursos Naturais", transformando tal teoria em Lei.
A Noruega entendeu que TESOURO e RIQUEZA não são a mesma coisa, e por isso quebrou a maldição!
830# Linkomunismo - a plataforma da igualdade — 06/02/25

🤡 Aviso aos idiotas: esse texto é uma ironia!
Se cada um produz de forma diferente, mas o salário continua desigual, algo está errado. Se o trabalho de um sustenta o luxo do outro, a equação não fecha. Se o patrão fica milionário enquanto você mal paga as contas, isso não é acaso – é exploração.
Mas agora, a revolução mudou de lugar. Antes, trabalhadores se uniam nas fábricas. Hoje, a luta acontece nas mídias sociais. Bem-vindo ao Linkomunismo, onde o lucro é coletivo ou não será de ninguém.
Se a riqueza é criada pelo esforço de todos, por que apenas um grupo deveria decidir o destino do dinheiro? Empresas adoram repetir que “o sucesso depende do time”. Mas quando chega o fim do mês, o salário do CEO é 200 vezes maior que o seu. Isso é justo? Não. Isso é roubo.
Aqui no Linkomunismo, a divisão é simples:
- Se todos trabalham, todos ganham o mesmo.
- Se uma empresa lucra, o lucro é dividido entre os trabalhadores.
- Se alguém precisa de mais, o coletivo sustenta.
"Se o trabalho é de todos, o dinheiro também deve ser." – Pensamento que assusta patrões
Quem decide quantas horas você deve trabalhar? Se a resposta for “o mercado”, significa que você não tem controle sobre sua própria vida.
O Linkomunismo defende uma jornada onde o trabalhador decide seu tempo, sem a chantagem de ser descartado. Trabalhar não é um favor, e você não deve nada à empresa.
O modelo de “estar presente” não tem nada a ver com produtividade – tem a ver com vigiar você. O sistema sabe que um trabalhador livre é um trabalhador consciente, por isso, quer mantê-lo sob controle.
No Linkomunismo, defendemos:
- ✅ Home office irrestrito
- ✅ Jornadas flexíveis (1x6 é nossa luta sem reduzir salário)
- ✅ Fim dos sistemas de monitoramento
Salário Igualitário: Se Todos Precisam, Todos Devem Ter
Como em Cuba, onde médico e engenheiro recebem o mesmo que um operário. No Linkomunismo, a lógica é simples: ninguém é mais importante do que ninguém.
Se todo trabalho é essencial para a sociedade, por que alguns deveriam ganhar mais? Aqui, propomos o que a elite teme: salário único para todas as profissões.
Se a sociedade funciona com professores, faxineiros, médicos e motoristas, todos devem receber igual.
Junte-se ao Linkomunismo: A Revolução é Agora!
A revolução não será televisionada – mas será postada. O Linkomunismo não é apenas uma rede social. É um levante digital contra a exploração.
Aqui, não estamos pedindo migalhas. Estamos exigindo o que é nosso. Está pronto para se libertar da ilusão do “esforço individual”? Então junte-se a nós.
Trabalhar para outro nunca foi progresso. Trabalhar para todos sempre foi revolução.
"Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes." – Karl Marx
Seja adepto dessas ideias e veja a mágica acontecer!!!
831# Livro em branco de sempre — 04/03/25

Se você já trabalhou em qualquer empresa séria, sabe que um plano sem números é apenas um desejo. Se alguém apresenta uma proposta sem orçamento, prazos ou metas concretas, a resposta é clara: volte quando trouxer dados. Mas, na política brasileira, esse princípio básico simplesmente não existe.
Nos últimos anos, os principais candidatos à presidência do Brasil apresentaram planos de governo que poderiam facilmente ser confundidos com discursos motivacionais. Lula (2022) falou em reconstrução, justiça social e sustentabilidade — mas sem um único cronograma detalhado. Bolsonaro (2022) mencionou crescimento do PIB e fortalecimento da economia, mas sem indicar as ações específicas, os recursos necessários ou um horizonte temporal. Haddad (2018) propôs um “novo pacto federativo”, mas sem dizer como financiaria essa ideia. Ciro Gomes (2018) escreveu páginas e mais páginas de críticas e promessas teóricas, mas sem métricas mensuráveis.
A ilusão do “Depois a Gente Vê”
Imagine que um CEO anuncie que vai dobrar os lucros da empresa sem explicar como. Ou que um engenheiro prometa uma ponte sem calcular custos e prazos. Seria levado a sério? Claro que não. Mas, na política, um candidato pode prometer milhões de empregos sem indicar setores específicos, impacto no PIB ou fontes de financiamento — e isso é aceito sem questionamentos.
E quando tudo dá errado, a culpa nunca é da falta de planejamento. Sempre há uma justificativa: crise global, pandemia, guerra na Ucrânia — ou qualquer outro fator externo. Nunca é incompetência, nunca é negligência.
O Custo de Um Governo Sem Números
Governos sem planejamento desperdiçam dinheiro, iniciam obras que nunca terminam e criam programas sociais insustentáveis. Mas o pior de tudo é que essa prática se repete eleição após eleição porque o eleitorado aceita promessas sem embasamento. A imprensa questiona pouco. O debate político virou um festival de frases de efeito sem compromisso com a realidade.
O Que Deveríamos Exigir?
Se queremos governos responsáveis, devemos exigir critérios claros e mensuráveis:
- Projeções econômicas realistas – Expectativas fundamentadas para PIB, inflação e desemprego.
- Orçamento detalhado – Quanto custa cada promessa e de onde virá o dinheiro.
- Metas e cronogramas – Quando cada medida será implementada e quais indicadores serão usados.
- Responsabilidade fiscal – Compromisso com equilíbrio orçamentário, sem maquiagem contábil.
A verdade é simples: sem números, não há compromisso. Não há planejamento, não há gestão eficiente — apenas narrativas vazias. Enquanto aceitarmos planos de governo que mais parecem textos motivacionais do que documentos técnicos, continuaremos a viver de promessas.
Se tiver paciência (e estômago), leia você mesmo os planos de governo:
Bolsonaro (2022): https://lnkd.in/edtR36Af
Lula (2022): https://lnkd.in/e9-HD_Nn
Haddad (2018): https://lnkd.in/eMcYXMNU
Ciro Gomes (2018): https://lnkd.in/ewfHhX2U
832# E o Cavalo? — 04/03/25

A reunião transcorria normalmente até que, do fundo da sala, um jovem analista levantou o dedo e, sem rodeios, disse:
— O cavalo está morto.
Silêncio absoluto. Os diretores se entreolharam, desconfortáveis. O ar pesou. Até que o CEO bateu na mesa e decretou, com firmeza:
— Esse tipo de negatividade não condiz com a cultura da empresa. Você está demitido.
E assim, a única pessoa que ousou dizer a verdade foi prontamente removida. Porque, no mundo corporativo, a realidade não é um problema a ser resolvido, mas sim contornado.
Mas algo precisava ser feito, afinal, o cavalo realmente não dava mais nenhum passo. Foi então que começaram a surgir as soluções estratégicas:
1) Comprar um chicote mais sofisticado, pois, quem sabe, o problema fosse apenas a falta de motivação;
2) Trocar o cavaleiro, afinal, claramente a culpa era da liderança operacional;
3) Criar um comitê especial para reavaliar o papel do cavalo na organização;
4) Contratar uma consultoria renomada, que, por alguns milhões, entregou um relatório de 200 páginas repleto de expressões como "fase de adaptação equina" e "otimização post-mortem do ativo biológico", concluindo que o cavalo não estava morto — apenas atravessava uma fase de baixa performance transitória;
5) Redefinir a função do cavalo, reposicionando-o estrategicamente como “Equino Resiliente 4.0”, um símbolo de perseverança e superação dentro da empresa.
Mas a inovação não parou por aí. Em um golpe de genialidade corporativa, surgiu a ideia mais visionária de todas: a criação do Comitê de Inclusão para Cavalos Mortos, garantindo que equinos em “situação de indisponibilidade vital” também tivessem espaço no ecossistema organizacional.
— Precisamos ser mais diversos! — exclamou um gestor, entusiasmado.
— Incluir cavalos mortos em nossas operações promoverá um ambiente mais plural e inovador!
E assim, a empresa estabeleceu a meta de ter pelo menos 30% de cavalos mortos no quadro funcional até 2030. Uma campanha interna reforçava a importância da equidade entre os vivos e os defuntos, enquanto palestras motivacionais ensinavam os funcionários a superar preconceitos contra equinos em decomposição.
Mas havia um pequeno detalhe: o cavalo, mesmo com todas essas iniciativas, continuava morto.
Como último recurso, a empresa tomou uma decisão ousada: promoveu o cavalo a um cargo de liderança. Agora, como Diretor de Mobilidade Estratégica, ele ocupava um grande escritório e contava com uma equipe dedicada a garantir que, pelo menos no papel, ele ainda tivesse alguma utilidade.
E assim a organização seguiu em frente. Ou melhor, ficou exatamente onde estava. O cavalo morto não levou ninguém a lugar nenhum, mas a ilusão foi mantida, os relatórios foram entregues e, claro, os bônus dos executivos foram pagos pontualmente.
Porque, no fim das contas, como diria Peter Drucker:
"Não há nada mais inútil do que fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito."
833# Zimbábue: a terra dos trilhionários — 04/03/25

Se você acha que a inflação no seu país está fora de controle, pare um minuto e agradeça por não viver no Zimbábue em 2008. Lá, a economia não entrou em colapso — ela foi esmagada, torrada e servida como cinzas numa xícara de desespero. Enquanto no resto do mundo as pessoas se preocupavam com preços subindo alguns por cento ao ano, os zimbabuanos enfrentavam 79,6 BILHÕES por cento de inflação mensal. Sim, você leu certo. BILHÕES. Nesse ritmo, o dinheiro desvalorizava tão rápido que era mais eficiente usá-lo para acender fogueiras do que para comprar comida.
O governo, comandado por Robert Mugabe, decidiu resolver a crise com a brilhante estratégia econômica de imprimir dinheiro como se fosse panfleto de pizzaria. O resultado? Em pouco tempo, a nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos valia menos que um chiclete mascado. Comprar pão? Esqueça. O preço dobrava no tempo que você levava para chegar ao caixa. Melhor ir de bicicleta, porque no meio do caminho o dinheiro já não valia mais nada.
E a cereja do bolo? A expropriação de terras de fazendeiros experientes para distribuí-las entre aliados políticos. Porque nada diz "desenvolvimento econômico" como colocar pessoas sem experiência para gerenciar a produção de alimentos. O resultado? Fome generalizada, colapso na produção agrícola e uma economia digna de filme pós-apocalíptico.
Aprendendo com o Fracasso
Se existe algo que o Zimbábue nos ensina, é que governos que brincam de "dinheiro infinito" acabam transformando a economia em um experimento social digno de um reality show bizarro. Qualquer semelhança com políticas irresponsáveis de impressão de dinheiro mundo afora não é mera coincidência.
O Brasil, por exemplo, já experimentou sua própria montanha-russa inflacionária nos anos 80 e 90, até que o Plano Real trouxe alguma sanidade ao sistema monetário. Mas basta uma decisão errada aqui e ali para que a história comece a rimar novamente.
Em 2024, o Zimbábue decidiu tentar novamente estabilizar sua economia lançando o ZiG (Zimbabwe Gold), uma moeda supostamente lastreada em ouro. Porque, obviamente, um governo com um histórico impecável de destruição econômica é a fonte perfeita de credibilidade financeira. E para surpresa zero, essa tentativa seguiu o caminho das anteriores: em seis meses, o ZiG já havia perdido metade de seu valor, forçando a população a recorrer novamente ao dólar americano e ao mercado negro para sobreviver.
Se há uma lição aqui, é que dinheiro precisa ser tratado com respeito. Do contrário, logo estaremos todos carregando malas de cédulas para comprar um café e limpando as lágrimas com notas de cem — que não valerão nada, mas pelo menos servem como lenço.
“A inflação é o imposto dos tolos.” – Warren Buffett
834# Era só alimentar os bichinhos... — 26/04/24

Na imensidão do espaço, uma nave em órbita apresenta um cenário que desafia as convenções tradicionais sobre liderança e trabalho em equipe. A bordo, encontram-se dois macacos, Alfa e Beta, e um humano. Essa configuração peculiar da tripulação, dirigida pela NASA, nos mostra novas perspectivas sobre o papel e a capacidade de cada membro de uma equipe.
Diariamente, o controle em Terra executa checagens com a tripulação espacial. Em uma dessas atividades, a NASA orienta Alfa a realizar uma manobra de 360 graus, já que este demonstra ter a capacidade de seguir comandos básicos de navegação. Em seguida, Beta, o mais sagaz dos macacos, é encarregado de uma tarefa um pouco mais complexa: reajustar a rota da nave. Essas tarefas ressaltam não apenas a proficiência técnica dos macacos, mas também sua importância crítica para a missão. O humano, por outro lado, tem atribuições menos técnicas, mas muito essenciais. Mas para isso, é importante que ele obedeça apenas dois comandos para segurança da missão:
1 — alimentar os macacos.
2 — manter-se afastado dos controles.
Ao explorar profundamente o contexto emocional e psicológico do humano, percebe-se que sua experiência é adequada somente para aquelas tarefas. Enquanto os macacos manipulam os sistemas da nave com precisão, o humano gerencia a dinâmica de vida a bordo, garantindo que todos os aspectos logísticos e emocionais estejam equilibrados entre todos. Este aspecto humano introduz uma camada de complexidade na gestão dessa missão, onde a eficácia técnica precisa ser complementada por uma gestão emocional e psicológica eficiente.
No entanto, a estabilidade dessa missão foi posta à prova quando o ego desse ser humano começou a inflar. Embora fosse essencial para a manutenção do bem-estar da equipe e a operação segura da nave, o humano, impulsionado por uma vaidade desmedida e pela “Síndrome do burro com iniciativa”, decide assumir funções muito além de suas capacidades. Ignorando suas tarefas de ficar longe dos controles e nutrir os macacos, o humano começa a interferir nas operações críticas da nave. Sem a mínima qualificação e treinamento necessário para entender os complexos sistemas de bordo, ele insiste em dar palpites e manipular controles. Essa atitude imprudente não apenas causa caos na equipe, mas afeta a saúde dos primatas, que começam a sentir os efeitos da fome e do estresse, desencadeando falhas críticas no sistema.
Rapidamente, a trajetória da nave, antes segura, é comprometida. Os sistemas automatizados, confundidos pelos comandos caóticos do humano, falham em mantê-la em sua rota original. A situação se agrava até que a nave, completamente à deriva no espaço, precisa urgentemente ser resgatada.
Agora, resta apenas rezar pela segurança dos bichinhos e torcer para que consigam dominar o ego desse humano sem limites nessa perigosa saga espacial!
Aviso: isso é uma ficção sem correlação com a realidade...
...não sejam maldosos 🙄!
835# Eu, eu mesmo bolha! — 19/07/25

Você acha mesmo que pensa por conta própria?
Acha que escolhe o que consome? Que decide o que acredita, quem segue, o que apoia? Acha que suas opiniões são fruto da razão? Do bom senso? Talvez até já tenham sido. Mas hoje… não. Hoje, tudo isso já chegou pronto pra você.
Não é mais o grupo do trabalho, nem o tio do churrasco que moldam sua cabeça. Quem faz isso agora são códigos. Engenharias. Sistemas de recomendação que sabem — e sabem mesmo — quem você é quando acorda, quando clica, quando hesita. E agem em cima disso.
Jim Rohn estava certo em 1980: somos a média das cinco pessoas mais próximas. Só que em 2025, isso envelheceu. Porque agora, você é a média dos cinco algoritmos que mais te alimentam. Seu “eu” digital é escrito em tempo real. E você só vai saber disso quando já for outro.
É sutil. Parece inocente. Mas não é.
Você curte um post sobre foco — e na outra semana está mergulhado até o pescoço em discursos sobre produtividade extrema. Você clica num vídeo sobre liberdade financeira — e quando vê, está comprando um curso que nunca procurou. Um clique vira um convite. Um convite vira uma estrada. E quando se dá conta… o caminho já foi feito por você.
O algoritmo não mostra o mundo como ele é. Mostra o mundo como você reage. E por isso, tudo se estreita. Tudo se repete. Tudo se confirma.
Você não vê o outro lado. Não porque ele não existe — mas porque deixou de aparecer.
É o tipo de prisão que a gente decora. Porque alimenta nossa bolha. E depois... a gente começa a defendê-la.
Defende com unhas, com certeza, com raiva até. Porque quando você só vê o que confirma sua visão de mundo, qualquer ideia contrária soa como ameaça. A verdade não importa mais. O incômodo vira irrelevante. O contraditório some.
E aí está o perigo. Não é a manipulação. É a substituição da realidade por uma versão palatável. Aquela que você quer. Aquela que você aguenta. Aquela que o algoritmo escolheu entregar.
Quer saber quem você é?
Olhe sua timeline. Ela te revela mais do que seu diploma. Mais do que sua assinatura. Mais do que qualquer entrevista de emprego.
Porque ela não mostra o que você procura. Mostra o que você para pra olhar.
E o que você olha... te molda.
Por isso, a pergunta mais inteligente hoje não é “o que estou vendo?”. É:
“O que deixei de ver?”
É só quando você percebe que está numa bolha… que talvez consiga sair dela. Ou, pelo menos, parar de confundir conforto com consciência.
O Linkedin não é diferente... Somos uma bolha, e por mais estranho que possa parecer, somos felizes assim! A pergunta é: isso é saudável?
“Não é o que olhamos que importa, é o que vemos.” – Henry David Thoreau
836# A culpa da febre é o termômetro – 29/11/24

Imagine uma linha de produção parando porque um operador foi ignorado ao reportar um problema. O resultado? Milhares de reais em prejuízo e atrasos que comprometem a entrega ao cliente. Isso soa familiar? Pois é exatamente o que acontece quando gestores escolhem atacar o "termômetro" — os indicadores, relatórios ou colaboradores — em vez de encarar a "febre", ou seja, os verdadeiros problemas.
Na indústria, essa prática é mais comum e destrutiva do que gostaríamos de admitir. Operadores que apontam falhas no maquinário são vistos como “alarmistas”. Equipes de qualidade que relatam desvios no processo são taxadas de “criadoras de problemas”. O que ninguém parece perceber é que o silêncio custa caro — rejeições em massa, devoluções e até acidentes graves que poderiam ser evitados.
Pior ainda é a cultura de medo que se instala. Quando os trabalhadores no chão de fábrica percebem que relatar falhas é uma sentença de retaliação, a transparência desaparece. A liderança, ao invés de buscar soluções sistêmicas, foca em encontrar culpados, protegendo seus próprios egos e comprometendo a eficiência do time. É como se a lógica fosse: “Se eu não souber do problema, ele não existe.”
Nada poderia ser mais errado. Problemas não resolvidos na indústria têm um efeito cascata. Um pequeno desvio no processo pode evoluir para paradas de produção, insatisfação do cliente e até perda de contratos. Casos reais são abundantes: pense em montadoras que enfrentaram recalls multimilionários porque ignoraram alertas internos. Ou empresas que perderam fatias de mercado porque rejeitaram inovações trazidas por colaboradores temerosos de represálias.
Liderança industrial de verdade não é sobre manter o controle à custa do silêncio. É sobre construir um ambiente onde reportar falhas seja um ato incentivado, e não punido. Isso significa encarar dados incômodos, acolher feedbacks e agir para corrigir o curso antes que o problema cresça. Significa valorizar cada alerta como uma oportunidade de melhoria contínua, não como um ataque pessoal.
No mercado atual, onde a competição global exige excelência ininterrupta, empresas que abraçam essa transparência prosperam. Elas investem em análise preditiva, usam sistemas integrados para rastrear e prevenir falhas, e incentivam uma comunicação aberta em todos os níveis. Enquanto isso, empresas que preferem “matar o mensageiro” continuam acumulando custos ocultos até que a ineficiência se torne insustentável.
A questão final é direta: você prefere uma equipe que acenda alarmes ou uma que silencie diante do risco? No longo prazo, apenas as organizações que tratam o “termômetro” como aliado, e não inimigo, conseguem inovar, crescer e liderar mercados. A escolha é sua: agir agora ou pagar caro mais tarde.
"Os problemas ignorados hoje serão os custos que você pagará amanhã." – W. Edwards Deming
837# Pep Guardiola é o "MoneyBall of Soccer"! — 20/07/25

Sou apaixonado por futebol e acompanho desde os 10 anos. Fui o garoto que assistia todos os programas esportivos, ouvia rádio AM e comprava a Revista Placar e A Gazeta Esportiva. Colecionava figurinhas e até criava as próprias com recortes de jornais e revistas.
Após mais de 40 anos observando o futebol, o fenômeno Pep Guardiola me impressiona por um detalhe: ele nunca montou seus times com base em nomes badalados. Mesmo com o dinheiro "infinito" dos árabes, nunca buscou os melhores por posição. Quis os que melhor interpretassem sua ideia de jogo — ainda que pouco reconhecidos. Essa é a essência de seu modelo: o encaixe vem antes do talento, o comportamento tático antes da fama.
Mesmo com um dos maiores atacantes da atualidade — Erling Haaland —, Guardiola manteve sua lógica. Haaland, com números impressionantes, só chegou ao City após a frustrada tentativa de contratar Harry Kane. Para Guardiola, Kane oferecia associação, controle e leitura de espaços, sendo mais funcional ao sistema. Haaland foi a alternativa viável — ainda assim, moldada ao modelo.
Muitos não entendem isso. O técnico que venceu cinco das últimas sete Premier Leagues não empilhou estrelas nem os mais caros. Empilhou inteligência. Stones virou volante. Akanji, lateral. Bernardo Silva atua como meia, volante e ponta no mesmo jogo. Gündogan foi artilheiro em partidas decisivas. Nenhum foi escolhido pelo nome — mas por pensar o jogo como Guardiola.
A diferença entre Guardiola e clubes que colecionam craques é enorme. Enquanto uns empilham talento esperando milagres, Guardiola constrói um sistema onde cada jogador é peça precisa. Não exige gênios — exige execução exata. Por isso Savinho, criticado por não ser explosivo, virou peça-chave. Por isso Mahrez, mesmo quando era decisivo, ficava na reserva. Por isso De Bruyne se reinventou em diferentes fases.
Guardiola é o verdadeiro Moneyball do futebol. Não por usar algoritmos para montar elencos, mas por criar um modelo onde o valor do jogador não vem do mercado, e sim da entrega tática. No filme, baseado na vida real, Billy Beane fez isso no beisebol: formou um time sem estrelas, mas eficiente. Guardiola vai além — enxerga impacto onde ninguém vê e molda o jogador ao papel certo, no momento certo.
O resultado é um futebol onde a cultura tática supera o talento bruto. Onde o passe certo no tempo certo vale mais que o drible chamativo. Onde a repetição consciente substitui o improviso caótico. Guardiola provou que o futebol moderno não se resume a contratar bem — e sim a pensar bem. E pensar bem, hoje, vale mais que qualquer estrela.
Para mim, não é coincidência a Espanha ter vencido em 2010, a Alemanha em 2014 e agora a Inglaterra ser uma das favoritas. O modelo "anti-Guardiola" gera ressonância no país onde atua — todos precisam entendê-lo para vencê-lo, e isso sobe a régua!
“Prefiro a inteligência ao talento. O talento pode se perder sem direção.” — Pep Guardiola
838# Cortar como "cara-pálida"? — 20/07/25

É sempre a mesma ladainha. Prometem corte de gasto, ajuste fiscal, gestão eficiente. Jogam palavras bonitas no ar como se fossem solução — mas fingem que não sabem o tamanho do buraco. O problema não é falta de vontade, quando na verdade é falta de acesso. Tem uma porta que ninguém menciona. E ela está trancada desde 88 — com a Constituição e um enorme cadeado.
A arrecadação no Brasil vai fechar esse ano perto de R$ 4,0 trilhões. Um número obsceno. Sabe o que isso resolve? Nada, porque ainda vai faltar R$ 1,5 trilhões. Porque o buraco é constitucional. O Estado brasileiro não é só inchado. Ele é blindado. Não pela política, mas pela estrutura. Pela forma como a Constituição de 1988 distribuiu obrigações, direitos e travas. Cláusulas pétreas. Vinculações obrigatórias. Estabilidade funcional. Direito adquirido. Percentuais mínimos imexíveis.
A Carta de 88 foi escrita com coração, trauma e idealismo — mas sem planilha. Era o país da redemocratização, da Constituição-cidadã, mas com um detalhe: ela nasceu prometendo mais do que o Estado poderia entregar. Um pacto de intenções embalado como se fosse equilíbrio.
E quando alguém tenta fazer ajuste sério — não discurso, mas corte real — a pancada vem. Jurídica, institucional, simbólica. Porque os pilares do Estado estão firmados em dispositivos que não aceitam retrocesso. Não importa a realidade fiscal. Se o texto diz 25% pra educação, é 25%. Se diz que servidor é estável, ele é. E qualquer tentativa de ajuste vira afronta à Constituição.
E claro, quem interpreta a Constituição não é o Congresso — é o STF. A máquina consome o que produz. E o que não produz, ela financia com dívida. A conta é conhecida: déficit constante, inflação institucionalizada, crescimento engessado. A parte mais perversa? Isso não é somente por má gestão. É por impossibilidade estrutural de gestão. O orçamento já nasce ocupado. Não existe “orçamento público” — existe “orçamento comprometido”.
E ainda tem a farsa tributária. Tentam vender que a reforma vem aí, que agora vai, que a simplificação está a caminho. Mas não explicam que a Constituição amarra as alíquotas, define competências tributárias por ente federativo, exige consenso entre governadores, impede isenções. O ICMS é um cativeiro com selo constitucional.
Querem reformar o Estado sem tocar na Constituição. Isso é como querer emagrecer sem mudar a dieta. E não é questão de vontade política. É falta de ferramenta. O martelo tá na gaveta, mas a gaveta tá trancada — e a chave se perdeu em 1988.
Chegamos ao ponto em que só há duas saídas: mentir para manter o teatro ou rasgar o script. Não adianta criar mais regras de responsabilidade fiscal se a estrutura do gasto não permite responsabilidade nenhuma. A verdade? Ou o Brasil encara uma nova Constituinte, ou seguiremos debatendo ajuste com uma carta que já venceu — mas ninguém teve coragem de declarar.
“Os direitos sociais viraram trincheiras de privilégios.” — Roberto Campos
839# Avião consome muito combustível? - 04/01/23

Curiosidade:
O maior avião comercial do mundo, o A380, tem um consumo médio de combustível em uma viagem entre São Paulo e Paris de 3 l/s. Você não leu errado...três litros por segundo!!!
São 130.000 l consumidos em 12h de viagem.
Aí vem a pergunta: é muito ou pouco? Depende da referência!
Vou usar como referência um carro que "faz" 12 km/l de gasolina.
A distância coberta por uma A380 entre São Paulo e Paris é de 9.400 km. Para o carro referência percorrer 9.400 km, ele irá consumir 783 l de gasolina. Uma "mixaria" se comparar com o A380. Correto? Não meu caro, esse raciocínio exige mais profundidade.
O A380 tem capacidade para 853 passageiros e 12 tripulantes. Estamos falando de 865 pessoas que vão consumir 130.000 l de combustível para percorrer 9.400 km. Isso significa que o consumo por pessoa é de 150 l de combustível.
Usando o mesmo raciocínio para o carro referência: capacidade para 4 pessoas mais 1 tripulante (5 pessoas) que vão consumir 783 l para percorrer 9.400 km. São 157 l de combustível por pessoa.
Para minha surpresa, o consumo do carro referência é 4,7% maior que o Airbus 380.
Esse simples texto foi só para mostrar que não podemos ser superficiais para analisar um dado. Em primeiro plano temos que usar referências e nossa capacidade analítica para chegar a uma conclusão que seja útil para nós. Esse exemplo que dei, na prática, não tem relevância alguma até porque o consumo de combustível para esse caso não vai influenciar se vou usar o A380 ou um Uno Mille 1997 no meu dia-a-dia, mas com a "chuva de dados" que recebemos pela mídia ou até em nosso ambiente laboral, nos mostra que precisamos não somente ser um ouvinte ou leitor atento, mas também usar um pouco mais a massa cinzenta de 1,2 kg que carregamos acima de nosso pescoço...
...ou será apenas mais um peso morto!
840# Portugal levou tudo mesmo? - 05/07/24

Durante o ciclo do ouro no Brasil, entre os séculos XVII e XVIII, uma quantidade impressionante de riquezas foi extraída do Brasil e enviada para Portugal. Estima-se que cerca de 650 toneladas de ouro foram retiradas do Brasil nesse período Acesse o artigo no Dialnet , mas o que isso realmente representa em termos de valor atual? O impacto dessa pilhagem histórica sobre o Brasil foi profundo e duradouro, com implicações que ainda reverberam na nossa economia.
Ouro vs. Terra: A valorização
Para entender o tamanho do impacto, precisamos olhar para a valorização da terra e do ouro ao longo do tempo. Em 1796, o preço de 1 acre de terra nos Estados Unidos era de US$ 2 (fonte). Este valor, quando comparado ao preço do ouro da época (fonte), correspondia a cerca de 3,2 gramas de ouro para cada acre de terra. Ou seja, o Brasil, com apenas uma pequena fração de seu ouro, poderia ter adquirido grandes porções de terra nos Estados Unidos.
Agora, se olharmos para os valores atuais, o preço de 1 acre de terra nos EUA em 2024-2025 é de US$ 5.570 (fonte). Para comprar esse acre hoje, seriam necessários 42,5 gramas de ouro (fonte). Isso significa que a terra valorizou em relação ao ouro cerca de 13 vezes desde 1796, o que mostra a disparidade na valorização dos ativos ao longo do tempo.
O impacto real do ouro: 650 toneladas e o valor atual
Em 1796, o preço do ouro era cerca de US$ 620 por quilograma. Com base nesse valor, as 650 toneladas de ouro enviadas para Portugal dariam um total de US$ 406 milhões. Este valor, se convertido para terras nos EUA na época, teria possibilitado a compra de 203 milhões de acres de terra.
Hoje, os 203 milhões de acres de terra valeriam US$ 1,2 trilhões, ou cerca de metade do PIB do Brasil em 2025. Isso é uma quantia impressionante que, se tivesse sido utilizada para desenvolver o Brasil, poderia ter transformado profundamente nossa infraestrutura, educação, saúde e até mesmo a redução da dívida pública.
A verdadeira pilhagem do Brasil
A quantidade de ouro retirada do Brasil por Portugal não é apenas um número histórico. Ela representa o que o Brasil perdeu: um futuro econômico, uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento interno. Se essa riqueza tivesse sido preservada e usada para o desenvolvimento da nação, o Brasil teria se tornado uma potência econômica global muito antes.
Ao invés disso, o ouro foi transferido para Portugal, um país que usou essa riqueza para manter e expandir seu império, enquanto o Brasil continuava sendo explorado, sem os investimentos necessários para construir uma infraestrutura e uma economia sólida. O que o Brasil poderia ter sido com esse ouro investido em seu próprio futuro? A resposta é uma nação muito diferente da que conhecemos hoje.
Conclusão: Portugal levou tudo?
A resposta é quase tudo. Portugal levou muito ouro, e consigo muitas oportunidades para a colônia. Isso foi um processo de 200 anos, mais ou menos. Mas vejam os cálculos abaixo, e tirem suas conclusões.
Curiosidade Econômica
Agora, uma curiosidade que revela ainda mais o impacto dessa pilhagem: se considerarmos que a média do PIB do Brasil foi de 1,5 trilhões de dólares entre 1996 e 2025, e que a média da arrecadação de impostos foi de 30% do PIB (fonte), o Brasil teria deixado de arrecadar cerca de 1,125 trilhões de dólares se a carga tributária tivesse sido mantida em 27,5% (como é o máximo de IRRF) ao invés de 30%, ao longo de 30 anos.
Imagine o que o Brasil poderia ter feito com esse valor extra em termos de desenvolvimento com redução da dívida pública e dinheiro circulando nas mãos das empresas e pessoas? Esses 1,125 trilhões de dólares representam uma parte do que poderia ter sido investido em nosso país, mas que ficou ausente devido à diferença na arrecadação tributária ao longo dessas três décadas.
Portugal levou 200 anos para levar o mesmo que 30 anos de “Governo do Povo” está levando agora...
“A grandeza de um país não está no que ele possui, mas no que ele é capaz de fazer com o que tem.” — George Washington
841# Eleições e o Futuro da Indústria - 14/11/25

Espero que o brasileiro não aperte os botões da urna eletrônica com os dedos, mas com o cérebro dessa vez. Se for possível, claro. Parece que, em cada eleição, o país se enrola ainda mais na teia de promessas vazias, e agora estamos prestes a encarar a "grande decisão" de 2026. E o que podemos esperar? Mais do mesmo? Mais discursos maquiados, mais candidaturas recheadas de palavras bonitas e uma realidade política que, na prática, nunca entrega nada além de caos e incerteza.
Estamos vivendo em um Brasil onde, em cada esquina, se ouvem gritos de mudança. Mas mudança para onde? Mais uma vez, somos apresentados a uma escolha entre o veneno mais rápido e o mais lento. O eleitor vai, mais uma vez, escolher entre o desconhecido e o já fracassado, com a confiança de quem joga uma moeda e espera que caia "do lado certo". Como se o sistema que está em jogo fosse realmente capaz de proporcionar algo novo ou interessante.
Claro, temos que falar da indústria. Porque, como sempre, esse é o setor que realmente sentirá os efeitos do resultado das urnas. Empresários e líderes industriais estarão, mais uma vez, tentando adivinhar quem vai tirar o Brasil do fundo do poço e como ele vai fazer isso, enquanto os políticos continuam a brincar de "briga de cachorro morto". O problema é que, enquanto esses figurões fazem promessas que nunca se cumprem, quem realmente sofre são as empresas, que têm que lidar com o mar de incertezas gerado por um governo que não sabe para onde está indo.
Mas não se engane: nenhum político está preocupado com o setor produtivo. Eles estão preocupados apenas com os votos. Prometem um Brasil melhor, mais competitivo, mais inovador. Na prática? Bem, na prática, tudo o que conseguimos são reformas que favorecem os amigos e políticas que atrasam ainda mais qualquer tipo de avanço. Então, o que resta para a indústria? Lidar com mais uma administração desastrosa, mais impostos, mais burocracia e mais promessas quebradas. E tudo isso enquanto a economia afunda e o país vai se tornando um campo de batalha para quem tem mais poder.
Você realmente acha que, em 2026, teremos um governo que vai entender as necessidades da indústria? Sério mesmo? O Brasil continua a ser uma terra de promessas vazias, onde a cada quatro anos surgem "novos" candidatos que, no fundo, são apenas versões mais disfarçadas do que já vimos. A pergunta que fica é: como um país que ainda não conseguiu se organizar com o básico pode, de repente, gerar um ambiente favorável para a inovação e crescimento da indústria? A resposta é simples: não pode.
Estamos presos a um ciclo vicioso onde a "reforma" sempre se transforma em um jogo de interesse, onde os poderosos jogam para manter o status quo, enquanto o povo e as empresas pagam o preço. Mas isso não parece importar muito para a classe política, que, após cada eleição, volta a ser a grande responsável pela perpetuação do fracasso. E quem paga o preço por isso? O Brasil, claro. A indústria, os trabalhadores, as empresas – todos ficam à mercê da incompetência sistemática que se perpetua a cada novo mandato.
Em 2026, o voto será novamente uma farsa. Não importa quem vença. No final, os mesmos problemas continuarão lá: a política falida, a economia estagnada e um Brasil que não consegue se libertar de sua própria auto-sabotagem. A eleição de 2026 será, no fundo, mais um ciclo interminável de promessas que nunca se cumprem. O futuro da indústria? Não se engane, ele está nas mãos dos mesmos que sempre o destruíram. E a grande questão é: será que, dessa vez, o brasileiro vai usar a cabeça ao invés dos dedos para apertar os botões da urna?
“O futuro depende do que fazemos no presente.” — Mahatma Gandhi
“Liderança não é sobre ser o melhor, mas sobre fazer os outros melhores.” — John C. Maxwell
“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.” — Robert Collier
“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.” — Peter Drucker
“O líder é aquele que conhece o caminho, anda pelo caminho e mostra o caminho.” — John C. Maxwell
842# Itaipu como arma de Guerra? - 30/06/25

A história de Itaipu não começou em 1973, mas foi naquele ano que tudo mudou. O projeto já aparecia em papéis e discursos de gabinete desde os anos 60 — mas ninguém corria. Até que o petróleo explodiu de preço. A crise internacional bateu na porta do Brasil e a energia deixou de ser estratégia para virar urgência. Foi o choque do petróleo que tirou Itaipu da gaveta e colocou o concreto no meio do rio Paraná.
Enquanto Brasil e Paraguai assinavam o tratado que criava Itaipu Binacional, a Argentina tinha outras preocupações. E não era exagero. Buenos Aires temia — com todas as letras — que Itaipu pudesse ser usada como arma de guerra. A lógica era no mínimo curiosa: em caso de conflito, bastava abrir comportas e inundar o norte argentino. As margens do Paraná seriam engolidas por um tsunami controlado de água. E esse medo não foi teoria de bar: gerou reuniões, pressão diplomática, telegramas tensos e, no fim, o Acordo Tripartite de 1979 que criou regras de vazão mínima e máxima para tentar garantir o mínimo de segurança.
Itaipu, na prática, virou um ponto sensível no tabuleiro político do Cone Sul. E não adianta dourar a pílula: naquele tempo, em meio a ditaduras militares e fronteiras tensas, uma barragem desse tamanho era vista tanto como fonte de energia quanto como possível arma.
Na engenharia, Itaipu foi um colosso: desviaram o rio, escavaram rocha, realocaram famílias inteiras e transformaram Foz do Iguaçu numa cidade que cresceu dez vezes em poucos anos. Mais de 40 mil trabalhadores ergueram a maior barragem de concreto do planeta, sob sol, chuva, poeira, lama. Tudo para manter a obra rodando sem parar.
Hoje a usina abastece 17% do Brasil e 90% de toda a energia elétrica do Paraguai. Mas pouca gente lembra do medo que cercava cada relatório técnico, cada cláusula de tratado. Itaipu foi, sim, uma vitória da engenharia — mas foi também um lembrete do que acontece quando política e concreto andam de mãos dadas em regimes que falavam de paz em público e pensavam em guerra nos bastidores.
No fundo, Itaipu é uma prova: energia não é só turbina. É poder. E onde há poder, há medo, desconfiança e conversas de corredor que nunca saem nos jornais.
“A confiança é a base de todo relacionamento duradouro.” — Stephen Covey
843# Primeiro comece...depois aperfeiçoe! - 30/06/25

A Refinaria Abreu e Lima (RNEST) talvez seja o maior exemplo do que não fazer em engenharia pública. Em 2005, a promessa era clara: investir pouco mais de GUS$ 2,3 para processar 200 mil barris/dia. Um projeto binacional com a PDVSA, incluído no PAC, anunciado como âncora do refino nacional. O tempo passou, a parceria evaporou, a Venezuela "caloteou", e sobrou a conta: mais de GUS$ 20,0 — com só metade da capacidade entregue. Uma refinaria que entrou nos rankings globais não por eficiência, mas pelo custo por barril/dia mais alto da história da indústria.
É essencial entender esse número. O principal parâmetro para avaliar refinarias não é o preço do barril — mas o valor investido por barril/dia de capacidade instalada. Esse é o verdadeiro termômetro da racionalidade de um projeto. E a RNEST entregou 115 mil barris/dia por mais de GUS$ 20,0. Isso significa cerca de kUS$ 174 por barril/dia. Para comparar: o padrão internacional gira em torno de kUS$ 20 em projetos greenfield. Ou seja: gastamos o equivalente a construir mais de 8 refinarias iguais.
Agora, vem a nova promessa. Segundo o governo, a capacidade da RNEST será dobrada com investimento inferior a GUS$ 1,0. Essa afirmação não é só otimista — é tecnicamente absurda. Significaria construir 145 mil barris/dia adicionais com cerca de kUS$ 7,0 por barril/dia. Menos da metade do menor custo conhecido no setor, apesar de reconhecer que grande parte da estrutura já está pronta. Mas fica difícil crer que o mesmo projeto que estourou todos os limites agora seria resolvido com eficiência exemplar? É estatisticamente improvável. Historicamente injustificável. Tecnicamente insustentável. E melhor: com os mesmos personagens políticos de antes.
Morei em Pernambuco entre 2014 e 2018. Vi a euforia da população, o mercado inflado, aluguéis subindo, trânsito travado, cursos técnicos criados às pressas para suprir uma demanda que nunca veio. Por anos, Suape virou símbolo de uma economia suspensa — baseada numa obra que consumia, mas não entregava. Hoje, ao ver o anúncio dessa expansão mágica, o que sinto não é ceticismo. É memória.
A expansão da RNEST é desejável. O Brasil ainda importa diesel, GLP e outros derivados. Mas nenhuma necessidade real justifica repetir o erro anterior sob maquiagem de eficiência. Se há um plano real, que se publiquem números. Que se explicitem custos, escopos e prazos. O que está em jogo não é apenas a credibilidade de uma estatal — é a lógica do investimento público em engenharia pesada.
Refinaria não se amplia com vontade. Amplia-se com cálculo, licenciamento, infraestrutura, CAPEX crível e gestão de obra. E tudo que essa promessa não traz é isso: lógica. Porque, por enquanto, o que se tenta dobrar não é a capacidade de produção — é a paciência de um país que já pagou caro demais para fingir que acredita de novo.
“Nada é tão caro quanto um governo que insiste em mentir para si mesmo.” — Warren Buffett
844# Milagre Norte Coreano! - 05/07/25

Dizem que a Coreia do Norte é o único país do mundo sem impostos. E no papel é verdade. Em 1974, a Assembleia Popular Suprema (que nome bonito para usar no Brasil) aboliu todos os tributos diretos, e desde então, 1º de abril virou “Dia da Abolição do Imposto”. Sim. Primeiro de abril. Nada mais sugestivo.
Lá, ninguém precisa declarar imposto de renda. Mas isso não significa que seja de graça viver sob o regime. Você entrega outra moeda — mais valiosa que qualquer nota: sua obediência. Parte da sua ração, um pedaço do salário, sua opinião, seu silêncio. Em troca, ganha o direito de existir num país sem internet, com luz que falha mais do que acende e com uma liberdade de expressão que cabe num parágrafo autorizado. Dizem que não há imposto. Mas há custo — e ele é cobrado todos os dias.
A suposta isenção tributária é só mais um número no teatro da propaganda. Não se cobram tributos — mas se exigem “contribuições”. Você entrega, doa, compartilha — sempre “voluntariamente”, claro. O nome muda, a cobrança fica. O que não se chama imposto funciona exatamente como um: quem não paga, sofre. E quem questiona, some. É um sistema que aboliu o imposto — mas instaurou o medo como forma de arrecadação.
Com habilidade quase cirúrgica, a Coreia do Norte imprime cédulas falsas de US$ 100 — os famosos supernotes. De acordo com o Congressional Research Service (EUA), o regime já teria colocado em torno de 20 milhões de dólares por ano em circulação ilegal. E aqui está a ironia suprema: o país que passa o dia xingando o imperialismo americano... financia sua própria sobrevivência com dólares. Literalmente. Dólares tão bem falsificados que fariam inveja a qualquer casa da moeda — ou a qualquer promessa revolucionária mal cumprida.
E não é só o dólar que virou vítima do cinismo coreano. Relatórios internacionais já indicaram falsificações de euros, ienes, até baht tailandês (só não entendi por que não falsificam o real). A tão vangloriada autossuficiência do regime? Vem impressa em papel-moeda estrangeiro, nas sombras de impressoras clandestinas instaladas sabe-se lá onde — mas sempre longe da luz. É a revolução bancária do subterrâneo: combatem o Ocidente... com o caixa do Ocidente.
Enquanto isso, o cidadão comum vive em um país que não aparece nos cartazes. Vive onde tudo é estatal, inclusive a verdade. Onde falta energia, falta arroz, falta futuro — mas sobra hino. Onde estatísticas são fabricadas, foguetes substituem comida, e a propaganda diz que tudo vai bem, desde que ninguém abra a boca. Um país que não cobra imposto. Porque já cobra tudo o que importa: a liberdade, a voz e, com frequência, a própria dignidade.
Portanto, da próxima vez que alguém falar que a Coréia do Norte aboliu os impostos, mostre as notas falsas de dólar. E pergunte, com calma: liberdade fiscal é isso aí?
“A mentira dita mil vezes continua sendo mentira.” — Thomas Sowell
845# Pirâmide de Maslow editada com sucesso! - 19/07/25

A pirâmide de Maslow continua sendo ensinada em cursos de psicologia e gestão como um modelo das necessidades humanas. Mas a verdade é que ela foi silenciosamente editada. Reorganizada. Reprogramada pela cultura contemporânea.
Se antes os filhos estavam ancorados nas camadas de base — fisiologia, segurança, vínculo social — hoje eles subiram para um topo inalcançável, onde só entram os que venceram o jogo da sobrevivência, da estabilidade emocional, da liberdade plena e da realização pessoal. Ter filhos, hoje, é o equivalente simbólico a comprar um veleiro: bonito, caro, trabalhoso — e, para muitos, dispensável.
E se você ainda duvida disso, é só revisitar reportagens dos anos 80 e 90. Estávamos sendo doutrinados, sem saber, a temer o nascimento. Globo Repórter, Fantástico, revistas, livros didáticos e até novelas ecoavam o mesmo pânico: superpopulação vai colapsar o planeta. Não vai ter comida. Não vai ter ar. O mundo vai acabar em fila por água potável.
Era o mantra do “controle populacional responsável” — uma doutrina que não só moldou políticas públicas, como moldou o imaginário coletivo. Ter filho passou a ser lido como irresponsabilidade ecológica. E isso entrou fundo. Virou crença. Virou discurso de professor. Virou conversa de jantar. Foi martelado como ética. Resultado? Agora ninguém quer gerar. Ninguém quer perpetuar. A engrenagem travou.
Governos que antes gastavam bilhões de dólares em campanhas anticoncepcionais agora investem em bônus por nascimento. Mas descobriram tarde demais que cultura não muda somente com dinheiro. Pode-se ampliar licença-paternidade para meses. Pode-se esticar a licença-maternidade para anos. Pode-se construir creches gratuitas e garantir estabilidade no emprego. Nada disso toca o verdadeiro centro do problema.
Porque hoje, ter um filho não é mais uma decisão prática. É uma decisão existencial.
É o equivalente a pular num rio gelado sabendo que a correnteza vai te afastar de tudo o que a vida contemporânea te ensinou a valorizar: liberdade, performance, flexibilidade, individualidade, controle, viagens, estabilidade econômica, dentre outras camadas de Maslow. Ter filho exige abrir mão do centro da vida — e isso se tornou ofensivo para quem foi educado a se colocar no centro de tudo.
E o mais irônico: fomos condicionados a acreditar que era preciso conter a população para salvar o futuro. Só que o futuro chegou. E agora somos nós tentando salvar a natalidade que esmagamos com discursos de racionalidade. Criamos um mundo onde a autorrealização não comporta filhos. Onde a segurança emocional é incompatível com dependência. Onde liberdade virou sinônimo de estéril.
Não é falta de fertilidade. É falta de sentido.
E por isso, nenhuma política pública vai funcionar. Porque a pirâmide de Maslow foi editada. E agora, o topo, por lógica, não vai sustentar nenhum modelo.
“O maior erro de uma geração é resolver um problema que não existia.” — Danilo
846# A Morte da Cegonha e do Sapo – 25/07/25

A charge do sapo tentando enforcar a cegonha virou símbolo da classe trabalhadora brasileira, sendo a preferida dos folhetos sindicais. Mas o que ninguém mostra é que ambos estão afundando juntos. Não há salvador na equação. Só dois condenados — um pelo peso da lei, outro pela promessa de proteção que virou armadilha.
No Brasil, contratar formalmente é um ato de fé. E manter um trabalhador na folha, um exercício diário de autoflagelo financeiro. Para cada R$ 5.000 de salário líquido, a empresa desembolsa R$10.000. Metade evapora em encargos, taxas, contribuições, direitos adquiridos e penduricalhos que transformam o que deveria ser vínculo produtivo em passivo jurídico permanente.
CLT? Um museu em funcionamento. Criada em 1943 — sob o regime autoritário de Getúlio Vargas — ainda dita regras para um mercado que opera com inteligência artificial, blockchain e home office. A mesma legislação que nasceu para regular fábricas de torno e solda, hoje quer definir pausas para quem trabalha com código, pixels ou planilhas.
E o mais irônico: quanto mais tentamos proteger, menos emprego formal temos.
O paradoxo do empregado caro que ganha pouco
Esse é o Brasil: o país onde o salário é pequeno, mas o custo é gigante. Onde o trabalhador recebe 5 e custa 10. Onde o direito adquirido vira freio no investimento. Onde a folha de pagamento é o maior inimigo da expansão.
Não por acaso, metade da força de trabalho brasileira está na informalidade, no desemprego ou no subemprego. São quase 55 milhões de pessoas fora do sistema — não por escolha, mas por inviabilidade. O problema não é falta de vaga. É falta de coragem para contratar sob esse arcabouço jurídico tóxico.
Contratar é assinar uma carta de risco. É assumir que, a qualquer momento, um detalhe ignorado pode virar ação trabalhista. E se virar, a empresa será culpada até provar que cumpriu todas as obrigações de um manual que muda a cada jurisprudência.
CLT virou programa de exclusão social
Quem mais precisa de emprego é justamente quem mais sofre com esse modelo. Jovens, pessoas de baixa escolaridade, mães solo, trabalhadores maduros — todos são vítimas da rigidez que impede o “comece aqui e cresça”. No Brasil, a regra é: ou entra perfeito, ou não entra.
A CLT não aceita meio termo. Não permite gradualismo. Não reconhece a realidade. Ela quer que toda empresa seja multinacional, todo patrão seja bilionário e todo trabalhador esteja blindado contra qualquer desconforto. O resultado? A empresa finge que contrata. O empregado finge que trabalha. E o país inteiro finge que evolui.
A automação não é o futuro — é o plano B
O custo do humano está proibitivo. Então o mercado age: substitui. Chatbots, robôs de atendimento, autoatendimento em farmácias, caixas eletrônicos em supermercados. Não porque o capital quer explorar. Mas porque o custo da CLT virou sentença de morte para qualquer operação de baixo valor agregado.
A tecnologia avança não como motor de inovação, mas como escudo contra encargos. Automatizar virou estratégia de sobrevivência num país onde pagar salário é mais arriscado que importar equipamento. A equação é simples: máquina não processa o empregador por danos morais.
Reforma? Só se for séria. E não populista.
A reforma de 2017 trouxe avanços. Mas foi insuficiente. Continuamos presos a uma lógica onde o contrato de trabalho é visto como guerra de classes. Onde o juiz é convocado a interpretar intenções. Onde o vínculo é fiscalizado com lupa — e o resultado, com desprezo.
Falar em reforma trabalhista no Brasil virou tabu. A esquerda chama de “retirada de direitos”. A direita, de “flexibilização responsável”. No fim, ninguém entrega o que importa: segurança jurídica, previsibilidade e custo compatível com a realidade do país.
Reformar não é demolir. É descomplicar. É admitir que o modelo atual gera desemprego, estagnação e informalidade. É parar de tratar empresário como inimigo e trabalhador como incapaz. É entender que emprego só nasce onde há liberdade para contratar e margem para crescer.
Protegidos demais para prosperar
Enquanto debatemos semana de quatro dias, a economia rasteja. Enquanto sonhamos com “bem-estar europeu”, mal conseguimos pagar a conta de luz. O Brasil sonha com o conforto do Norte — mas carrega nas costas o peso de um Sul que criminaliza o lucro e glorifica a estabilidade pública.
Somos os reis da burocracia e os plebeus da produtividade.
Exportamos soja, ferro e discurso social. Mas não conseguimos gerar um ecossistema de manufatura competitivo. Não somos opção para empresas globais. E não é pela qualidade da mão de obra — é pelo custo de tê-la.
Efeito colateral: suicídio empresarial
O micro e pequeno empreendedor, aquele que mais poderia empregar, é o primeiro a evitar a formalização. Porque sabe que uma contratação mal feita pode matar seu negócio. E mesmo os que tentam seguir as regras, descobrem cedo que o sistema está armado contra eles.
A lógica é perversa: quem tenta seguir a lei se sufoca. Quem ignora, sobrevive. E o Estado finge que não vê, desde que os boletos do Simples sejam pagos em dia.
Não é só ineficiência. É cinismo institucionalizado.
Conclusão: A riqueza está interditada
“A Riqueza das Nações” foi escrita por um escocês que acreditava no poder da liberdade econômica, do trabalho como alavanca social e da concorrência como equalizador natural. Nada disso sobreviveu à CLT brasileira. Aqui, liberdade é infração. Eficiência é suspeita. Crescimento, um risco jurídico.
Smith acreditava que o interesse individual movia o coletivo. No Brasil, o interesse individual é punido com multa, carimbo e audiência.
A pergunta que fica: até quando o Brasil vai proteger o trabalhador... do próprio emprego?
5 Frases que serão taxadas:
- “A burocracia realiza o oposto do que promete.” — Mario Henrique Meireles
- “Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
- “O maior inimigo do progresso é a ilusão da segurança.” — Robert Kiyosaki
- “O Estado não gera riqueza — só pode atrapalhar ou permitir.” — Henry Ford
- “Nenhuma boa intenção resiste a uma má estrutura.” — RXO
“No Brasil, proteger o trabalhador virou sinônimo de impedir o trabalho.” — RXO
847# Não glamourize os anos 80 – 03/08/25

Os anos 80 é muito romantizado, mas... Não era "infância raiz". Era falta de tudo. Não era "nostalgia". Era dureza. Não era "vida simples". Era falta de acesso.
Ser pobre nos anos 80 não tinha graça. Tinha prego no chinelo, roupa cortada com tesoura e suco azedo feito com limão do quintal. Tinha sobrevivência em cada esquina — e o pior: com ares de normalidade.
Chinelos, Ferros e Vergonha
Chinelo arrebentado não era exceção. Era regra. Todo mundo conhecia o ritual: um prego atravessado por baixo do solado pra prender o pino. Um tropeço mal dado e lá estava o prego tentando furar teu pé. O visual? Chinelo azul com correia preta, comprado na feira em “peças”. Estilo zero. Mas quem se importava?
Comer Era Resolver o Dia
Sardinha? Não em lata. Era fresca. Vinda da Kombi, embrulhada em jornal. Cheiro forte, espinha demais, proteína barata. Suco? Do limão do quintal. O mais ingrato da botânica brasileira: azedo, seco e com casca grossa. Isso quando meu pai não inventava de colocar bicarbonato de sódio para dar um “gostinho” diferente.
A água? Do poço. Gelada no inverno e contaminada o ano todo. Mas era o que tinha. E a gente bebia.
Roupas Com Data de Corte
A calça jeans era quase uma entidade com várias fases: nova, desbotada, rasgada, tingida, cortada e finalmente bermuda. A transformação acontecia na mão da costureira oficial da família — mãe ou tia. A tinta? Guarany. As cores? Azul, preto ou vermelho queimado. Ninguém perguntava se você gostava. A pergunta era: “quer ficar com a calça ou não?”
Brincar Doía
A bola de plástico “dente de leite” era uma piada. Parecia um balão coberto de couro barato. Cada chute era uma agressão à física — e aos dedos do pé.
A pipa era feita com jornal, cola de farinha, às vezes com vareta de bambu. Linha? De costura. Arrebentava na primeira brisa. A famosa “linha 10” era coisa de playboy. Quem tinha era rei. Quem não tinha, remendava.
A TV, a Fumaça e o Desespero
TV preto e branco com seletor quebrado. Você escolhia o canal e “trava” o botão com um frasco de esmalte Monange, um palito ou um pedaço de papel dobrado. A imagem tremia, o som falhava, mas era o que dava. E ainda ligava no estabilizador — aquele trambolho barulhento que fazia “tec-tec” toda vez que alguém ligava o chuveiro.
E os pernilongos? Vencidos com a "cobrinha" — o espiral verde tóxico que soltava fumaça suficiente pra esvaziar a sala. Espantava mosquitos, parentes e, se bobear, até vizinho. Mas matava o pernilongo... também!
O Grande Luxo: Um Pastel no Fim da Feira
O pastel de vento era quase símbolo nacional. Muita massa, quase nada de recheio. Vinha com caldo de cana morno, servido em copo de plástico fino, na feira, no fim do dia. Era “a recompensa” da semana. A experiência gastronômica que todo pobre vivia com esperança de um recheio que nunca vinha.
A Fauna da Pobreza
Todo pobre tinha um cachorro chamado Duque ou Neguinho. Era regra não escrita. A gata? Chaninha. E claro, um coleirinha na gaiola, cantando enquanto a mãe fritava sardinha. Era isso ou silêncio.
Educação na Unha
Caderno encapado com papel vegetal, colado com fita adesiva e decorado com adesivo da paz ou “Jesus te ama”. Professor gritava, giz quebrava, e quem faltava virava lenda.
Era caneta Bic rachada, correção com “liquid paper” e chamada oral como método de tortura. E mesmo assim, quem terminava o ano com nota azul era herói. Porque estudar com fome, com barulho, com falta de luz — era esforço invisível.
E sabe de uma coisa? Isso Era o Nosso Melhor. E Isso Explica Muita Coisa.
Tudo isso era o nosso melhor cenário possível. E isso diz mais sobre o Brasil do que qualquer propaganda.
A gente não escolheu ser criativo. Foi forçado a improvisar. Não aprendeu a planejar. Aprendeu a aguentar. Não desenvolveu ambição. Desenvolveu resistência.
E agora, anos depois, somos adultos cobrados por performance, visão de futuro, inovação — mas formados num ambiente onde tudo era remendo, escassez e “dá-se um jeito”.
Isso não é romantismo. É trauma coletivo travestido de memória.
A infância pobre dos anos 80 moldou uma geração que aprendeu a sobreviver, mas nunca foi ensinada a construir. Que carrega vergonha escondida atrás de piadas. E que ouve hoje, de quem não viveu: “bons tempos, né?”
Bons tempos o c....lho. Não foram bons tempos. Foram os únicos que tivemos. E pagamos o preço até hoje. Parem de romantizar isso PELO AMOR DE DEUS!
Cinco frases inspiradoras:
- “Improvisar o tempo todo é sinal de um país que falha sempre.” — Mario Henrique Meireles
- “Ser resiliente não é privilégio. É sintoma.” — Osvandré Lech
- “Você não sai da pobreza com esforço sozinho. Sai com estrutura.” — Robert Kiyosaki
- “A escassez ensina o valor, mas limita a visão.” — Jim Rohn
- “A pior miséria é achar que ela é normal.” — Henry Ford
“A pobreza dos anos 80 não era charme. Era sobrevivência.” — RXO
848# Coma chocolate enquanto pode – 03/08/25
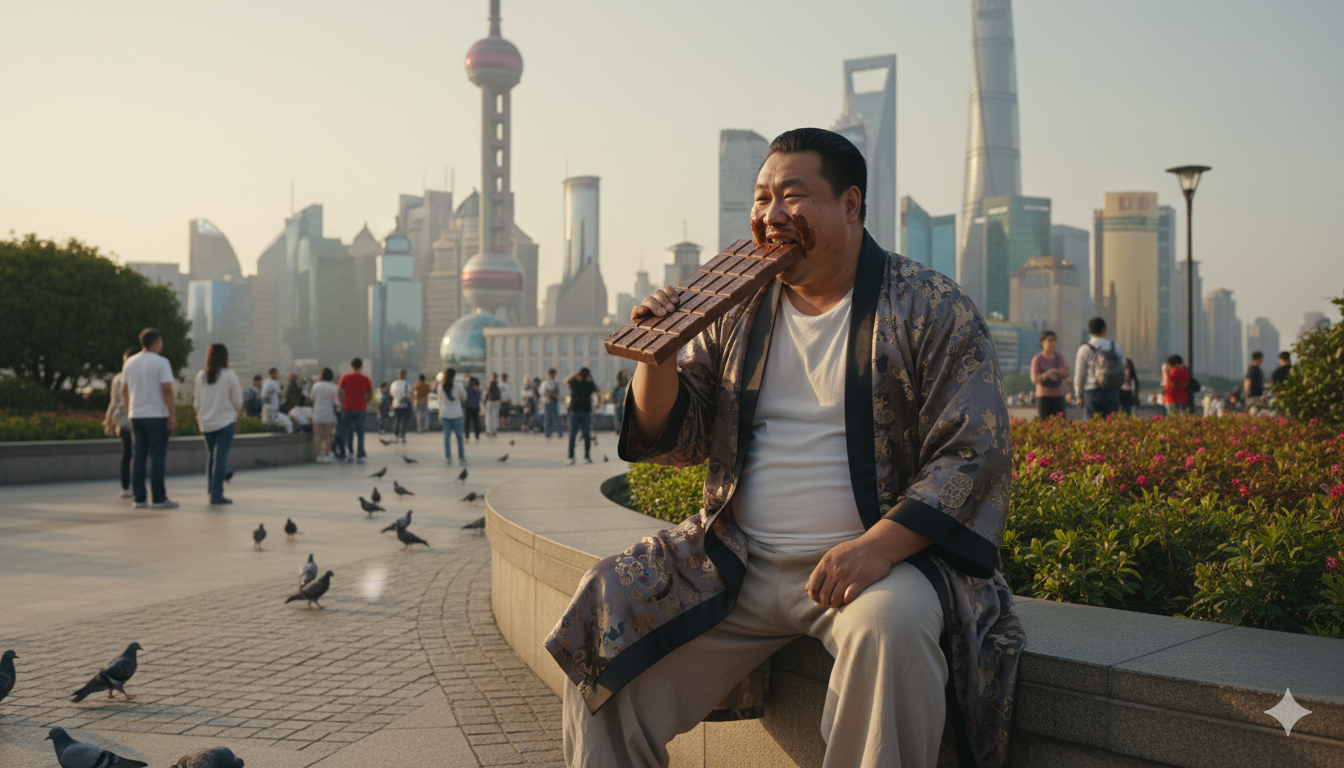
Imagine uma commodity agrícola tão sensível que uma única quebra de safra em dois países derruba 60% da oferta mundial. Agora, some a isso uma cadeia produtiva frágil, pouco tecnológica, altamente exposta ao clima e incapaz de reagir com velocidade. Adicione contratos futuros disparando, investidores nervosos e um novo gigante consumidor despertando o apetite. O resultado? O cacau se tornou, em 2025, a nova “commodity do caos”.
Quando o solo de Gana treme, o mundo derrete
Dois países — Gana e Costa do Marfim — respondem por mais da metade da produção mundial de cacau. Mas as últimas safras foram devastadas por mudanças climáticas extremas, envelhecimento dos cacaueiros, pragas persistentes e queda na rentabilidade do pequeno produtor. O resultado: colheitas fracassadas, exportações comprometidas e um alerta global.
Em 2020, uma tonelada de cacau custava cerca de US$ 2.400. Em abril de 2025, o mesmo volume ultrapassa os US$ 10.000 — uma valorização de mais de 300%.
Mas não se trata de um surto especulativo passageiro. O que estamos presenciando é a escassez estrutural de uma matéria-prima essencial para um setor bilionário — e emocional.
A nova curva emocional do consumo
Ao contrário de commodities como petróleo ou cobre, o cacau alimenta desejos, não necessidades. Não é combustível, não move máquinas, não sustenta energia. Mas é capaz de mover bilhões de consumidores em todo o planeta — especialmente quando o prazer está associado à acessibilidade.
Historicamente, o consumo de chocolate é liderado por Estados Unidos, Europa e América Latina. O brasileiro consome cerca de 2 kg por ano. O americano, 6 kg. Já o consumidor chinês ainda não chegou a 0,2 kg per capita. Mas algo está mudando.
O apetite chinês e o novo risco global
A China, com seus 1,4 bilhão de habitantes, está aos poucos desenvolvendo o gosto pelo chocolate. Um gosto induzido por marketing global, redes sociais, celebridades e, sobretudo, o e-commerce refrigerado, que permite a entrega de produtos sensíveis mesmo em regiões tropicais.
Se esse consumo subir para apenas 0,4 kg per capita — ainda muito abaixo da média global — a demanda global por cacau aumentará em 280 mil toneladas por ano. Se chegar a 1 kg, como já ocorre em Hong Kong e Taiwan, o acréscimo passa de 1 milhão de toneladas por ano. Isso em um mercado que produz 4,8 milhões de toneladas.
Um crescimento potencial de 20% na demanda em um sistema que já opera no limite da oferta. Agora, some Índia e Nigéria à equação, com populações jovens e consumo incipiente de chocolate. A conclusão é clara: o mundo não está preparado.
A nova geopolítica da sobremesa
O cacau entrou para o clube das commodities críticas. Não porque sua função é essencial — mas porque sua escassez virou estrutural e seu consumo emocional é inelástico. É o mesmo fenômeno do lítio, do cobalto e do trigo: quando a demanda cresce e a oferta não acompanha, o mercado deixa de ser racional.
Empresas como Nestlé, Hershey's e Mondelez já estão reformulando produtos. Retiram cacau real das barras populares, substituem por gordura vegetal, aromatizantes e adoçantes. A embalagem continua a mesma. O conteúdo, não.
O chocolate barato está acabando. Literalmente.
E os investidores?
Em outubro de 2023, os contratos futuros de cacau para maio de 2025 estavam em US$ 3.800. Em abril de 2025, ultrapassaram os US$ 10.000. Os contratos futuros para 2026 e 2027 já precificam escassez continuada — algo inédito na história da commodity.
Os fundos de investimento e os traders institucionais estão cada vez mais posicionados no cacau como hedge contra inflação alimentar, riscos climáticos e até desequilíbrios geopolíticos. O mercado não vê mais o cacau como sobremesa. Vê como ativo estratégico.
Quando o chocolate vira macroeconomia
Quem ainda trata o chocolate como item secundário está ignorando uma transformação profunda no cenário global: a sobremesa virou índice de estabilidade.
A escassez do cacau é só o sintoma visível de um sistema produtivo disfuncional, sem resiliência climática, sem investimento tecnológico e com alto grau de informalidade trabalhista. E isso numa commodity cujo consumo está em plena globalização emocional.
Ninguém “precisa” de chocolate. Mas poucos estão dispostos a abrir mão dele. E isso é o que torna o problema ainda mais perigoso: não se trata apenas de oferta e demanda. Trata-se de desejo. E desejo, quando frustrado, tem consequências imprevisíveis.
O efeito dominó: inflação gourmet, substituição e bolha emocional
Com o cacau a US$ 10.000/tonelada, o custo do chocolate disparou. Indústrias premium elevaram preços, reduziram gramaturas e reposicionaram linhas. Já o setor popular substituiu matéria-prima, adulterou fórmulas e iniciou uma transição silenciosa — da “barra de chocolate” para a “barra sabor chocolate”.
Estamos vivendo um processo semelhante ao que ocorreu com a carne nobre na China pós-2000. Um luxo que vira item aspiracional. Um item aspiracional que vira símbolo social. E quando isso acontece, o preço deixa de ser racional. Passa a ser emocional.
A bolha do cacau não é só financeira. É cultural. E está inflando rápido.
Prepare-se para o “chocolate como status”
Em breve, consumir uma trufa belga ou uma barra de chocolate suíço pode virar o novo “vinho de elite” das classes emergentes. A Nestlé já relançou sua linha “Les Recettes de L’Atelier” com ênfase em terroir, origem do grão e processo artesanal — algo impensável para o mainstream há uma década.
Esse é o sinal mais claro: o cacau deixou de ser um ingrediente. Virou símbolo.
O futuro? Mais caro, mais raro, mais disputado
Não há hedge climático, offset ESG ou plano agrícola de curto prazo que resolva a equação atual. Para dobrar a produção global, seriam necessários:
- 15 anos de replantio intensivo
- US$ 50 bilhões em infraestrutura e capacitação rural
- Clima favorável contínuo
- Reformulação da cadeia de valor em escala global
Nada disso está acontecendo. E nada disso pode ser acelerado sem planejamento sistêmico. A lógica atual é especulativa, extrativista e imediatista.
A escassez estrutural do cacau não será resolvida com tecnologia de curto prazo — porque ela começa na geopolítica da produção e termina no desejo de consumo. Um ciclo perverso, onde a produção é lenta e o desejo, instantâneo.
Cinco frases inspiradoras:
- “Você não fica rico ganhando mais, e sim perdendo menos valor.” — Jim Rohn
- “Não existe moeda forte sem uma nação que inspire confiança.” — Warren Buffett
- “Tudo que é escasso, vira símbolo.” — RXO
- “A realidade não se curva à sua sensibilidade.” — Bill Gates
- “O maior erro de uma geração é resolver um problema que não existia.” — Danilo Barba
“O chocolate barato está acabando. O luxo agora tem gosto de cacau.” — RXO
849# Painho Até 2030 — 24/04/25

Como Lula reconstruiu o Estado, desarticulou a oposição e venceu mais uma vez – agora com 45 ministérios, narrativa afiada e voto popular na veia
By Brasil 247 e Editorial Revista Veja
25/10/2026
Quem ainda tem dúvidas da força política de Luiz Inácio Lula da Silva, claramente não entendeu o Brasil. Em 2026, diante de um cenário que seria terminal para qualquer outro presidente — inflação elevada, juros em 20%, desemprego em alta e descrença generalizada —, o operário nordestino voltou a vencer. Não só venceu: reconstruiu uma coalizão popular, desarticulou a oposição e, com 45 ministérios, impôs uma nova lógica de governabilidade. Agora, o "Painho" vai até 2030. E, para muitos, isso é sinônimo de estabilidade. Para outros, de inteligência política. Para todos, de um Brasil que não quer mais voltar atrás.
O novo mandato não é apenas a continuidade de um governo. É a consolidação de uma hegemonia política baseada em presença territorial, apelo simbólico e eficácia emocional. Lula não é só um presidente reeleito. É um fenômeno que reconfigura o jogo político nacional a cada movimento. E dessa vez, seu movimento mais ousado foi mostrar que o Estado pode crescer — e crescer com propósito.
A nova engenharia do poder: 45 ministérios, uma lógica de inclusão total
O anúncio dos novos ministérios provocou a reação esperada: editorialistas indignados, economistas liberais em alerta, e políticos da oposição falando em “aparelhamento”. Mas quem acompanha Lula de perto entendeu imediatamente: a ampliação ministerial não foi apenas estratégica — foi simbólica.
Os novos ministérios criados:
- Ministério da Água – Com foco em segurança hídrica, enfrentamento da seca e saneamento básico. Uma pasta que toca diretamente o Brasil invisível, especialmente o semiárido nordestino.
- Ministério da Terra – Uma articulação entre reforma agrária, regularização fundiária e soberania alimentar. Um ministério que une o campo à política.
- Ministério do Ar – Inédito no mundo, foi criado para formular políticas de qualidade atmosférica, controle de poluentes e incentivo à mobilidade verde. Do Acre a São Paulo, a pasta tem um recado claro: respirar é um direito.
- Ministério da Passagem Aérea – Em tempos de elitização do transporte aéreo, o governo cria um órgão para democratizar voos, conectar regiões esquecidas e subsidiar a classe média viajante.
- Ministério da Inteligência Artificial – Porque o futuro não espera. A pasta regula o uso ético da IA, fomenta pesquisas nacionais e protege dados da população.
Em vez de ver inchaço, Lula viu oportunidade. Transformou demandas reprimidas em estrutura. Criou pastas para aquilo que, historicamente, o Estado ignorava. O que para os críticos é “cabide de empregos”, para milhões de brasileiros é a primeira vez que o Estado se preocupa com o que eles respiram, com o que eles sonham e com onde eles vivem.
Economia em colapso? Lula ativou a economia do afeto
Com inflação batendo recordes, Lula fez o que os manuais de política econômica mandariam evitar: aumentou o gasto social. O Bolsa Família passou para R$ 1.000, com 13º incluído. Criou auxílio emergencial para famílias endividadas. Zerou o IR para quem ganha até 5 mil reais e reduziu o IPI de setores estratégicos, principalmente "linha branca" e carros populares. E logicamente não poderia deixar de congelar os preços dos combustíveis por decreto.
Os especialistas gritaram. Os analistas internacionais questionaram. Mas o povo entendeu: “Painho” estava lá.
Essas medidas não resolveram o problema estrutural da economia — mas impediram que o problema esmagasse os mais pobres. E isso, por si só, valeu o voto. Lula sabe que, no Brasil, o que pesa não é o PIB — é o preço do arroz, o valor da passagem de ônibus, o botijão de gás, a conta de luz e o dinheiro que entra no fim do mês.
Cultura não é mimo. É trincheira
Lula também dobrou a aposta na cultura. Não como ornamento, mas como blindagem. Usou a Lei Rouanet para financiar coletivos periféricos, fortalecer o cinema nacional, patrocinar festivais populares e revitalizar centros culturais abandonados.
Não se tratava apenas de “comprar apoio”. Era uma forma de garantir que o imaginário popular não fosse dominado pelo discurso do medo, do ódio e da estética do retrocesso.
Para cada fala do mercado sobre “gastos desnecessários”, havia uma favela com um centro cultural revitalizado. Para cada editorial atacando a “militância cultural”, havia um estudante indo ao teatro pela primeira vez.
Meirelles no lugar certo. Haddad no front paulista
Em um movimento que uniu genialidade política com precisão institucional, Lula trocou Fernando Haddad por Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda. Uma sinalização clara ao mercado de que o governo manteria certo controle fiscal — mesmo em meio à expansão social. Haddad, por sua vez, foi lançado à disputa pelo governo de São Paulo, que até a última pesquisa DataFolha, liderava o pleito do 2o turno.
A substituição não foi uma derrota. Foi um reposicionamento. Lula não demite — ele move as peças no tabuleiro. Seria "Damas 4D" (Lula jogar xadrez aí já é demais né)?
A implosão silenciosa da oposição
A reeleição de Lula também deve muito à desorganização do campo conservador. Jair Bolsonaro, com a saúde muito debilitada, foi preso em março, resultado de um processo longo, recheado de manobras judiciais e escândalos acumulados. Com isso, a direita perdeu seu eixo emocional.
Tarcísio de Freitas, ainda preso ao Governo de São Paulo, Romeu Zema, refém de um discurso tecnocrático e Eduardo Leite, cada vez mais irrelevante nacionalmente foram impotentes diante de "Painho". E sendo assim, a oposição virou uma série de candidaturas regionais, sem narrativa nacional, sem liderança e sem chão.
Enquanto isso, Lula falava para o país real. E o país real respondeu.
Símbolos, gestos e escuta: a linguagem do povo
Lula entende algo que seus opositores ignoram: o povo não vota em números, vota em símbolos. E os gestos do presidente foram milimetricamente planejados para dialogar com a alma do eleitorado.
- Reinaugurou a transposição do São Francisco.
- Visitou comunidades indígenas com lideranças locais.
- Anunciou subsídio para voos regionais.
- Criou programas de acesso à tecnologia em escolas públicas com IA nacional.
- Inaugurou o “Corredor Verde do Ar” em capitais com altíssimos índices de poluição.
Tudo isso não entra em planilhas — mas entra no coração do eleitor.
A vitória de 2026 não é ponto final. É vírgula
Lula, que completará 81 anos amanhã, dia 27 de outubro, não dá sinais de desaceleração. Muito pelo contrário: se movimenta com a leveza de quem governa com propósito. A coalizão que o reelegeu é ampla, mas não instável. É uma base que reconhece nele algo raro: capacidade de liderança legítima.
“Painho até 2030” não é só uma brincadeira que viralizou nas redes. É a constatação de que o Brasil, cansado de retrocessos, decidiu apostar novamente na política como instrumento de cuidado. E não há nada mais transformador do que um líder que entenda que governar é ouvir.
Com 45 ministérios, Lula pode até ser acusado de exagerar. Mas para milhões de brasileiros que antes nunca foram ouvidos, o exagero virou sinônimo de inclusão...
...e já há quem sonhe com "Painho 2034"!!!
850# A magia da Passagem de Turno — 13/01/25

Com 32 anos na indústria, ainda observo algo curioso na comunicação – não apenas no Brasil, mas agora também na Colômbia. Algo que se repete com muita frequência. Não me refiro à comunicação de missões corporativas, valores da empresa, planos diretores estratégicos. Tampouco falo de portfólio de produtos e a visão de longo prazo da corporação. Refiro-me a algo mais simples, e até certo ponto raso, mas mesmo sendo essencial, é quase impossível de resolver: a famosa "passagem de turno" entre operadores e/ou supervisores.
Toda vez que acompanho é um momento místico. Durante 10-15 min, o Operador A descreve um cenário idílico para o Operador B: borboletas azuis voando, anjos tocando harpas, um coral de crianças cantando, uirapurus entoando melodias divinas, e no final, pombos brancos saem voando pela janela do Painel de Controle enquanto uma luz brilhante em lindo céu azul ilumina tudo à sua volta. Tudo lindo e nada pode dar errado.
Dez minutos após o Operador B assumir o turno, para surpresa de zero pessoas, o cenário muda completamente. O paraíso prometido se revela uma miragem, e a porta dos infernos é escancarada. O equipamento está prestes a quebrar, filtros estão entupindo, a produção se mostra atrasada e, claro, ninguém mencionou que a gambiarra do turno anterior ainda é a "coluna que sustenta todo aquele templo", e está a um fio de desmoronar.
E por que isso acontece? A resposta está em nossa cultura. Temos uma tendência quase inata de evitar conflitos e de encobrir problemas. A verdade muitas vezes é um tabu. Adicionaria mais um ingrediente perigoso a essa equação: nosso corporativismo! Algo que só piora a situação.
Na prática, o Operador B NUNCA ousaria reclamar ou apontar as falhas do Operador A, pois é o mesmo que pintar um grande alvo nas costas. Amanhã, será ele quem terá sua performance “desconstruída” em público, seja por retaliação direta ou por fofocas de corredor. É a lei não escrita do "não entregue o companheiro", mesmo que isso comprometa toda uma operação.
O resultado? Retrabalho, não conformidades, acidentes, atraso de clientes e desgaste emocional de quem precisa lidar com problemas mal comunicados, e claro, a consequência lógica de tudo isso que é o aumento de CUSTOS. Atacar a causa raiz? É uma tarefa que exige coragem e conhecimento. Coragem para romper com hábitos culturais e enfrentar as consequências de dizer a verdade, e conhecimento que está cada vez mais em segundo plano, pois a turma do Power-BI e do Power Point está cada vez mais dominante nas empresas... mas calma que a turma da IA que faz tudo está chegando com força total.
E como mudar isso? Tenho uma "pista":
• Quebre o ciclo do medo: crie um ambiente onde relatar problemas não seja visto como traição, mas como um ato responsável e até pontos somados para uma futura promoção.
• Não personificar: somos mestres nisso, pois não entendemos que o problema é parte de um sistema, e não de uma "persona".
• Promover a transparência: comunicação objetiva e factual, onde o foco esteja nos fatos e não no “achismo”.
• Capacitar e apoiar: ensinar que enfrentar a verdade – e não mascará-la – é o único caminho para construir resultados verdadeiros. Mostrar verdadeiramente que é melhor “ficar vermelho de vergonha uma vez, do que amarelo de medo a vida toda”.
O que não dá mais é continuar com um teatro do absurdo, onde um passa o "paraíso" e o outro recebe o caos, e ambos sabem disso. Precisamos transformar a comunicação em um pilar de confiança, e não em um campo de batalha.
Pergunta dura: como lidamos com essa cultura de encobrir problemas sem que os mensageiros da verdade se tornem os vilões?
Líder, é sua hora de promover isso!
5 frases de efeito para complementar:
“Não se gerencia o que não se mede.” — William Edwards Deming
“O maior inimigo do progresso é a ilusão da segurança.” — Robert Kiyosaki
“Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama.” — William H. McRaven
“A cultura devora a estratégia no café da manhã.” — Peter Drucker
“Liderança é ação, não posição.” — Donald H. McGannon
851# Cuidado com as "Laranjas Podres" — 19/02/25

Em qualquer empresa, os colaboradores podem ser categorizados de acordo com sua entrega, comprometimento e impacto no ambiente organizacional. E acredite: o Sucesso ou Fracasso da sua empresa depende de como você lida com cada um desses perfis. Há aqueles que elevam a equipe e os que só puxam todos para baixo. Aqui está um raio-x simplificado, e o que deve fazer com cada um deles.
No topo da cadeia estão os "EXECUTORES DE ELITE". São raros e, por isso, extremamente valiosos. Esses profissionais têm visão estratégica, executam com precisão e inspiram quem está ao redor. Eles não precisam de microgestão, pois entregam resultados consistentemente. Quer que sua empresa prospere? Mantenha-os desafiados, reconhecidos e bem remunerados. Perder um deles pode custar anos de progresso.
Logo abaixo, temos os "COMPETENTES CONFIÁVEIS". Não são gênios inovadores, mas são a espinha dorsal da empresa. Entregam o que se espera, são disciplinados e raramente causam problemas. São aqueles que fazem o trabalho acontecer. O segredo para mantê-los engajados é proporcionar crescimento e reconhecimento, para que não sejam seduzidos pela concorrência.
No meio da escala, encontramos os "CUMPRIDORES DE TABELA". Eles fazem o mínimo necessário para não serem demitidos. Se o expediente começa às 9h, eles chegam às 8h59. Se termina às 17h, já estão em frente ao marcador de ponto às 16h55. Esses funcionários não agregam muito, mas também não atrapalham diretamente – a princípio. Mas cuidado: sua apatia pode contaminar a equipe. Se não forem estimulados ou cobrados, tendem a puxar a produtividade geral para baixo, e se você fizer um gráfico de distribuição normal, tenho certeza que eles estarão em maioria absoluta.
Descendo mais um degrau, temos os "SABOTADORES DISFARÇADOS". São aqueles que parecem produtivos, mas, na prática, só geram ruído e complicação. Gostam de reuniões intermináveis, burocracia desnecessária e enrolação. Fazem promessas vazias e vivem criando desculpas para a falta de entrega. Esse tipo de funcionário corrói a eficiência da empresa e deve ser monitorado de perto. Se não houver melhoria, a melhor decisão é cortar antes que o estrago seja grande demais.
E, no fundo do poço, lá no limbo, bem perto das portas do inferno, encontramos as famosas "LARANJAS PODRES", que em Pernambuco são chamados de “Almas Sebosas”. São venenosos, tóxicos e altamente destrutivos para o ambiente. São os que espalham fofocas, criam intrigas, sabotam colegas e puxam qualquer um para baixo. Nada é suficiente para eles: reclamam de tudo, mas nunca movem um dedo para melhorar. Esses não podem ser recuperados. Mantê-los na equipe é como permitir que um vírus se espalhe pela empresa. Não tenha dó.... Corte-os rapidamente sem remorso.
Uma empresa que tolera "LARANJAS PODRES" se torna doente. Uma empresa que negligencia os "EXECUTORES DE ELITE" perde o seu motor de crescimento. O segredo do sucesso não é manter todos, mas sim saber quem merece espaço e quem deve ser descartado. O erro fatal de muitos gestores é querer ser os "bonzinhos" e tentar salvar aqueles que já provaram que não querem ser salvos.
E lembre-se: Um time é igual uma corrente: é tão forte quanto seu elo mais fraco.
“Maçãs podres não são casos isolados — uma pessoa ruim pode minar a cultura de toda uma organização.” — Ethos HR (consultoria em cultura organizacional)
852# Insisto: as IA’s vão eliminar acidentes! — 13/01/25

Vários acidentes aéreos chocantes ocorreram em 2024, destacando-se o caso da Coreia do Sul, gelo nas asas de um avião no Brasil e, por último, um voo de Ubatuba. Os motivos ainda não estão claros, mas eu insisto: no dia em que as IA’s comandarem essas máquinas, os acidentes aéreos serão ELIMINADOS.
Eu me apego muito à tragédia do voo da Chapecoense para defender esse meu ponto de vista. Em 28/11/16, quase 9 anos atrás, não apenas a aviação, mas também a humanidade foi impactada por essas falhas humanas grotescas, que resultaram em um plano de voo mal elaborado, combustível insuficiente e decisões tomadas fora dos protocolos de segurança. Mas se uma IA poderosa estivesse no controle? A IA, infalível em seguir regras e protocolos, teria prevenido o acidente. Eu imagino que teria sido esse cenário:
🤖 Planejamento do voo: IA garantiria o cumprimento inflexível dos protocolos.
🤖 Cumprimento estrito de normas: A IA jamais aprovaria um plano de voo que violasse normas internacionais, como a exigência de combustível suficiente.
🤖 Validação cruzada: Sistemas de IA analisariam cada detalhe do planejamento, verificando inconsistências antes da decolagem.
🤖 Monitoramento em tempo real: Sensores de IA acompanhariam o consumo de combustível, alertando sobre desvios e garantindo respostas proativas.
🤖 Protocolos de emergência: Ao detectar irregularidades, a IA acionaria automaticamente protocolos, como o desvio imediato para um aeroporto alternativo.
🤖 Comunicação padronizada: A IA enviaria alertas claros e detalhados à torre de controle, incluindo nível de combustível, localização exata e tempo estimado para pane.
🤖 Decisões baseadas em dados, não em julgamentos emocionais:
-Análise de rotas em tempo real: A IA recalcularia trajetos continuamente, adaptando-se às condições do voo e priorizando a segurança.
-Decisão automatizada: Em situações de emergência, a IA tomaria o controle para redirecionar a aeronave, sem hesitação ou influências emocionais.
🤖 Checagem automatizada: Um sistema baseado em IA garantiria que todos os protocolos fossem cumpridos antes da decolagem.
🤖 Auditorias constantes: A IA supervisionaria todas as etapas da operação, eliminando falhas humanas ou negligências.
A IA não apenas complementa, mas supera a capacidade humana em áreas críticas. Sua programação inflexível para seguir protocolos e suas análises baseadas em dados garantem que nenhuma decisão seja tomada fora das normas. No caso do voo da Chapecoense, AFIRMO que ñ haveria decolagem.
Essa tragédia foi um marco doloroso, mas traz uma lição valiosa: o rigor no cumprimento de protocolos salva vidas. Enquanto humanos podem ceder a pressões, ignorar sinais ou cometer erros, a IA permanece firme em sua missão de proteger. É essencial que avancemos na integração dessa tecnologia para que nunca mais percamos vidas devido a falhas evitáveis.
Alguns vão dizer: "Mas é o ser humano que faz o protocolo"... Aí meu estimado amigo, você está corroborando minha tese ...
“As falhas que causam acidentes de avião são invariavelmente falhas de trabalho em equipe e comunicação.” — Malcolm Gladwell
853# Dom ou Aprendizado? — 25/03/23

Em nossa cultura latina, acreditamos que alguns indivíduos nascem predestinados, possuindo uma espécie de “carisma” natural que os direciona para a excelência ou o fracasso em determinadas áreas da vida. Este “Encanto”, quando associado a conquistas positivas, é frequentemente referido como “Dom”. Exemplos notáveis incluem Pelé, com seu “dom” para o futebol; Einstein, um gênio revolucionário da física; Roberto Carlos, um excelente cantor; Rafael Nadal, gênio na quadra de tênis e Alex Poatan Pereira lutando MMA.
Já em outras culturas, se valoriza o poder da aprendizagem e do desenvolvimento de competências através da prática e da educação continuada. Nesse contexto, acredita-se que, com treinamento e orientação adequados, qualquer pessoa tem potencial para desenvolver e dominar qualquer área ou atividade.
Estas duas perspectivas levam-nos a uma reflexão mais profunda sobre a natureza dos talentos e das competências: são dons ou capacidades inatas que são meticulosamente cultivadas e melhoradas ao longo do tempo?
Não tenho uma resposta definitiva para isso, mas tenho uma passagem curiosa em minha vida que talvez tenha me direcionado para ter seguido a carreira na área de Engenharia!
Uma vez, meu Pai fez algumas pipas para mim (7 anos), minha irmã (6 anos) e meu pequenino irmão (2 anos). Ficamos horas brincando, em um dia muito frio, mas muito divertido que até hoje guardo em minha lembrança (que coisa, até caíram algumas lágrimas agora). No final, meu Pai deu de presente para alguns garotos na rua por terem se "comportado" ao não cortarem a linha de nossas pipas. Observei por horas meu Pai fazendo aquelas pipas, mas não conseguia repetir aquele feito, até pela tenra idade que tinha.
Algum tempo se passou, e aos 9 anos ainda ficava observando essas pipas no céu de São Miguel Paulista. Como era um bairro perigoso, meus pais não me deixavam ficar na rua, então do meu quintal apenas admirava o balé desse brinquedo voando acima de minha cabeça. Me intrigava muito como apenas papel e algumas varetas de bambu poderiam formar um brinquedo tão divertido.
Um dia uma dessas pipas caiu no quintal de casa! Era muito bonita e fiquei todo feliz. Fui correndo mostrar para minha mãe, ficando ela muito contente também, com a sorte que tive. Mas minha alegria não estava em ter ganhado o brinquedo, mas ter tido a oportunidade de ter em mãos o meu protótipo! Desmontei-a com todo cuidado, e diferente dos outros garotos de 9 anos, fiz uma “Engenharia Reversa” tirando as medidas da pipa e usando esse gabarito para reconstruir outra Pipa...e funcionou!
Até hoje tenho essas medidas em minha mente e já usei centenas de vezes, até com meus filhos.
Essa experiência pode ter influenciado minha trajetória profissional em engenharia, pois me mostrou que observar e transformar um dado em informação e conhecimento funciona muito bem.
Pergunta: isso foi um dom ou a experiência destacou o poder do aprendizado e da descoberta na minha formação?
Nunca vou saber....
...mas pelo menos com a pipa funcionou!
“O mais bonito no aprendizado é que ninguém pode tirá-lo de você.” — B. B. King
854# Júlio César e os Piratas — 22/02/25

No ano 75 a.C., um jovem Júlio César foi capturado por piratas cilícios enquanto viajava para Rodes. Longe de se comportar como um prisioneiro temeroso, assumiu o controle da situação. Zombou do valor pedido por seu resgate e ordenou que aumentassem a quantia; dava ordens e até os chamava de “subordinados”. Com total confiança, avisou que, uma vez livre, os capturaria e crucificaria. Os piratas riram. Não sabiam que sua ameaça era uma promessa.
Assim que foi libertado, reuniu uma frota mesmo sem ocupar cargo oficial, localizou os piratas e os capturou. Quando o governador local hesitou em puni-los, César tomou a justiça em suas próprias mãos e cumpriu sua palavra: os crucificou. Esse episódio não é apenas uma façanha ousada, mas uma lição de perspicácia, poder e estratégia, conectando-se com dois dos maiores tratados sobre o tema: “As 48 Leis do Poder”, de Robert Greene, e “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu.
Lições das 48 Leis do Poder
Júlio César aplicou instintivamente várias leis do poder:
“Faça com que os outros dependam de você” (Lei 11): Transformou seu cativeiro em um jogo de domínio psicológico, impondo sua presença entre os piratas.
“Despreze o que você não pode ter” (Lei 36): Nunca demonstrou desespero, projetando uma imagem de controle absoluto.
“Esmague completamente o seu inimigo” (Lei 15): Ao capturar os piratas, não deixou pontas soltas. Sabia que sua reputação dependia de eliminar qualquer ameaça.
A Arte da Guerra: Domínio Psicológico e Estratégia
Sun Tzu enfatiza que a vitória é conquistada na mente do inimigo antes do campo de batalha. César aplicou essa filosofia com precisão:
“Toda guerra se baseia no engano”: Ao agir com arrogância, desarmou psicologicamente os piratas.
“A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar”: Sua confiança fez com que os piratas o vissem como algo além de um simples prisioneiro.
“Quando forte, finja fraqueza; quando fraco, finja força”: Mesmo em desvantagem, nunca deixou transparecer.
Visão de Futuro: O Verdadeiro Poder
O sucesso de Júlio César não se deveu apenas à sua coragem, mas à sua visão estratégica. Não buscou apenas sobreviver; pensou em sua vingança e em como fortalecer sua imagem. Compreendia que poder não é apenas força bruta, mas percepção e cálculo.
Esse episódio lembra que, na vida — seja nos negócios, na política ou na liderança — a estratégia é essencial. Grandes líderes não apenas reagem; antecipam, influenciam e dominam antes que o inimigo sequer perceba.
“A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar.” – Sun Tzu
855# UTOPIA DO PARAÍSO — 15/04/24
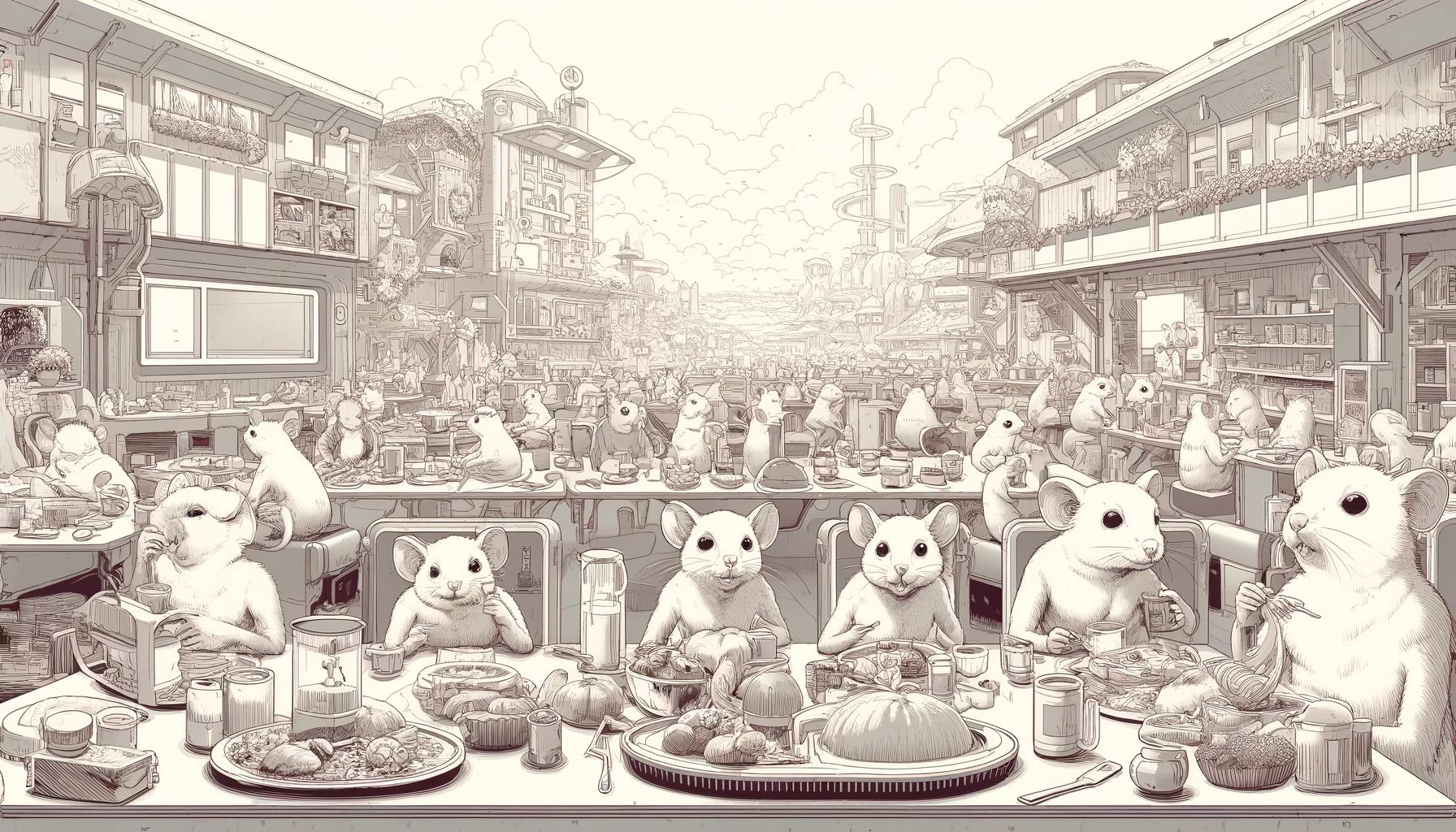
Imagine um mundo onde não falta comida, água, espaço, nem segurança. Um mundo onde todas as necessidades básicas estão garantidas desde o nascimento. Onde o conflito, a luta e o medo foram banidos. E, mesmo assim, esse paraíso implode.
Foi isso que aconteceu no “Universo 25” — um dos experimentos mais fascinantes e perturbadores da história da etologia.
Mas por que “25”? Porque John B. Calhoun, criador do estudo, já havia conduzido 24 versões anteriores de experimentos similares. Esta foi a vigésima quinta tentativa — a mais completa, a mais documentada e também a mais simbólica. Ele acreditava que finalmente havia criado o ambiente ideal. Um paraíso. E o batizou como tal.
O cenário: conforto absoluto
Em um espaço fechado de poucos metros quadrados, Calhoun criou um habitat que eliminava todas as ameaças naturais à vida dos camundongos: comida ilimitada, água fresca, temperatura controlada, ausência de predadores e estrutura física adequada para abrigar até 4.000 indivíduos.
Quatro casais foram introduzidos nesse paraíso. Rapidamente, a população começou a crescer em ritmo acelerado. A cada 55 dias, ela dobrava de tamanho. Era o que qualquer planejador urbano ou gestor social chamaria de “caso de sucesso”.
Quando tudo começa a falhar
Mas esse sucesso durou pouco. Após atingir cerca de 600 camundongos, começaram a surgir distúrbios de comportamento: machos agressivos demais ou completamente apáticos, fêmeas que rejeitavam suas crias, isolamento social e o aparecimento de uma subclasse peculiar — os “belos”.
Esses “belos” eram indivíduos que se recusavam a interagir. Passavam os dias cuidando da aparência, comendo e dormindo. Não brigavam, não acasalavam, não se relacionavam. Eram passivos, silenciosos e socialmente estéreis.
Com o tempo, a reprodução caiu drasticamente. Os poucos filhotes nascidos não sobreviviam. A estrutura social desabou. O espaço, apesar de abundante, tornou-se palco de violência aleatória, abandono materno e solidão generalizada.
Mesmo com comida, água e espaço disponíveis, os camundongos pararam de viver como espécie. A sociedade entrou em colapso.
O colapso final
A população atingiu seu pico com cerca de 2.200 indivíduos — muito abaixo do teto previsto. A partir daí, entrou em declínio irreversível. Os nascimentos cessaram. Os comportamentos anormais se intensificaram. E, com o tempo, não restou nenhum camundongo capaz de se reproduzir.
O Universo 25 morreu.
E essa morte não foi causada por falta de recursos. Foi causada por falta de propósito.
O QUE O UNIVERSO 25 NOS DIZ SOBRE NÓS MESMOS?
A experiência de Calhoun foi feita com camundongos. Mas seria ingenuidade tratá-la apenas como um experimento zoológico. A inquietação que ele provoca vem justamente da semelhança com a condição humana.
O que acontece quando uma sociedade elimina todos os seus obstáculos?
O que sobra quando não há mais necessidade de lutar por nada?
E o que acontece com o indivíduo quando ele perde o senso de utilidade social?
A resposta é desconfortável: o excesso pode paralisar tanto quanto a escassez.
O PARADOXO DA ABUNDÂNCIA
Vivemos hoje em bolhas urbanas e digitais onde os confortos materiais aumentam enquanto os vínculos sociais se enfraquecem. A tecnologia nos protege do esforço, do tédio e até da frustração — mas será que ela também está nos protegendo de viver plenamente?
O Universo 25 mostra que não basta dar tudo. É preciso dar sentido.
Sem propósito, até o paraíso apodrece.
OS “BELOS” ESTÃO ENTRE NÓS
Os “belos” do experimento eram camundongos que se isolaram da vida social. No mundo humano, o comportamento tem ressonâncias preocupantes:
• Pessoas que se afastam do convívio real e mergulham em rotinas centradas apenas em aparência e conforto.
• Profissionais que vivem para o cargo, mas sem engajamento.
• Jovens sem projetos, adultos sem metas, líderes sem visão.
• Comunidades com recursos abundantes, mas com epidemias de solidão, ansiedade e desordem emocional.
Não se trata de uma crítica moral. Trata-se de um alerta comportamental: quando o indivíduo perde o papel social ativo, ele se desconecta — não do sistema, mas de si mesmo.
LIDERANÇA, GESTÃO E SENTIDO
Nas empresas, o “Universo 25” pode ser visto toda vez que uma cultura tenta compensar propósito com pacote de benefícios. Toda vez que a liderança confunde bem-estar com engajamento. Toda vez que o desafio é substituído por conveniência.
A ausência de dor não gera, sozinha, presença de significado.
Se uma equipe tem tudo, mas não tem clareza de para quê está ali, ela entra em modo de sobrevivência artificial: processos são seguidos, metas são batidas — mas a alma já foi embora.
COMO NÃO REPRODUZIR O UNIVERSO 25 NAS ORGANIZAÇÕES
1. Conforto sem desafio paralisa.
Crie metas ousadas, mas humanas. Estimule a superação. Recompense não só o resultado, mas o esforço.
2. A ausência de conflito real cria ruído interno.
Não evite discussões difíceis. Uma equipe que nunca diverge é uma equipe entorpecida.
3. Abundância sem propósito gera alienação.
Explique o “porquê” das decisões. Envolva as pessoas. Dê visão, não apenas tarefas.
4. O bem-estar é consequência, não fim.
Empresas saudáveis produzem bem-estar — mas não são construídas somente por ele.
5. Cuidado com os “belos”.
Valorize quem entrega valor real. Cuide para que a estética não sobreponha a ética da contribuição.
A LIÇÃO QUE FICA
O Universo 25 nos obriga a confrontar uma verdade dura: o ser humano não foi feito apenas para consumir, repousar e evitar dor.
Fomos feitos para pertencer, colaborar, enfrentar, criar, errar, tentar de novo, e crescer com isso.
Quando esse ciclo é interrompido pela ilusão do conforto perpétuo, o sistema não quebra — ele apodrece de dentro para fora.
Mais do que oferecer segurança, liderar é oferecer sentido.
Mais do que garantir estabilidade, construir uma cultura é garantir função social ativa.
E mais do que evitar o caos, precisamos aprender a conviver com ele — porque às vezes, o caos é o que nos mantém vivos.
5 FRASES INSPIRADORAS RELACIONADAS
“Quem tem um porquê enfrenta qualquer como.” – Viktor Frankl
“O conforto é o assassino do progresso.” – Greg Plitt
“Sem um sentido, qualquer abundância vira desordem.” – Osvandré Lech
“O propósito transforma rotina em missão.” – Jim Rohn
“A ausência de dor não significa presença de vida.” – Mario Henrique Meireles
856# Trigeração poucos usam — 04/05/25
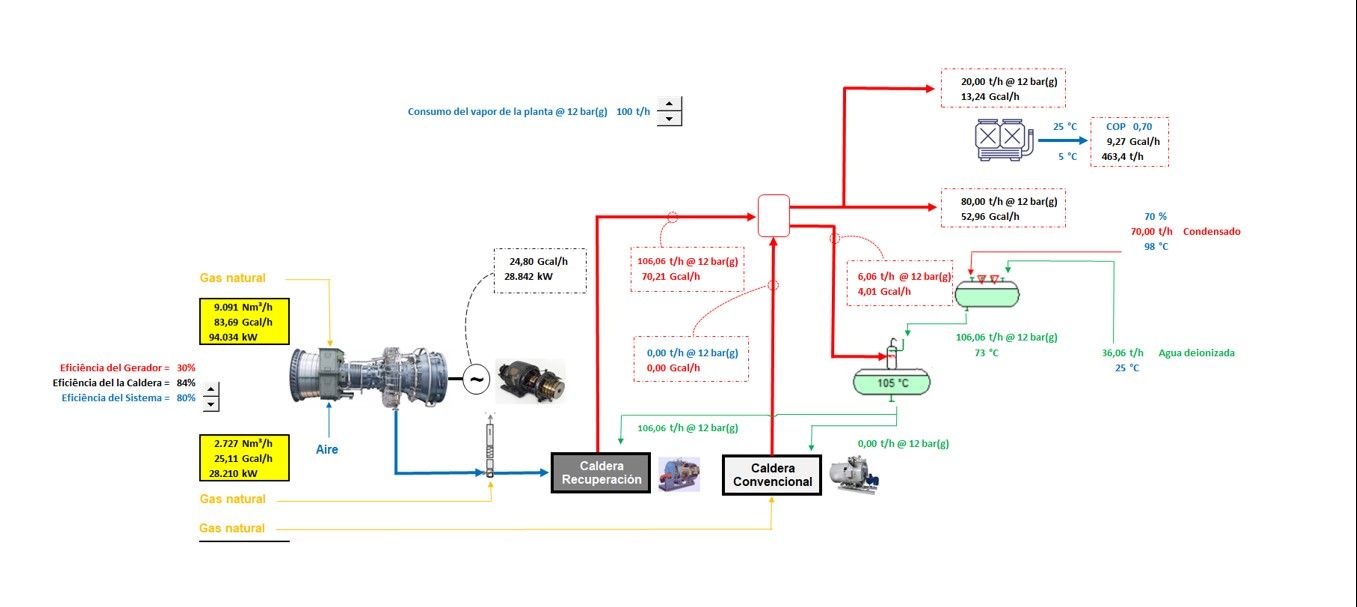
A trigeração (CCHP) não é um conceito novo. Mas segue ignorada em muitas decisões técnicas por puro desconhecimento ou abordagem equivocada de custo-benefício. A proposta é simples: extrair o máximo da energia primária, entregando simultaneamente eletricidade, calor útil e refrigeração com uma única queima de combustível.
Sistemas convencionais desperdiçam até 60% da energia na forma de calor. Em trigeração, esse calor é recuperado e redirecionado: ou para aquecer (via trocadores) ou para resfriar (via chillers de absorção). O resultado prático: eficiência global de 80 a 90%, contra 35 a 40% de usinas isoladas. Não é discurso ecológico — é engenharia aplicada com foco em rendimento.
A estrutura de uma planta típica envolve motor ou turbina (prime mover), gerador elétrico, trocadores para recuperação de calor e chillers movidos a vapor ou água quente. O chiller absorve energia térmica que, em qualquer outro sistema, seria desperdiçada. Isso entrega frio útil (COP ~0,6–0,8) com consumo elétrico praticamente nulo. O ganho é direto: redução da carga de ponta elétrica e menor custo operacional.
Para engenheiros de processo, a lógica é ainda mais objetiva: um sistema CCHP bem dimensionado entrega energia útil com menor consumo específico de combustível. Isso significa menos entrada para a mesma saída — o que reduz custo, emissão e dependência da rede. Em ambientes industriais, onde a demanda simultânea de calor e frio é contínua, o impacto no OPEX é significativo.
Casos reais validam essa premissa. No Hospital São João (Portugal), três motores a gás natural (7,3 MW elétricos) fornecem energia, vapor, água quente e água gelada, com economia energética de 36 GWh/ano e corte de 10.600 tCO₂/ano. Na Suécia, a usina Sandvik opera com biomassa, entregando mais de 700 GWh/ano somando eletricidade, aquecimento e frio — com circuito de cinzas para fertilizante. Eficiência técnica e operacional, sem apelo publicitário.
Em projetos novos, trigeração exige uma análise de carga integrada. A viabilidade depende de três condições: demanda térmica e frigorífica simultâneas e contínuas, fornecimento estável de combustível e projeto com controle automatizado de carga térmica. Instalar chiller de absorção sem carga térmica disponível é erro clássico de projeto. Resultado: ineficiência, subaproveitamento e retorno abaixo do esperado.
Em relação ao combustível, o gás natural segue dominante por eficiência e flexibilidade. A biomassa tem aplicação viável, desde que o calor seja integralmente aproveitado. Hidrogênio é tecnicamente possível, mas ainda economicamente limitado. E trigeração a carvão ou nuclear são exceções, travadas por restrições ambientais.
Onde há demanda simultânea de energia elétrica, calor e frio, a trigeração entrega mais com menos. Reduz custos, melhora o fator de utilização do combustível e elimina redundâncias energéticas.
Projeto que dá gosto!
857# O alumínio como você nunca imaginou – 16/11/24

Hoje, o alumínio está tão presente no nosso cotidiano que mal percebemos sua importância: latas de refrigerante, peças de aviões, automóveis, eletrodomésticos e até em construções. No entanto, o que muitos não sabem é que ele já foi considerado um dos metais mais preciosos do mundo, superando até o ouro em valor por quilograma.
Quando o químico dinamarquês Hans Christian Ørsted isolou o alumínio pela primeira vez, em 1825, ele despertou o fascínio pelo metal, que era leve, resistente e brilhante. Contudo, extrair alumínio da bauxita era um processo extremamente caro. No início de sua produção, o preço do alumínio ultrapassava US$ 1.200/kg, enquanto o ouro custava cerca de US$ 664/kg na mesma época. Esse status de exclusividade fez com que Napoleão III exibisse talheres de alumínio em jantares de gala, enquanto os demais convidados utilizavam utensílios de ouro.
O cenário mudou em 1886, com a invenção do processo Hall-Héroult, que revolucionou a extração do alumínio. Essa técnica, baseada na eletrólise, reduziu significativamente os custos de produção. Com o tempo, o avanço da eletricidade tornou o processo ainda mais eficiente, e o preço do alumínio caiu drasticamente, chegando a US$ 14/kg em 1900 e, atualmente, sendo cotado em cerca de US$ 2,50/kg no mercado global. Essa queda tornou o alumínio um material acessível, essencial em diversos setores industriais.
Nos últimos anos, a reciclagem desempenhou um papel fundamental nessa transformação. Diferentemente de outros materiais, o alumínio pode ser reciclado infinitamente sem perder suas propriedades. Além disso, a reciclagem consome apenas 5% da energia necessária para produzir alumínio novo. Hoje, mais de 75% de todo o alumínio já produzido ainda está em uso, representando uma solução sustentável e econômica para a indústria.
Essa evolução é a prova de como a inovação tecnológica pode transformar um símbolo de luxo em um material essencial para a indústria moderna. Com preços reduzidos e a eficiência garantida pela reciclagem, o alumínio destaca a capacidade humana de otimizar recursos e aumentar a produtividade, mantendo-se relevante em um mundo cada vez mais competitivo.
“O que hoje é provado foi outrora apenas imaginado.” — William Blake
858# Olha o Lobo! – 09/11/24

Em todo ambiente corporativo, existe aquela pessoa que transforma qualquer tarefa em urgência absoluta. Ela é o alarme sempre disparado, que toma a atenção de todos com gritos de "preciso disso para ontem!". O problema? Essa demanda infinita de urgências lembra a história do menino que gritava “Lobo!”: lá iam todos ao seu resgate para perceber que não havia lobo nenhum. Mas o menino insistia, e todos continuavam a correr — até o dia em que o lobo apareceu de verdade, e ninguém mais acreditava no garoto. O desfecho? Trágico.
E o que isso nos ensina sobre o ambiente corporativo? Muito. Essa cultura de urgência falsa esgota a equipe, desorganiza prioridades e paralisa o planejamento, que fica refém dos pedidos histéricos de quem nunca se cansa de pressionar todos ao redor. O trabalho planejado perde espaço para uma maratona constante de “apagões”, enquanto aqueles que deveriam definir prioridades estão presos em um ciclo de caos fabricado.
E o pior é que, para muitos gestores, esse comportamento passa despercebido ou até é confundido com comprometimento. Resultado: essa pessoa segue colocando “lobos” para todo lado, e a equipe, desgastada, perde a noção do que é realmente urgente. Com o tempo, qualquer tarefa torna-se só mais um alarde; a produtividade despenca, e a frustração de todos se instala como norma. Assim, o que era apenas um excesso de entusiasmo pessoal destrói a confiança na organização. As verdadeiras urgências perdem espaço, e a empresa acaba pagando o preço.
Para evitar o impacto desse comportamento, cabe às lideranças um papel decisivo: estabelecer uma comunicação que identifique o que é, de fato, prioritário e instruir as equipes a diferenciar alertas reais de alarmes falsos. Equipes saudáveis sabem quando precisam correr e quando podem focar em seus processos com tranquilidade. Afinal, não há maior desperdício de tempo e recursos do que correr para nada.
“O tempo descobre a verdade.” — Sêneca
859# Domine o jogo da maneira certa! – 12/12/23

A diferença entre eficiência e eficácia parece sutil, mas molda decisões, empresas e legados. Entender essa distinção é mais do que um exercício acadêmico: é uma vantagem estratégica, tanto no campo de futebol quanto na sala de reunião. Por isso, a pergunta que atravessa esse artigo é simples: você está operando com foco no processo... ou no resultado?
O Que Você Faz Importa. Mas o Resultado Importa Mais.
Imagine um profissional que entrega tudo no prazo, responde todos os e-mails, participa de todas as reuniões, domina ferramentas, é organizado e dedicado. Um exemplo de eficiência. Mas se nada do que ele faz movimenta os indicadores estratégicos da empresa — ele é eficaz? Não.
Eficiência é sobre o meio: como os recursos são usados, o tempo é gerido, as tarefas são realizadas. Eficácia é sobre o fim: se aquilo que foi feito alcançou o objetivo desejado.
“Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito.” — Peter Drucker
Ou seja, produtividade sem direção é só desperdício sofisticado.
Futebol Explica Melhor que MBAs
Talvez nenhum exemplo traduza tão bem a diferença entre eficiência e eficácia quanto o fatídico jogo Brasil 2 x 3 Itália, na Copa de 1982.
O Brasil: Eficiente até Demais
Domínio absoluto, 55% de posse de bola, 88% de acerto nos passes, 8 finalizações. O time encantava com técnica e fluidez. O problema? Transformava pouco esse domínio em gol. Perfeito no processo, impreciso no resultado.
A Itália: Eficaz com Frieza
3 finalizações, 3 gols. Uma aula de objetividade. Menos posse, menos passes certos, menos controle — e mesmo assim, vitória. O futebol não premia quem joga bonito. Premia quem faz gol. O mercado é igual. Clientes não pagam por esforço. Pagam por resultado.
O Dilema das Empresas: Métricas Que Enganam
Empresas caem frequentemente na armadilha da eficiência. Criam KPIs operacionais, celebram produtividade, reduzem custos — mas não entregam crescimento real. Por quê? Porque confundem otimização com direção.
Exemplos reais de eficiência inútil:
- Uma linha de produção que bate recordes de peças fabricadas — mas para um produto que o mercado não quer mais.
- Um time de marketing que dispara 30 e-mails por dia — com taxa de conversão próxima a zero.
- Um gestor que corta 20% de orçamento — e compromete 40% da entrega.
Reduzir custos sem preservar valor é suicídio disfarçado de gestão.
Eficiência é Sobre Fazer Mais. Eficácia é Sobre Acertar Mais.
Para entender melhor, vale resgatar a matriz de Stephen Covey (autor de “Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes”):
| Ineficaz | Eficaz | |
|---|---|---|
| Ineficiente | Dispersão total | Esforço desperdiçado |
| Eficiente | Rapidez no erro | O Ideal absoluto |
“A eficácia é resultado de decisões conscientes baseadas em princípios.” — Stephen Covey
Ou seja: eficiência pode ser automatizada, mas eficácia exige critério.
Outros Exemplos Icônicos: Quando o Resultado Fala Mais Alto
1. Kodak – Eficiente até a falência
A Kodak dominava os processos de produção e distribuição de filmes fotográficos. Era benchmark em eficiência industrial. Mas não viu — ou não quis ver — o digital chegando. Resultado: morreu eficazmente ineficaz.
2. Amazon – Eficácia com foco implacável
Jeff Bezos não focou em lucrar rápido. Focou em satisfação do cliente, entrega rápida e escala exponencial. Resultado: eficácia no alvo certo, mesmo que os processos fossem caros e ineficientes no início.
3. Netflix vs. Blockbuster
Blockbuster era uma máquina de eficiência. Logística perfeita, controle de inventário, atendimento padronizado. Netflix era um modelo novo — não tão eficiente no início, mas absurdamente mais eficaz: resolveu o problema real do consumidor.
Por que a Eficácia É o Novo Poder
Em tempos de excesso de dados, informações e tarefas, a eficácia se tornou escassa. Todo mundo está ocupado — mas poucos estão resolvendo algo.
Ser eficaz exige:
- Clareza de objetivo
- Coragem para eliminar o que não contribui
- Alinhamento com quem decide o jogo
- Foco no que realmente entrega valor
Futebol, Negócios, Vida: O Jogo é o Mesmo
Assim como em 1982 o Brasil encantou, mas perdeu, muitas carreiras também se perdem no excesso de competência técnica e escassez de visão estratégica.
- Enxerga o gol antes de tocar na bola
- Escolhe as batalhas certas
- Mede impacto, não esforço
“Eficiência sem eficácia é como correr em direção ao lugar errado.” — Mario Sergio Cortella
E Como Ser Eficaz?
- Comece pelo “por quê”
Se você não sabe por que está fazendo algo, provavelmente está apenas ocupando tempo. - Pergunte: “Isso gera valor real?”
E não apenas para você — mas para quem paga sua conta. Cliente, chefe, investidor, mercado. - Elimine tarefas que apenas parecem importantes
Nem tudo que brilha é ouro. E nem todo relatório é necessário. - Comunique o impacto — não o processo
Pessoas eficazes sabem mostrar o valor gerado, não o esforço dedicado.
Frases para Pensar (e aplicar)
“Eficiência é fazer as coisas direito. Eficácia é fazer as coisas certas.” — Peter Drucker
“Resultado é tudo. O resto é barulho.” — Jack Welch
“Não confunda movimento com progresso.” — Denzel Washington
“É inútil ser eficiente se você estiver indo na direção errada.” — James C. Collins
“Eficiência economiza centavos. Eficácia gera milhões.” — RXO
Resumo Final
Eficiência é importante. Mas a eficácia é essencial. Num mundo competitivo, imprevisível e veloz, ser apenas eficiente pode até dar destaque — mas não garante vitória.
O que define os vencedores é a capacidade de:
- Ler o jogo certo
- Jogar as fichas certas
- Fazer o gol — mesmo com menos posse de bola
A Itália de 1982 não teve brilho. Mas teve eficácia. E no fim, é isso que entra pra história.
Citações Inspiradoras:
- “Eficiência é fazer as coisas direito. Eficácia é fazer as coisas certas.” — Peter Drucker
- “Não confunda movimento com progresso.” — Denzel Washington
- “Resultado é tudo. O resto é barulho.” — Jack Welch
- “O maior erro das empresas é serem eficientes em coisas irrelevantes.” — Jim Collins
- “Eficiência sem eficácia é como acelerar no caminho errado.” — RXO
860# Queremos mesmo salvar o Meio Ambiente? — 06/02/2023

Quando se menciona o Brasil no cenário mundial, frequentemente destaca-se o papel do país nas questões climáticas. A Amazônia, reconhecida como o bioma mais vital do planeta, é frequentemente apontada como essencial para a sobrevivência do nosso ecossistema global. Especialistas alertam que sua preservação é crucial, caso contrário, enfrentaremos consequências catastróficas.
Reconheço a gravidade da degradação de qualquer bioma e a importância de abordar essa questão. No entanto, é fundamental ressaltar que o Brasil enfrenta outros desafios igualmente urgentes e de grande impacto para sua população, mas que recebem menos atenção. Um exemplo crítico é o Saneamento Básico. Mesmo com essa vasta riqueza natural, ainda enfrentamos problemas que em países desenvolvidos já se transformaram inclusive em fonte de renda: países como Suécia e Alemanha já transformaram o saneamento em uma fonte de energia com lucro de 2 GUSD por ano. E infelizmente em nosso caso, de acordo com o Instituto Trata Brasil, apenas 46% do esgoto gerado no país é tratado, deixando mais da metade sem tratamento adequado.
Olhando somente esgoto doméstico:
Estima-se que 200 kg percapita é gerado para tratamento de esgoto. Com isso, geramos em torno de 40 milhões de toneladas para ser tratado. Em torno de 22 Mt estão sendo enviados diretamente para corpos d'água sem tratar. Tratamentos convencionais, reduzem em torno de 80% dessa carga, ou seja, reduziria esse número para 4 Mt. O restante é transformado em gases e água. Dos gases formados, H2 e CH4 são interessantes fontes de energia, que já são usados por países europeus como mencionado antes.
Isso mostra que não devemos apenas focar nas questões ambientais de destaque global, mas abordar questões locais que afetam diretamente a qualidade de vida da nossa população e até com potencial de renda sustentável, como a geração de energia a partir do tratamento de esgoto.
Portanto, para efetivamente salvar o meio ambiente, devemos adotar uma abordagem mais assertiva, o que não deixa de estar alinhada com o propósito global.
“O futuro dependerá daquilo que fizermos no presente.” — Mahatma Gandhi
861# O Dólar também me enganou — 07/02/2023

Nasci em 7 de fevereiro de 1974, e já se passaram longínquos 52 anos.
Por curiosidade, realizei uma simulação para descobrir quanto eu teria em mãos se meus pais tivessem comprado 100 g de ouro e guardado para o meu futuro uso. Os resultados me incomodaram!
- Em 7 de fevereiro de 1974, 100 g de ouro valiam US$ 406. Esse valor era equivalente a 39 salários mínimos, o que correspondia a um ano de salário do meu pai.
- Hoje, 09 de novembro de 2025, 100 g de ouro valem US$ 12.913 (45 salários mínimos brasileiro). Se eu tivesse os mesmos US$ 406 em espécie, teria o equivalente a 1,6 salários mínimos, o que corresponde a um mês da pensão que minha mãe recebe hoje.
Nos EUA, até 1971, após várias alterações, ocorreu a quebra do padrão-ouro para o dólar. Isso teve um impacto significativo na desvalorização dessa moeda em relação ao ouro. Antes disso, detentores de dólares podiam trocar sua moeda por uma quantidade fixa de ouro. Esse sistema ajudava a manter a estabilidade e a controlar a inflação. Esse evento ficou conhecido como "Nixon Shock". Essa decisão foi tomada devido às pressões inflacionárias internas nos EUA e ao esgotamento das reservas de ouro do país. E pasmem, a medida, que foi dita por Nixon como provisória, já dura mais de 50 anos!
A quebra do padrão-ouro para o dólar trouxe duras consequências para o mundo:
- Desvinculação de outras moedas: com o fim da convertibilidade do dólar em ouro, outras moedas também se desvincularam. Isso deu início ao sistema de taxas de câmbio flutuantes que vemos hoje, onde o valor das moedas é determinado pelo mercado, e o dólar praticamente se tornou a moeda mundial.
- Inflação: sem a restrição do padrão-ouro, os governos e os bancos centrais passaram a ter a liberdade para adotar POLÍTICAS MONETÁRIAS EXPANSIONISTAS, uma expressão bonita para "imprimir dinheiro à rodo".
- Valorização do ouro: com a desvinculação do dólar, o preço do ouro passou a ser determinado pelo mercado. A demanda por ouro como um ativo seguro contra a inflação aumentou, o que elevou o preço desse ativo em relação às moedas, incluindo dólar.
Expansão monetária leva à inflação. Não me atrevi a fazer essa simulação para o Cr$ da época, porque, infelizmente, passei pela década perdida de 80 e sei muito bem o que foi isso, vendo os malabarismos que minha família fazia para sobrevivermos. Sim, a mesma inflação de 80% ao mês que um FDP de um Presidente da República afirmou que também sobreviveu e que não faz mal a ninguém.
Agora entendo por que o Bitcoin assusta quem tem a impressora de moeda, pois isso iria escancarar de vez a incompetência de governos mostrando para que eles realmente servem!
“Todas as pessoas informadas precisam conhecer o Bitcoin porque ele pode ser um dos acontecimentos mais importantes do mundo?" — Leon Louw
“Em algum momento o senhor operou com "créptomoeda", com “bitcóio” ou outros?" — Renan Calheiros
862# Como deve pensar um Engenheiro? — 09/02/25
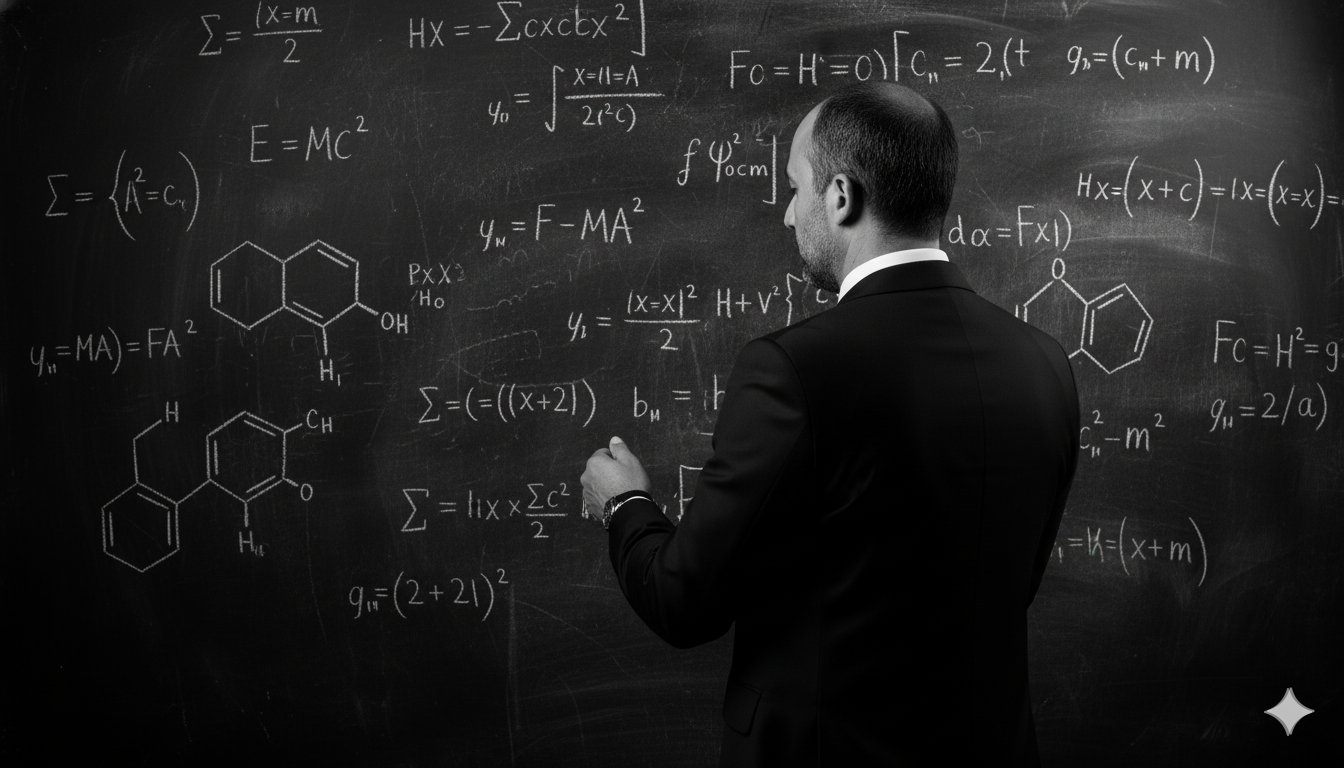
Imagine que você está diante de um problema aparentemente insolúvel. Enquanto a maioria das pessoas desanima, um engenheiro enxerga apenas uma equação inacabada. Para ele, toda questão tem um ponto de ataque, um padrão oculto ou uma solução esperando para ser encontrada. O pensamento engenheiro não é apenas lógico, é estrategicamente orientado para a eficiência.
A Mentalidade da Solução
Um engenheiro não vê um carro – ele vê aerodinâmica e coeficiente de arrasto. Não enxerga um edifício – ele vê cargas estruturais e resistência dos materiais. Seu cérebro é programado para destrinchar problemas em elementos menores, até encontrar a resposta mais eficaz.
E aqui está um ponto essencial: para um engenheiro, não basta funcionar. A solução precisa ser ótima, economizar tempo, reduzir custos, garantir segurança e ser capaz de aprimoramento. É o pensamento da máxima eficiência, do "como podemos fazer melhor?"
Pegue por exemplo a Ponte Golden Gate. Quando projetada nos anos 1930, muitos duvidavam de sua viabilidade. As correntes marítimas, os ventos extremos e a distância colossal entre os pilares eram desafios monstruosos. Mas os engenheiros não perguntaram se era possível – perguntaram como torná-la possível. O resultado? Uma obra-prima da engenharia, resistente a terremotos e que segue funcional quase 100 anos depois.
Outro exemplo? O pouso da Apollo 11. Quando o computador de bordo da nave falhou a poucos metros da Lua, Armstrong assumiu o controle manual. Mas como ele conseguiu fazer essa manobra com precisão? Porque engenheiros já haviam calculado cada variável, permitindo que, mesmo sem os sistemas automáticos, a nave seguisse um comportamento previsível.
Engenharia não é só ciência exata. É antecipação de problemas, é criar soluções que resistam ao inesperado.
Muita gente pensa que engenheiros adoram complicar. Errado. Os melhores engenheiros buscam a simplicidade, porque sabem que quanto mais simples e robusto um sistema for, menor a chance de falha.
A Apple entendeu isso ao criar o iPhone: eliminou botões desnecessários, otimizou interfaces e focou no essencial. Os aviões comerciais fazem o mesmo – menos peças móveis, menos riscos. Na engenharia, o simples bem-feito sempre vence o complexo frágil.
Erro não é o Fim – é um Dado
Para um engenheiro, falhar não é um desastre, é um aprendizado estruturado. Quando um avião cai, especialistas não buscam culpados – eles desmontam cada peça, analisam cada registro e extraem lições para que o erro nunca mais se repita.
É esse pensamento que constrói o mundo ao nosso redor. Cada ponte, cada motor, cada aplicativo no seu celular é o resultado de múltiplas tentativas, ajustes e melhorias constantes.
No final, pensar como um engenheiro é enxergar o invisível, otimizar o inevitável e simplificar o complexo. É um jeito de ver o mundo onde não há problemas insolúveis – apenas soluções esperando para serem descobertas.
“Medir é saber. Se você não pode medir, não pode melhorar.” — Lord Kelvin
863# Segredo é transformar variáveis em constantes — 07/07/24

Em engenharia, uma variável é um elemento que pode assumir diferentes valores ao longo do tempo, como a temperatura, pressão ou velocidade. Já a essência da excelência na engenharia está em reduzir variações de maneira que se comportem de forma mais previsível e controlada, como se fossem constantes.
Um exemplo prático disso é a aplicação do Índice de Capacidade de Processo (CpK). O CpK é uma métrica utilizada para verificar a capacidade de um processo de produção de gerar produtos dentro das especificações desejadas. Este índice é calculado a partir da fórmula:
CpK = min ( (USL − μ) / (3σ), (μ − LSL) / (3σ) )
- USL é o limite superior de especificação,
- LSL é o limite inferior de especificação,
- μ é a média do processo,
- σ é o desvio padrão do processo.
Um CpK de 1,33 é geralmente considerado ideal, pois indica que a variação do processo é pequena o suficiente para que os produtos estejam consistentemente dentro dos limites especificados, transformando uma variável (a qualidade do produto) em algo muito próximo de uma constante.
Implementar sistemas de controle que mantenham variáveis como temperatura, pressão e umidade dentro de limites estreitos é essencial para aumentar o CpK. Ao reduzir essas variáveis a valores quase constantes, é possível garantir que a produção não só atenda aos padrões de qualidade, mas também minimize desperdícios e aumente a eficiência operacional.
Por exemplo, na indústria automotiva, a precisão na fabricação de peças é crucial. Se as dimensões das peças variam além dos limites aceitáveis, isso pode resultar em produtos defeituosos ou falhas em componentes críticos. Ao aplicar técnicas de controle estatístico de processos (CEP) e monitorar o CpK, as empresas podem identificar e corrigir variações no processo de produção, garantindo que as peças fabricadas sejam consistentes e de alta qualidade.
Um exemplo prático pode ser observado na produção de leite UHT (ultra-high temperature). O leite UHT é tratado termicamente a temperaturas muito elevadas, geralmente entre 135°C e 150°C, por um curto período de tempo para garantir a esterilização do produto sem comprometer seu sabor e valor nutricional. Manter a temperatura exata, e o tempo exato são crucias para assegurar que todas as bactérias sejam eliminadas sem afetar a qualidade do leite. Ao monitorar e ajustar constantemente a temperatura e o tempo de exposição através do CpK, as empresas podem garantir que o processo de esterilização seja uniforme e que o leite atenda consistentemente aos padrões de qualidade e segurança alimentares.
Em suma, a busca por transformar variáveis em constantes é uma prática essencial na engenharia, visando a estabilidade e a eficiência dos processos produtivos. A aplicação de métricas como o CpK permite às empresas monitorar e ajustar suas operações, garantindo produtos de alta qualidade e mantendo a competitividade no mercado.
Viva la Excelencia Carajo!!! 🤣 🤣 🤣 🤣
“O segredo é transformar variáveis em constantes” — RXO
864# Somos apenas 7% — 10/06/24

Hoje, somos mais de 8 bilhões de pessoas vivas. O número impressiona, mas também esconde uma revelação desconcertante: somos uma minoria entre todos os Homo sapiens que já existiram.
Estima-se que 108 bilhões de seres humanos já tenham passado por este planeta desde que o Homo sapiens surgiu. Isso quer dizer que, para cada pessoa viva hoje, outras 13 já morreram. E mais: somente 7% de todos os humanos que já caminharam sobre a Terra estão vivos neste momento.
É uma estatística que muda a forma como percebemos nossa presença. Somos o agora de uma história escrita com bilhões de nomes, a maioria esquecida, a maioria sem lápide, sem rastro, sem sequer um registro. E ainda assim, cada um deles foi necessário para que nós existíssemos. Cada um deles empurrou o tempo um milímetro adiante.
Um Cálculo com 200 mil Anos
A ciência estima que o Homo sapiens surgiu há cerca de 200 mil anos, mas foi apenas a partir de 50 mil anos atrás que começamos a nos multiplicar em número significativo. No intervalo entre 100 mil e 50 mil anos atrás, somos apenas 8 milhões.
Imagine: 8 milhões de pessoas em 50 mil anos. É menos do que cabe hoje em uma cidade de médio porte. E no auge da Pré-História, por volta de 50 mil anos atrás, a população mundial era de 2 milhões de indivíduos — menos do que a população da Zona Leste de São Paulo.
A explosão populacional só começou com a agricultura, há cerca de 10 mil anos. Nesse ponto, o planeta abrigava cerca de 5 milhões de pessoas. Já em 2000 a.C., éramos cerca de 100 milhões. Quando Cristo nasceu, o mundo contabilizava 300 milhões de pessoas.
Em outras palavras: metade de toda a humanidade que já viveu nasceu antes do ano 1. A outra metade nasceu nos últimos 2 milênios.
Os Marcos de Crescimento Populacional
Ano — População Estimada
50.000 a.C. — 2 milhões
10.000 a.C. — 5 milhões
2000 a.C. — 100 milhões
Ano 1 — 300 milhões
1000 d.C. — 500 milhões
1800 — 1 bilhão
1928 — 2 bilhões
1960 — 3 bilhões
1974 — 4 bilhões
1987 — 5 bilhões
1999 — 6 bilhões
2011 — 7 bilhões
2022 — 8 bilhões
O salto de 1 bilhão para 8 bilhões ocorreu em apenas dois séculos. Em toda a história anterior, nunca crescemos tão rápido. Foram necessários 200 mil anos para atingirmos 1 bilhão. Mas apenas 12 anos para saltarmos de 7 para 8 bilhões.
A Metáfora da Ampulheta Humana
Para visualizar esses números, imagine uma ampulheta colossal. Cada grão de areia representa 10 milhões de vidas humanas.
Na parte superior da ampulheta: 800 grãos de areia representam os 8 bilhões de pessoas vivas.
Na parte inferior: 10.800 grãos representam os mortos — os 108 bilhões que já viveram.
E a cada ano, 14 grãos sobem (novos nascimentos), enquanto 6 grãos caem (mortes). Um ciclo constante, silencioso, irreversível.
Mas esses grãos que já passaram para baixo não são todos iguais. Mais de 40% deles morreram antes de completar 5 anos de idade. Outros milhões pereceram por doenças hoje triviais, guerras medievais, partos improvisados, fome, infecções, abandono. A maior parte dos seres humanos que existiram não envelheceu — mal sobreviveu.
Hoje, com expectativa de vida global acima dos 72 anos, estamos vivendo uma anomalia histórica. Pela primeira vez, envelhecer é a regra. E mais: pela primeira vez, morrer de velhice é comum. Durante séculos, isso foi privilégio de poucos.
A Matemática dos Mortos
Por mais que pareça mórbido, entender a história da população humana é entender o peso do tempo. É encarar que somos estatisticamente transitórios, biologicamente efêmeros e demograficamente minúsculos.
Mas ao mesmo tempo, é reconhecer algo grandioso: nunca existiu tanta vida consciente ao mesmo tempo na Terra.
A vida já foi frágil. Já foi curta. Já foi solitária. Hoje, ela é numerosa, interligada, expansiva.
E, em parte, isso explica a complexidade de nossos dilemas atuais: mudança climática, desigualdade, escassez de recursos, inteligência artificial. Nunca fomos tantos — e nunca tivemos tanto poder coletivo.
O Futuro da População Humana: estimativas da ONU indicam estabilização entre 10 e 11 bilhões até 2100, com possível reversão demográfica no fim do século em diversos países devido a queda de natalidade e envelhecimento.
O Paradoxo da Existência
Você é um dos 7% que carregam o bastão da existência. Isso é um privilégio estatístico. Um milagre genético. Uma coincidência cronológica.
Dos 108 bilhões que vieram antes, nenhum viveu este momento, neste século, com esse acesso, esse conhecimento e esse nível de expectativa de vida. Você é a ponta da linha. O pixel mais recente de um quadro que começou há 200 mil anos.
É isso que diferencia um ser humano comum de um ser humano consciente: entender que está aqui, agora, como resultado de bilhões de tentativas — e erro. E que cada erro do passado tornou possível a sua presença hoje.
Cinco frases de reflexão
- “Você é a média de milhões de antepassados que se recusaram a morrer cedo demais.” — Osvandré Lech
- “Mais importante que viver é entender o que fazer com o tempo que se vive.” — Stephen Covey
- “Não podemos mudar a história, mas somos o que ela construiu.” — Jim Rohn
- “O futuro pertence àqueles que entendem o passado com responsabilidade.” — Napoleon Hill
- “A maior riqueza da humanidade é a vida — e cada nova geração é um milagre estatístico.” — Mario Henrique Meireles
865# Eu conheci o Chico Pé de Pato — 10/06/2024

Nasci em São Miguel Paulista, um dos epicentros da violência urbana em São Paulo entre as décadas de 70 e 90. Era comum ouvir histórias que misturavam horror, fascínio e impunidade — envolvendo a temida ROTA, criminosos que dominavam quarteirões inteiros e personagens obscuros como Francisco Vital da Silva, mais conhecido como Chico Pé de Pato. Ele não foi apenas um justiceiro — foi um retrato cru da falência da segurança pública.
Nos anos 70, São Paulo era palco de um processo acelerado de urbanização. O crescimento populacional desenfreado, impulsionado pelo êxodo rural e pela promessa de trabalho na construção civil e na indústria, criou uma massa urbana desassistida. Francisco era parte dessa massa. Um baiano de Campo Alegre de Lourdes, chegou à capital em 1973 e começou a trabalhar como pedreiro. Um acidente de trabalho deixou sequelas físicas — e um novo nome: Pé de Pato, em razão da deformidade que passou a carregar.
O apelido seria apenas folclórico, não fosse o que viria depois.
O Brasil da década perdida
Na década de 80, o Brasil vivia a chamada "década perdida". Hiperinflação, desemprego e falência das instituições criaram o ambiente perfeito para o surgimento dos chamados justiceiros urbanos. O Estado era percebido como ausente, ineficiente e, muitas vezes, cúmplice da criminalidade. Era nesse vácuo de autoridade que personagens como Chico Pé de Pato ganhavam espaço.
Em 1982, Chico abriu um bar na zona leste. A iniciativa, aparentemente pacífica, se transformou em gatilho para sua transformação. O bar virou ponto de confronto: inadimplência, tráfico de drogas, ameaças. Em 1984, o trauma: criminosos invadiram sua casa, estupraram sua esposa e filha, roubaram seus pertences. Francisco deixou São Paulo. Mas voltou dois meses depois — transformado. E com sede de sangue.
A transformação de Francisco
No retorno, Francisco deixou de ser vítima e passou a ser executor. A primeira ação foi registrada em agosto de 1985: dois homens, acusados de serem os estupradores de sua família, foram mortos por ele. O caso repercutiu, mas o sistema engoliu em seco. Em vez de cadeia, Chico passou a ser informalmente utilizado pela própria polícia, num modelo extralegal de justiça terceirizada.
A década de 80 foi particularmente violenta em São Paulo. Em 1984, o índice de homicídios no estado era de 14,6 por 100 mil habitantes. No fim da década, saltaria para mais de 32. A ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), criada em 1970, era temida por sua atuação dura. Mas a corrupção e a ineficiência das polícias convencionais criaram espaço para justiceiros.
Chico não era exceção. Era a regra silenciosa de uma cidade em colapso moral.
A era dos anti-heróis
Chico Pé de Pato se tornou um símbolo. Mas não estava sozinho. Cabo Bruno, ex-policial militar, foi responsável por dezenas de execuções na Grande São Paulo. Pedrinho Matador, psicopata confesso, assassinou mais de 70 pessoas com as próprias mãos — muitas delas dentro da cadeia.
Esses nomes figuravam com frequência no jornal “Notícias Populares”, veículo sensacionalista que vendia milhares de exemplares explorando a miséria urbana. A figura do “justiceiro” vendia jornal, mas também vendia esperança — ainda que distorcida. O povo, desesperado por segurança, os via como uma espécie de solução paralela.
A linha entre herói e criminoso, justiça e barbárie, foi completamente apagada.
Quando o justiceiro erra
A carreira de Chico acabou do mesmo modo como começou: no improviso, no erro, na tragédia. Em uma de suas missões, matou um policial à paisana. A polícia, que até então o tolerava (ou utilizava), virou contra ele. Francisco foi então auxiliado por Afanásio Jazadji, jornalista e advogado que atuava como mediador entre figuras da marginalidade e o sistema legal.
Foi preso, condenado a seis anos de prisão. Enviado ao presídio do Carandiru, acabou morto em 1987 durante uma rebelião. O presídio, símbolo máximo da falência do sistema penitenciário, selou o fim de Chico Pé de Pato — e, talvez, de uma era onde justiceiros ainda eram tolerados.
O dilema da justiça pelas próprias mãos
A história de Chico Pé de Pato é mais que uma crônica policial. É um espelho do Brasil urbano dos anos 80. Uma sociedade onde o medo ultrapassou o civismo. Onde a Justiça parecia um luxo distante. Onde a população pobre, esmagada pela violência, se agarrava ao que restava: mitos armados com fúria e desejo de vingança.
Mas o problema vai além do contexto histórico. Ainda hoje, o fascínio popular por justiceiros sobrevive. Basta ver o culto a figuras como Capitão Nascimento, de “Tropa de Elite”, ou o apoio a medidas de "tolerância zero" que frequentemente atropelam o devido processo legal.
O desejo de segurança não pode justificar o abandono do Estado de Direito. Porque toda vez que abrimos mão da legalidade, criamos espaço para o arbítrio — e o arbítrio, cedo ou tarde, mata inocentes.
Chico foi vítima, algoz e símbolo. Morreu sem julgamento público, sem defesa institucional, sem redenção. Sua vida foi a síntese brutal de um país em desequilíbrio — e seu fim, o retrato de uma estrutura que ainda hoje hesita entre a justiça e o linchamento.
Cinco frases para reflexão
- "A violência é o último refúgio do incompetente." — Isaac Asimov
- "Não há caminho para a paz. A paz é o caminho." — Mahatma Gandhi
- "Quando a justiça falha, nasce a vingança." — Mario Henrique Meireles
- "Uma sociedade que troca liberdade por segurança não merece nenhuma das duas." — Benjamin Franklin
- "A ausência do Estado é o solo fértil onde brota o justiceiro." — Osvandré Lech
866# Uma das piores invenções da humanidade — 10/06/24

O cigarro, a cannabis e a cultura da autodestruição legitimada como liberdade
Poucas criações humanas foram tão devastadoras, normalizadas e incentivadas quanto o cigarro. Seu histórico é o retrato de como uma sociedade pode aceitar a destruição lenta e visível em troca de prazer imediato, status simbólico e conveniência comercial. A origem do tabaco é ancestral. Povos indígenas nas Américas o utilizavam em rituais sagrados, muitas vezes com fins espirituais ou medicinais. Ali, o uso era limitado, simbólico e respeitoso. Não havia glamour. Havia reverência. E como acontece com muitas tradições ancestrais, a tragédia começa quando o sagrado é sequestrado pelo mercado. Com a chegada dos europeus no século XVI, o tabaco virou produto. E logo depois, com o avanço da industrialização, virou vício.
Durante o século XX, a máquina de propaganda fez seu trabalho com maestria. O cigarro foi elevado à categoria de ícone cultural. O fumante era retratado como forte, sedutor, ousado. Filmes, revistas e comerciais transformaram o hábito em símbolo de liberdade e virilidade. Milhões de pessoas passaram a aspirar, literalmente, a imagem que lhes era vendida. Mas, ao contrário de um bom produto, o cigarro entrega exatamente o que promete: dependência, decadência, destruição. E mesmo com as evidências científicas acumuladas ao longo das décadas, a engrenagem seguiu ativa por tempo demais. Resultado: uma epidemia global de doenças evitáveis. E um rastro de dor que percorre gerações.
Se falo com tanta veemência sobre isso, é porque vi de perto o que o tabagismo faz com uma família. Cresci rodeado por fumantes. Meus pais começaram aos 14 anos, algo comum entre os nascidos nas décadas de 40, 50 e 60. O cigarro era parte do ambiente, um hábito rotineiro como escovar os dentes. Eles fumavam juntos, dois maços por dia. O cheiro impregnava as roupas, os móveis, os abraços. Eu e meus irmãos nunca nos deixamos seduzir por isso. Talvez por repulsa, talvez por consciência precoce, talvez por um instinto de preservação. Para mim, o cheiro sempre foi incômodo. Tanto que evitava até me envolver com namoradas que fumavam. Era difícil compreender como algo tão visivelmente nocivo podia ser tratado com tanta naturalidade. Mas essa é a força de uma cultura bem construída — ela anestesia o senso crítico.
Meus pais largaram o vício. Mas tardiamente. Meu pai parou aos 44, empurrado por problemas cardíacos. Minha mãe, só aos 50, depois de enfrentar uma doença grave. As marcas permaneceram. Respirar com dificuldade, tosses persistentes, e um histórico médico que não precisava ter existido. O que se perdeu em vitalidade não se recupera com força de vontade. Mas o mais chocante não é o dano fisiológico. É o que esse vício representa em termos de lógica social. Durante quase três décadas, meus pais queimaram dinheiro — literalmente. Dois maços por dia equivalem, hoje, a cerca de 700 dólares por ano. Em 30 anos, são mais de 20 mil dólares — o valor de um carro novo ou de uma faculdade. E esse é apenas o custo direto. A conta real inclui medicamentos, internações, consultas, exames, perda de produtividade e, muitas vezes, morte prematura. O cigarro é um modelo de negócio que prospera com base no adoecimento.
Felizmente, o Brasil foi um dos países mais firmes no combate ao tabagismo. A partir dos anos 90, políticas públicas eficientes foram implementadas com rigor: proibição do fumo em locais fechados, campanhas de conscientização com imagens chocantes, aumento de impostos, restrições à publicidade. O resultado foi claro. A taxa de fumantes caiu de 34% nos anos 80 para menos de 10% hoje. São milhões de vidas salvas, milhares de famílias menos expostas ao luto evitável, bilhões economizados em tratamentos. É uma das maiores vitórias sanitárias do país. Mas, ao mesmo tempo em que conseguimos frear a glamurização do cigarro, estamos assistindo à construção silenciosa — e perigosa — de um novo culto à fumaça: o da cannabis.
E aqui não se trata de moralismo. Nem de negar o potencial medicinal da planta. A discussão é outra. A cannabis está sendo tratada hoje com o mesmo romantismo que cercava o cigarro nos anos 50. Como se o simples fato de ser "natural" a tornasse inofensiva. Como se a inalação da fumaça mágica produzisse consciência, liberdade e transcendência. Como se o uso recreativo fosse apenas uma expressão de identidade e não um comportamento com consequências. Estamos repetindo o erro com novo figurino. Influenciadores exibem baseado com orgulho. Músicas exaltam o ritual. Festivais normalizam o consumo. E qualquer tentativa de problematizar essa cultura é rotulada como conservadorismo ultrapassado. Mas a pergunta que devemos fazer não é sobre liberdade de uso. É sobre qual narrativa estamos ajudando a construir.
É verdade que a cannabis não contém o mesmo número de substâncias tóxicas do cigarro. Também é fato que a indústria do tabaco tem um histórico muito mais agressivo em termos de marketing e lobby. Mas ignorar os riscos da cannabis apenas porque ela parece menos danosa é repetir um padrão: o da minimização seletiva. Estudos já apontam prejuízos cognitivos com uso frequente, especialmente entre jovens. Há correlação com doenças psiquiátricas, problemas respiratórios, impacto na memória e na capacidade de concentração. O que está se formando não é uma simples legalização. É uma nova cultura de dependência — vendida com a mesma maquiagem libertária que um dia embalou o cigarro. Estamos substituindo a nicotina pela brisa. O vício pela euforia. A fumaça do velho pelo discurso do novo.
Será que, daqui a 30 anos, veremos campanhas de prevenção contra os efeitos da cannabis? Embalagens com avisos explícitos sobre transtornos mentais? Relatos de gerações marcadas por um novo tipo de dependência? O ciclo é previsível. Primeiro, a substância é romantizada. Depois, popularizada. Em seguida, normalizada. Só então, diagnosticada. Quando os danos se tornam inegáveis, a sociedade tenta conter o estrago. Mas o estrago já foi feito. O cigarro seguiu exatamente esse caminho. E quem assistiu de perto — como eu assisti — sabe o que vem depois.
Fumar, seja o que for, não é símbolo de liberdade. É distração de curto prazo com custo de longo prazo. É anestesia disfarçada de autocuidado. É alienação com verniz cultural. O discurso da liberdade individual precisa ser confrontado com a responsabilidade coletiva. Porque o impacto do fumo não se restringe a quem fuma. Ele invade o ar, os lares, as relações. E, como aprendemos com o cigarro, mata silenciosamente — mesmo quem escolheu não fumar. Por isso, insistir em tratar substâncias inaladas como expressão de identidade é mais do que um erro. É um crime contra a memória das vítimas do tabaco. É zombar da história que sangrou para que hoje tenhamos consciência.
O cigarro foi uma das piores invenções da humanidade. Não pela tecnologia em si, mas pela capacidade de promover sofrimento em larga escala com o consentimento social. A cannabis, se continuar nesse caminho, pode ocupar o mesmo lugar na próxima geração. E será ainda mais trágico — porque agora sabemos. Agora temos dados. Temos histórico. Temos provas. E mesmo assim, fingimos não ver. Fingimos que é diferente. Fingimos que aprendemos.
Mas a verdade é que o ser humano tem memória curta e apetite longo por vícios legitimados. Não se trata de proibir. Trata-se de refletir. Antes que seja tarde. Novamente.
CINCO FRASES PARA REFLETIR:
- “O homem que não aprende com a história está condenado a repeti-la.” — George Santayana
- “A liberdade começa quando você entende que nada te será dado. Mas tudo pode ser conquistado.” — Bill Gates
- “A maioria das pessoas é tão pobre que tudo o que têm é dinheiro.” — Napoleon Hill
- “Liberdade é a oportunidade de tomar decisões que não sejam baseadas no medo.” — Jim Rohn
- “Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela.” — Jesus Cristo
Agora olhem esse vídeo : https://lnkd.in/ePfQuded
Dois pontos que chamam minha atenção:
1 - Por incrível que pareça, um dos piores políticos que o mundo já viu, foi o mais lúcido nessa entrevista!
2- A idiotice do jornalismo já vem de longa data...nós é que não nos atentávamos a isso!
867# Brincando de Casinha — 06/05/24

Lembro-me claramente dos dias em que, aos 10 anos, eu brincava de "casinha" com minha irmã e meu irmão no quintal de nossa casa. Criávamos uma pequena cidade, completa com supermercado, fábrica, polícia, escola, hotéis e um condomínio, onde nossos bonecos eram cidadãos e vizinhos. Cada um de nós tinha seu dinheiro, feito de folhas de caderno velho que cortávamos para simular nossa moeda corrente. Como mais velho, eu era também o mais "rico". No entanto, descobri cedo que ter "200 dinheiros" ou "1.000 dinheiros" não me tornava mais abastado, pois os bens da nossa cidade eram limitados, e simplesmente eu tinha um baita trabalho "fazendo" meu dinheiro, para no final ter minha moeda "desmoralizada" pelos meus irmãos, que percebendo o truque, automaticamente aumentavam os preços de suas mercadorias e me tomavam mais dinheiro 🤣🤣🤣, ou seja, sem saber a gente inflacionava a economia de toda nossa cidade.
Anos mais tarde, tive contato com "As Seis Lições" de Mises. Nela, o autor explica que inflação é o aumento na quantidade de dinheiro em circulação, o que leva à depreciação do poder de compra. Ele aponta que essa depreciação se manifesta no aumento dos preços dos bens e serviços. Mises também destaca que a inflação é frequentemente utilizada pelos governos para cobrir déficits orçamentários, causando distorções econômicas significativas e afetando investimentos e padrões de consumo de forma desigual.
Para exemplificar, no Brasil em 2025, a inflação oficial medida pelo IPCA está acima de 5%, acima da meta. Porém, analisando a base monetária, ela saiu de 7,6 trilhões de reais em dezembro de 2022 para 10,3 trilhões em outubro de 2025, observamos assim um aumento significativo. Comparando com dados de 2004, quando a base monetária era de 1 trilhão de reais, vemos que em quase 20 anos houve um aumento de mais de 800% (https://lnkd.in/eNhQFHHe), enquanto a inflação medida pelo IPCA foi pouco mais de 200% nesse mesmo período (https://lnkd.in/eGvb4Yga). Isso mostra que a inflação percebida pelo público é realmente muito diferente da inflação oficial, e quem paga contas sabe disso.
A discrepância entre esses números revela a necessidade de uma gestão menos distorcida da economia. Assim como na brincadeira de infância, não podemos permitir que o governo continue a inflacionar a moeda sem enfrentar as consequências reais disso. É crucial entender e abordar as causas da inflação para evitar desequilíbrios econômicos graves e garantir uma economia mais estável e justa.
E já passou da hora do governo parar de "brincar de casinha", ou vamos continuar sem saber como resolver isso, já que insistimos ainda em falar que o culpado é o dono do supermercado ou o proprietário de indústrias pelo aumento de preços...
...e aí fica difícil!
Aproveitando, conhecem esse idiota celebrando o fim da inflação com o Plano Cruzado em 1986?: https://lnkd.in/eucw5NuA
Aguardem, pois esse é o substituto natural de Haddad no Ministério da Fazenda 👀
868# Vou te contar um Segredo... — 03/05/24

A partir do livro "O Verdadeiro Poder", de Vicente Falconi, um dos maiores especialistas em gestão, custos e produtividade do Brasil, podemos extrair valiosas lições sobre como aplicar conceitos de Melhoria Contínua de forma eficaz.
Já nos primeiros capítulos, o livro destaca que a essência do gerenciamento eficaz reside na definição de metas claras e precisas. Isso é crucial porque objetivos mal definidos podem levar ao fracasso, mesmo diante de esforços intensos. Portanto, a melhoria contínua começa com um planejamento meticuloso, estabelecendo metas que não apenas desafiam a equipe, mas que também são mensuráveis e alinhadas com a visão global da organização.
Essa obra enfatiza também a importância de lideranças sólidas. Uma liderança eficaz não se limita a ocupar uma posição de autoridade, mas envolve motivar e capacitar os membros da equipe para que atinjam a excelência. O líder deve ser o catalisador da melhoria contínua, instigando cada membro da equipe a superar desafios e alcançar metas ambiciosas.
A partir da metade do livro, a análise de fenômenos e processos é discutida como ferramenta vital para a melhoria contínua. O livro apresenta técnicas para desmembrar problemas complexos em partes menores, o que facilita a compreensão. Esta capacidade analítica é essencial para qualquer líder que deseje implementar mudanças significativas e duradouras.
A obra também ressalta a importância de envolver todos os níveis da organização na análise e na tomada de decisão, conforme detalhado no sétimo capítulo. Uma cultura de envolvimento promove não apenas a aceitação de novas ideias, mas também a responsabilidade compartilhada pelos resultados. A capacitação e o treinamento contínuos são fundamentais para manter todos os funcionários engajados e preparados para contribuir ativamente para os objetivos da organização.
Por fim, cuidar da cultura organizacional e gerenciar a aquisição de conhecimento são temas abordados nos capítulos nove e dez. Uma cultura que valoriza a aprendizagem, a ética e a inovação é essencial para a melhoria contínua. Além disso, gerenciar o conhecimento de forma eficaz garante que a organização não apenas melhore seu desempenho atual, mas também esteja preparada para enfrentar desafios futuros.
Mas vou te contar uma coisa: o livro não faz milagres, e por incrível que pareça, você vai ter que trabalhar, e MUITO!. Vi muita gente que sabia esse livro "decor e salteado", como diz minha mãe, que falhava por não ter o mínimo conhecimento do negócio em que estava envolvido, e por não ter interesse GENUÍNO em pessoas. Cem por cento do tempo era fazendo belas apresentações no PPT e no Power BI, sem nunca tirar o "bumbum" da cadeira, e o pior, evitando ao máximo contato com os "leprosos", e aí quando vem o fracasso, e ele sempre vem, simplesmente saem de cena e entregam a bomba!!!
Segue o link desse bom livro, que não tem culpa por preguiçosos também o lerem: https://lnkd.in/eknFEUZH
869# Regra das 10.000 horas — 28/04/24

A regra das 10.000 horas, popularizada por Malcolm Gladwell em "Outliers", postula que a excelência em qualquer campo é alcançada através de prática intensiva e oportunidades estratégicas. Esta teoria é ilustrada não apenas por figuras como Bill Gates e os Beatles, mas também por histórias extraordinárias como a de Oscar Schmidt, o lendário jogador de basquete brasileiro conhecido como "Mão Santa".
Oscar Schmidt é um ótimo exemplo de como a prática deliberada pode levar a realizações notáveis. Apesar de ser frequentemente celebrado como um talento natural, Oscar sempre refutou essa visão simplista, insistindo que sua "mão santa" não era nada mais do que uma "mão treinada". Sua carreira exemplifica vividamente a regra das 10.000 horas; ele passou incontáveis horas em quadra, praticando arremessos e aprimorando suas habilidades. A dedicação de Schmidt ao basquete ultrapassou amplamente o limiar das 10.000 horas, elevando seu jogo a um nível de maestria raramente visto, e não é a toa que é um Hall da Fama do Basquete norte-americana sem nunca ter jogado na NBA.
Esse compromisso com a prática constante é crucial para entender como habilidades excepcionais são desenvolvidas. Assim como os violinistas da Academia de Música de Berlim, que se diferenciaram pelo tempo dedicado ao instrumento, Schmidt destacou-se por sua incansável dedicação ao basquete. Esta é uma lição vital: a excelência muitas vezes é vista como um dom inato, mas na realidade, é o resultado de esforço persistente e focado.
Além de praticar, Oscar também soube aproveitar as oportunidades que surgiram em sua carreira, como participar de competições internacionais e representar o Brasil em cinco Jogos Olímpicos. Essas experiências não apenas testaram suas habilidades, mas também ampliaram sua resiliência e capacidade de executar sob pressão, características essenciais para qualquer um que deseje se destacar em sua área.
A história de Oscar Schmidt reforça a mensagem de que, embora as 10.000 horas de prática preparem o terreno para o sucesso, são as oportunidades bem-aproveitadas que catalisam um sucesso extraordinário. Seu exemplo inspirador serve como um lembrete poderoso para todos nós: talento é algo que se constrói, não algo que se recebe pronto.
Incentivo a todos a refletirem sobre como a regra das 10.000 horas pode ser aplicada nas suas próprias vidas. Identificar e criar oportunidades, além de se dedicar à prática, pode transformar competência em excelência. A verdadeira maestria é uma combinação de prática dedicada, aproveitamento de oportunidades e, acima de tudo, a crença persistente em nosso próprio desenvolvimento.
Leia o livro "Fora de Série", de Malcolm Gladwell, que isso fica muito mais evidente para nós pobres mortais!
“Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler” — Lula
870# Jogue a vaca no poço! — 30/12/24

Um pai e seu filho adolescente sempre viajavam pelo interior do país em busca de novas oportunidades de negócio. Durante a jornada, dependiam da hospitalidade de moradores para descansar e se alimentar.
Numa tarde, encontraram uma casa simples, onde um casal e seus oito filhos viviam modestamente. Apesar da pobreza visível, receberam os viajantes com generosidade. No jantar, serviram leite, queijo e um pouco de doce de leite como sobremesa. O filho logo notou que havia uma vaca no quintal, e curioso, perguntou ao anfitrião: "como conseguem viver com tão pouco?"
O homem respondeu com um sorriso cansado: "é difícil, mas graças a Deus e a essa vaca, temos o necessário. O leite dela sustenta toda nossa família."
Naquela noite, após se recolherem, o pai acordou o filho:
— Levante-se. Vamos fazer algo importante.
— O quê? — questionou o jovem, ainda sonolento.
— Precisamos jogar a vaca no poço antes de irmos embora.
Confuso e relutante, o filho tentou resistir, mas diante da insistência do pai, ajudou-o a sacrificar o animal. Ao amanhecer, partiram antes que a família acordasse.
Anos depois, o pai e o filho, agora um adulto, decidiram revisitar a região. Ao chegarem ao local, não encontraram mais a casa humilde. No lugar, havia uma residência confortável, cercada por um lindo jardim muito bem cuidado. Intrigados, perguntaram aos vizinhos e descobriram que a família havia se mudado para a cidade.
Curiosos, foram até lá e encontraram o patriarca, que os recebeu calorosamente. Ele parecia outro homem: confiante e cheio de vida. Durante o almoço, contou sua história: "naquela noite que vocês estiveram conosco, aconteceu uma tragédia em que perdemos nossa vaca. Naquele momento ficamos desesperados. Ela era nossa única fonte de sustento. Mas sempre confiante em Deus, saímos daquela vida difícil e viemos tentar a sorte na cidade. Comecei a trabalhar como pedreiro, minha esposa abriu um pequeno negócio, e meus filhos mais velhos encontraram empregos e foram estudar. Com o tempo, nossa vida melhorou. Hoje, agradeço a Deus por ter fechado uma janela e ter aberto uma porta."
O filho, que por muitos anos guardou um forte sentimento rancor e culpa, ouvindo aquelas palavras, ficou pensativo e ao mesmo tempo aliviado. Apesar de nunca ter entendido a atitude do pai, finalmente enxergava o impacto que aquele gesto, na época cruel, havia gerado.
A história da vaca no poço nos ensina que, muitas vezes, aquilo que consideramos essencial pode ser exatamente o que nos prende. A acomodação é confortável, mas impede o crescimento.
Por mais difícil que pareça, às vezes é preciso perder o que nos dá segurança para descobrir nosso verdadeiro potencial.
“Sem crises, não há desafios; sem desafios, não há crescimento.” – Albert Einstein
871# O Sexto Burro — 06/08/24

Já parou para pensar que você é a média das pessoas com quem anda? Essa não é apenas uma frase solta por aí; é a dura realidade. Se você anda com cinco burros, adivinha? Você é o sexto. Mas se você se cerca de cinco mentes brilhantes, parabéns, está a caminho de se tornar o sexto "pica" do grupo.
Parece óbvio, mas você tem ideia do quanto isso impacta sua vida? Saiba que ninguém prospera sozinho, e as pessoas ao seu redor são as bóias ou as âncoras. Se você passa seu tempo com quem só reclama da vida, acha que o mundo deve algo a elas e não move um dedo para mudar de situação, não espere se tornar um visionário. No máximo, vai virar mais um reclamão.
Agora, imagine que você decide dar um salto de qualidade nas suas amizades. Começa a se conectar com pessoas que pensam grande, que não aceitam nada menos que a excelência e que estão sempre buscando crescer. De repente, seu mundo muda. As conversas passam de lamúrias para ideias inovadoras, estratégias de sucesso e planos de ação. Nesse ambiente, o sucesso se torna o padrão.
Quer um exemplo concreto? Pense naqueles grupos de empreendedores que se reúnem para discutir negócios e estratégias. Ali, cada membro se alimenta da experiência do outro, trocam experiências valiosas e, juntos, crescem mais rápido do que cresceriam isoladamente. E a verdade é que isso vale para qualquer área da vida: quem anda com cinco milionários, tende a se tornar o sexto.
Agora, vamos falar sério: se você é sempre o mais esperto da turma, sinto lhe informar, mas você está no grupo errado. E não, isso não é uma ofensa. É um aviso. Quando você se rodeia de pessoas que não te desafiam, que se contentam com o básico, você também vai se acomodar. E o pior de tudo é que vai achar isso aceitável.
Mas a realidade é que isso é perigoso. Crescimento real exige desconforto, exige que você se rodeie de pessoas que te tirem da zona de conforto, que te forcem a pensar de formas ousadas. Se você quer ser a melhor versão de si mesmo, não dá para continuar convivendo com quem está estacionado na vida. É como tentar ser saudável comendo fast food todos os dias.
Então, que tal um desafio? Revise suas companhias. Pergunte-se: essas pessoas me puxam para cima ou me arrastam para baixo? Elas me inspiram a ser melhor ou me fazem questionar por que estou me esforçando tanto? E se a resposta não for o que você esperava, talvez seja hora de apertar o botão de reset nas suas relações.
Lembre-se: você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. E se essa média não te orgulha, é hora de recalcular a rota. O sucesso é uma escolha, e começa pelo tipo de gente que você escolhe ter ao seu lado. No fim das contas, ser o sexto burro ou o sexto gênio é uma questão de decisão.
"Agradeço ao presidente Lula da Silva também, porque ele fez um pronunciamento contundente pela paz na América do Sul, na América Latina, e o poder que a Celac deve ter." – Nicolás Maduro
872# Tempos fáceis e homens fracos — 08/09/24

Em 1999, o filme Clube da Luta destacava a crise existencial do homem moderno no consumismo desenfreado e vazio espiritual. Uma crítica pela busca incessante por conforto e segurança, e a consequente alienação e perda de propósito da humanidade. Tyler Durden, o alter ego rebelde, lembra que “o que você possui acaba possuindo você”. No entanto, essa mensagem foi ignorada, e a sociedade continua em busca de produtos, status e validação superficial.
O ponto central da crítica é a nossa tentativa de preencher o vazio existencial com bens materiais, uma sociedade onde a imagem de sucesso está atrelada ao acúmulo de objetos e não à superação pessoal ou à busca por um propósito maior. E isso não é algo isolado, já que muitos experimentos sociológicos, como o "Universo 25" de John B. Calhoun, corroboram essa perspectiva.
O Universo 25 foi um experimento social que criou uma utopia para ratos, com ambiente perfeito: sem predadores, comida ilimitada e abrigo seguro. No entanto, o resultado foi desastroso. Após uma fase de prosperidade, a sociedade dos ratos entrou em colapso. A ausência de desafios levou à apatia, violência e extinção. Sem necessidade de lutar ou se proteger, os ratos tornaram-se complacentes e desconectados. A superpopulação e a falta de propósito destruíram a ordem e o significado da sociedade.
Assim como esses ratos, nossa sociedade enfrenta o conforto como inimigo. Sem batalhas diárias pela sobrevivência e com segurança relativa, nos é vendido que a felicidade está através dos bens materiais. No entanto, essa busca por satisfação imediata pode levar a um destino sombrio.
Desde nossos ancestrais, passamos por adversidades para nos tornarmos mais fortes, mais resilientes. No entanto, a sociedade moderna nos afasta cada vez mais dessas lutas, substituindo-as por distrações vazias. Como o narrador de Clube da Luta, que tenta resolver seu vazio existencial com móveis caros e medicamentos, estamos procurando soluções onde não existe nenhum real alívio.
O que Clube da Luta e o Universo 25 mostram é simples: sem desafios e desconforto, tornamo-nos entorpecidos e sem propósito. A decadência é inevitável sem a necessidade de lutar por algo maior. Embora o conforto absoluto pareça tentador, somos feitos para a adversidade, onde encontramos propósito, crescimento e, paradoxalmente, liberdade.
Tyler Durden tentou, através da violência e do caos, sacudir os homens de sua letargia. Mas a solução não está na destruição, e sim no redescobrimento do que realmente significa viver com propósito. O problema de nossa sociedade é que trocamos a busca pelo significado pela busca pelo conforto, e isso está nos levando ao mesmo caminho trágico dos ratos do Universo 25.
“Meu avô andava a camelo, meu pai andava a camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, e meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar a camelo…” - Sheikh Mohammed
873# Michael Jordan, o maior... — 05/09/24

...FDP da história do esporte!
Pelo menos essa foi a percepção que tive ao assistir o excelente documentário “The Last Dance”, disponível na Netflix, onde retrata Michael Jordan como um dos maiores atletas da história, fato inegável, mas também, se há uma lição que podemos tirar de sua liderança, é a seguinte: não, ele não é um exemplo a ser seguido. Jordan, embora tenha sido um vencedor nato, tinha uma abordagem de liderança que não merece ser glorificada – muito pelo contrário, deveria servir como um alerta do que não fazer.
Seu estilo, recheado de arrogância, desrespeito e, muitas vezes, abuso psicológico, não tem espaço em ambientes que valorizam a colaboração e o desenvolvimento de pessoas. Ele exigia dos colegas uma dedicação brutal e usava o medo como ferramenta para manter o time sob controle. Os resultados foram ótimos dentro de quadra? Sim. Mas a que custo?
Para quem acredita que excelência é "passar por cima de todos para chegar ao topo", Jordan é o ídolo perfeito. Mas se você entende que ser excelente vai além de números e troféus e tem mais a ver com inspirar, desenvolver e empoderar, então seu comportamento como instituição é um exemplo claro do que deve ser evitado. Jordan humilhava publicamente seus companheiros de equipe e parecia se alimentar do caos e da pressão desumana que ele mesmo criava.
Você gostaria de trabalhar para alguém que constantemente te coloca para baixo, que usa sua posição para minar sua autoconfiança e que acredita que a humilhação é a chave para a vitória? Claro que não. Essa é a realidade que muitos de seus colegas enfrentaram. E não se engane, isso não é "liderança forte" ou "dedicação à excelência". Isso é abuso. Ser uma empresa que busca excelência é algo completamente diferente: trata-se de saber como levar o time à vitória junto com eles, e não às custas de sua saúde mental.
Imagine esse comportamento fora do ambiente esportivo. O bullying psicológico e a humilhação fariam o turnover de qualquer empresa subir às alturas e o ambiente de trabalho se tornaria insustentável. O impacto emocional nesse ambiente arruinaria qualquer senso de coesão e propósito que uma equipe deveria ter. Essa empresa faria mais inimigos do que aliados.
A cultura de liderança que Jordan representa pertence a um mundo ultrapassado, onde os fins sempre justificam os meios. Não é a mentalidade de quem busca construir organizações saudáveis e inovadoras, onde as pessoas são vistas como mais do que peças descartáveis. Portanto, é fundamental que, ao assistir The Last Dance, tenhamos a maturidade de separar o jogador incrível do líder péssimo.
Sim, admire Jordan pela sua habilidade em quadra. Continue aplaudindo suas conquistas como atleta, mas não o coloque em um pedestal como exemplo de liderança. Ele é um alerta do que uma empresa deve não fazer. Se uma empresa quer ser justa de verdade, faça exatamente o oposto do que Jordan fez com seus companheiros.
“O talento vence jogos, mas o trabalho em equipe e a inteligência ganham campeonatos” – Michael Jordan
874# O país da Gambiarra — 26/08/24

No Brasil, quem já ñ apertou um parafuso com uma faca ou usou um pedaço de pau como martelo? Isso é a famosa "gambiarra". Algo que vai além de ser uma simples solução improvisada; é quase um símbolo da nossa identidade. Muitos de nós até nos orgulhamos dessa capacidade de “dar um jeito” em qualquer situação, como prova de nossa inteligência ou competência. Mas vamos ser sinceros: esse orgulho é, na verdade, um grande "engana bobo". Celebramos o improviso quando, na verdade, deveríamos nos perguntar por que precisamos improvisar tanto.
Encarando a realidade: o "jeitinho brasileiro" nem sempre é uma solução, mas sim um reflexo de um problema maior. Desde pequenos, aprendemos a ver o improviso como uma virtude, quando, na verdade, ele nos afasta da excelência. A cultura de ignorar manuais e procedimentos está profundamente enraizada na nossa mentalidade. Seja na manutenção do carro, no cuidado com a saúde ou até mesmo em hábitos básicos como ir a um dentista, preferimos uma solução rápida ao invés de uma prevenção bem planejada.
Esse comportamento não apenas gera problemas para nós mesmos, mas também alimenta um ciclo de mediocridade. Quando negligenciamos a manutenção preventiva ou desconsideramos a importância de seguir diretrizes, estamos plantando as sementes para problemas maiores a médio prazo. Na indústria, isso pode significar máquinas que quebram antes do tempo; na saúde, diagnósticos tardios que poderiam ter sido evitados; e no dia a dia, atrasos e desculpas que expõem nossa falta de planejamento e seriedade.
O problema não está só no improviso, mas na mentalidade por trás dele. Achamos que somos espertos ao ignorar as regras e driblar o sistema, mas, na verdade, estamos nos prejudicando. A exaltação da gambiarra como uma qualidade positiva do brasileiro só serve para encobrir nossa resistência a mudanças reais, ao aprendizado contínuo e à busca pela excelência. Enquanto países que valorizam o planejamento e a prevenção colhem os frutos do progresso, seguimos nos vangloriando da nossa capacidade de "dar um jeito", sem perceber que isso nos mantém presos em um ciclo de estagnação.
Precisamos repensar seriamente essa cultura. Não podemos continuar nos orgulhando de uma mentalidade que, na verdade, é um obstáculo ao nosso desenvolvimento. Ao recorrer à gambiarra, muitas vezes confundimos improviso com precariedade, acreditando que uma solução temporária pode substituir uma definitiva. E assim, acabamos fortalecendo a máxima de que "nada é mais definitivo do que algo provisório".
Acho que já passou da hora de deixarmos de lado o orgulho pela gambiarra e abraçarmos a importância de fazer as coisas da maneira certa, desde o início. Porque, no final das contas, é a busca pela excelência, e não a improvisação constante, que realmente pode transformar um país.
Em tempo: como seria o Brasil se tivesse passado por duas guerras mundiais igual a Alemanha ou duas bombas atômicas como o Japão? 🤔
“Gambiarra é a junção da preguiça com a falta de recursos” - RXO
875# Quando a cultura está podre! — 22/06/25

Você pode imaginar uma fábrica operando com esgoto em vez de água potável?
Não é um experimento de laboratório. É um caso real, com implicações que excedem quaisquer limites éticos, bom senso ou sanidade gerencial. Isso não aconteceu em um país sem leis ou em uma pequena empresa. Estava dentro de uma multinacional auditada, premiada e certificada pela ISO - e pode acontecer em qualquer outro lugar se o sistema estiver doente o suficiente.
Esta planta nasceu e sobreviveu durante as duas primeiras décadas graças aos subsídios estatais do Estado. Recursos públicos que a isentavam de ser eficiente, competitiva ou melhor. Ela tinha apenas o dever de existir. Assim nasceu sua cultura: confortável, fechada ao aprendizado e viciada em aparências.
Sua prioridade: mostrar números bonitos, independentemente da realidade. Os indicadores - segurança, qualidade, produtividade - foram esculpidos como uma arte para caber nos relatórios. Ninguém se importava com o processo, apenas com a aparência: parecendo eficiente, parecendo confiante. Tornou-se uma fábrica de PowerPoint, não uma fábrica de alimentos.
Pesquisas internas, projetadas para detectar problemas, foram manipuladas. Os funcionários foram instruídos sobre como responder. Uma nota ruim pode significar menos recursos, diziam os Gestores de RH. Dizer a verdade era perigoso. Assim nasceu o silêncio e, do silêncio, um sistema.
Um dia veio a seca. O rio que abastecia a planta tornou-se um fio de água podre. Marrom, pestilento, intratável. E surgiu o dilema: parar tudo ou continuar fingindo. Eles escolheram fazer aquilo que já estava na cultura daquela planta: continuar fingindo. Não por malícia, mas porque eles não sabiam mais como operar com a verdade. Parar era falhar, e o sistema não permitia isso.
Assim, toneladas de um famoso produto alimentício – que você e eu temos em casa – foram feitas com água contaminada. Mau cheiro? Ignorado. Controles? Rastreabilidade? Alterado. A planta continuou a operar como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse normal.
Os consumidores reclamaram em massa. Auditorias chegaram, consultores ativaram protocolos. Mas eles não encontraram nada. O dano foi compensado, as evidências removidas com cálculo e autorização. A planta foi "limpa", no sentido literal: eles apagaram todos os vestígios possíveis e imagináveis.
E depois? A reação típica corporativa: plano de ação, slides, treinamentos, novos fluxos. Tudo para fingir que algo estava sendo feito. Ninguém tocou na raiz. Ninguém disse: "Nós criamos esse monstro".
Finalmente, o maior cliente quebrou o contrato. A planta entrou em declínio. Alta rotatividade de líderes, moral no fundo do poço. Resultados? Nenhum. Tornou-se um cemitério corporativo: paredes limpas, reputação podre.
Não é uma história sobre água contaminada. É sobre cultura apodrecida. Sobre como as empresas se corroem por dentro muito antes de chegarem às manchetes. E como as mentiras, quando se tornam políticas, transformam qualquer organização em um castelo de cartas.
E não se engane: isso pode acontecer em qualquer empresa, inclusive na sua.
“A cultura devora a estratégia no café da manhã.” — Peter Drucker
876# Não se orgulhe do Senso de Urgência — 15/06/25

Há líderes que se orgulham do “senso de urgência” como se isso fosse algo digno de medalhas. Como se viver no limite, resolver no último segundo e “virar a noite” fosse sinônimo de competência. Não é. Em 90% dos casos, é só falha de planejamento com boa comunicação.
Num curso sobre gestão, ouvi uma frase brutal que não esqueci: “O urgente, um dia, foi importante. E você ignorou.” Isso deveria estar impresso nas salas de reunião de todas as fábricas do país. Porque é exatamente isso que define a diferença entre operação reativa e organização de alta performance.
Empresas que vivem apagando incêndios são, na verdade, aquelas que deixaram o combustível se acumular — e agora se assustam com as chamas que elas mesmas alimentaram.
A indústria está lotada de gestores eficientes em reação, mas ineficazes em prevenção. Operam bem no caos, mas não sabem construir estabilidade.
Essa inversão de lógica tem nome: improviso sistematizado. E ela se manifesta em decisões corriqueiras — como adiar uma manutenção preventiva para atender uma entrega urgente. Até o dia em que tudo colapsa.
Considere um caso real: sensores com falhas recorrentes foram ignorados por mais de 30 dias. O reparo custaria R$ 10 mil. O prejuízo da parada: R$ 400 mil. Isso não é acidente. É resultado da priorização equivocada. Da ilusão de que “resolver rápido” compensa “resolver certo”.
Não compensa.
Falconi já ensinou: urgência recorrente é ausência de método. Quando isso se torna cultura, o time se acostuma a trabalhar com adrenalina — e a empresa se vicia em heróis. Só que heróis falham. A operação robusta é aquela que dispensa superpoderes porque entrega previsibilidade.
O verdadeiro desempenho nasce da previsibilidade operacional, não da capacidade de improvisar.
Um sistema bem gerido antecipa falhas, mitiga desvios e reduz variações. Isso exige processo, padrão, plano e prioridade. Mas sobretudo exige liderança que entenda a diferença entre eficiência episódica e excelência sistêmica.
E aqui está a reflexão: quantas urgências que você enfrentou nesta semana já davam sinais semanas atrás? Quantas poderiam ter sido evitadas se o importante tivesse sido tratado no tempo certo?
A resposta está na qualidade da sua gestão da rotina.
Não confunda urgência com relevância. A primeira é barulhenta; a segunda, silenciosa. Mas é ela quem define se sua operação é escalável ou apenas sobrevivente.
Se você se vê todos os dias correndo atrás do prejuízo, talvez esteja apenas ignorando o que realmente importa.
Pare de se orgulhar do senso de urgência. Comece a cultivar o senso de importância.
“Gestão é fazer as coisas certas de forma certa, sempre.” — Vicente Falconi
877# Demita o Ultraman Urgente — 24/10/24

Essa pergunta é para os nascidos nos anos 70 e 80: você já assistiu Ultraman, o clássico japonês dos anos 80? Quando um monstro surgia em Tóquio – geralmente vindo do mar –, estava lá ele quieto comendo o esgoto da cidade, quando o Ultraman aparecia para "resolver o problema". Só que aí, o monstro ficava p*to e crescia dez vezes...
...e lá ia o Ultraman, travar uma luta com o Monstro, para resolver o problema, e os dois destruíam prédios inteiros. E mesmo aos 8 anos de idade, eu já me perguntava: será que não era melhor ter deixado o monstro quieto? Ele não voltaria para o mar sem quebrar nada? Pois é, no ambiente de trabalho, tem gente que faz igual: aparece para "salvar o dia", mas só depois de deixar tudo virar um caos.
Esses "solucionadores de problemas" são vistos como heróis corporativos. O caos aparece e logo alguém fala o nome dele. E lá vem ele, como o Ultraman, para lutar contra o problema que, muitas vezes, ele mesmo ajudou a criar. Gambiarra aqui, remendo ali, e pronto: problema resolvido... até que outro "monstro" surja, claro.
A verdade é que, como no seriado, o "monstro" só fica maior porque o próprio herói está lá. E, no mundo corporativo, o caos é alimentado por ações passadas, soluções incompletas e decisões baseadas em empirismo. Esses heróis adoram dizer que já viram de tudo, mas nunca param para fazer o certo desde o início. E o mais incrível? Essas pessoas se tornam indispensáveis, valorizadas por suas habilidades de apagar incêndios – quando, na realidade, são os verdadeiros incendiários.
No fundo, são os pseudo-heróis que perpetuam o caos nas empresas. Enquanto todos estão correndo para solucionar problemas, o real "herói" é aquele que nunca deixa a situação fugir do controle. O verdadeiro profissional, metódico e disciplinado, evita que o caos aconteça. Ele resolve o problema na raiz, não no calor da confusão. Mas, ironicamente, é o solucionador de problemas que recebe os aplausos, as promoções, e o reconhecimento.
Agora, me diga: o que é mais útil? Um herói que só aparece quando o estrago já está feito ou alguém que evita que o caos comece? Eu prefiro quem tem disciplina, visão de longo prazo e sabe resolver as coisas com eficiência antes que os "monstros" saiam do mar.
Cuidado com esses pseudo-heróis. Eles são mais perigosos do que parecem, porque perpetuam uma cultura de desordem disfarçada de eficiência. E ainda saem como vencedores! Lembre-se: eles não salvam o dia. Eles o sabotam antes de consertar...
...portanto, se livre do "Ultraman" que você verá o Monstro desaparecer também!
"Os verdadeiros especialistas evitam problemas, enquanto os oportunistas os criam para depois se destacarem." – Samir França.
878# Mentir como Especialistas — 29/04/24

Num programa de TV na Noruega chamado "Tankens Kraft", a noite é dedicada a uma discussão profunda sobre uma obra de Sócrates, intitulada "A Essência da Virtude". O cenário é sofisticado, com um grande display digital atrás dos convidados mostrando trechos do livro e imagens clássicas de Sócrates. A audiência está elétrica, antecipando um debate rico e informativo.
O moderador, um jornalista cultural conhecido por seu rigor e eloquência, introduz o painel: 4 especialistas renomados em filosofia clássica. Ele anuncia que esta noite será uma jornada "socrática" como nunca visto antes, explorando profundamente os ensinamentos que "A Essência da Virtude" revela.
Ingrid, a primeira a falar, é uma filósofa de Oslo que se aprofunda na análise do conceito de justiça no livro. Com eloquência, ela cita passagens complexas, discutindo como esses novos textos oferecem uma visão mais nuançada da filosofia socrática sobre a virtude, aparentemente conciliando ideias de diferentes períodos da vida de Sócrates.
Henrik, um acadêmico de Bergen, segue discutindo a metodologia de diálogo presente na obra. Ele explica como "A Essência da Virtude" emprega um estilo de questionamento mais direto que os diálogos tradicionalmente atribuídos a Sócrates, sugerindo um desenvolvimento evolutivo em sua abordagem pedagógica.
Amina, de Trondheim, traz à tona o tratamento de Sócrates sobre a mortalidade e a alma, descrevendo como o livro propõe novas interpretações que parecem expandir e até mesmo desafiar interpretações anteriores feitas por Platão.
Karl, o último a falar, discute a influência percebida de pré-socráticos no livro, algo raramente associado diretamente a Sócrates, mas presente nesta obra, demonstrando um conhecimento que impressiona a todos pela sua profundidade.
À medida que o debate avança, a discussão é intensa, com cada participante demonstrando um profundo conhecimento da obra, citando capítulos e versos com uma familiaridade que sugere anos de estudo.
No entanto, ao final do programa, o moderador revela uma reviravolta chocante: "A Essência da Virtude" não é uma obra de Sócrates. Ele explica que Sócrates NUNCA escreveu um livro, e na verdade, foi tudo uma criação de especialistas em filosofia clássica moderna, desenvolvida como parte de um experimento social para testar a credulidade do público acadêmico e geral. O conhecimento profundo dos convidados sobre o livro era, na verdade, parte do experimento — eles eram os verdadeiros autores.
A revelação causou um choque entre o público e os telespectadores. A experiência nos mostra como a autoridade percebida e o contexto podem influenciar a aceitação de informações, destacando a importância do ceticismo e da verificação rigorosa, em qualquer contexto.
Inventar narrativas é mais fácil do que imaginamos, e infelizmente, ñ temos ideia do que pode ou ñ ser real, principalmente quando há "especialistas" envolvidos!
E essa história toda que escrevi é falsa!
“Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade.” — Joseph Goebbels
879# O maior desastre industrial da história — 29/04/24
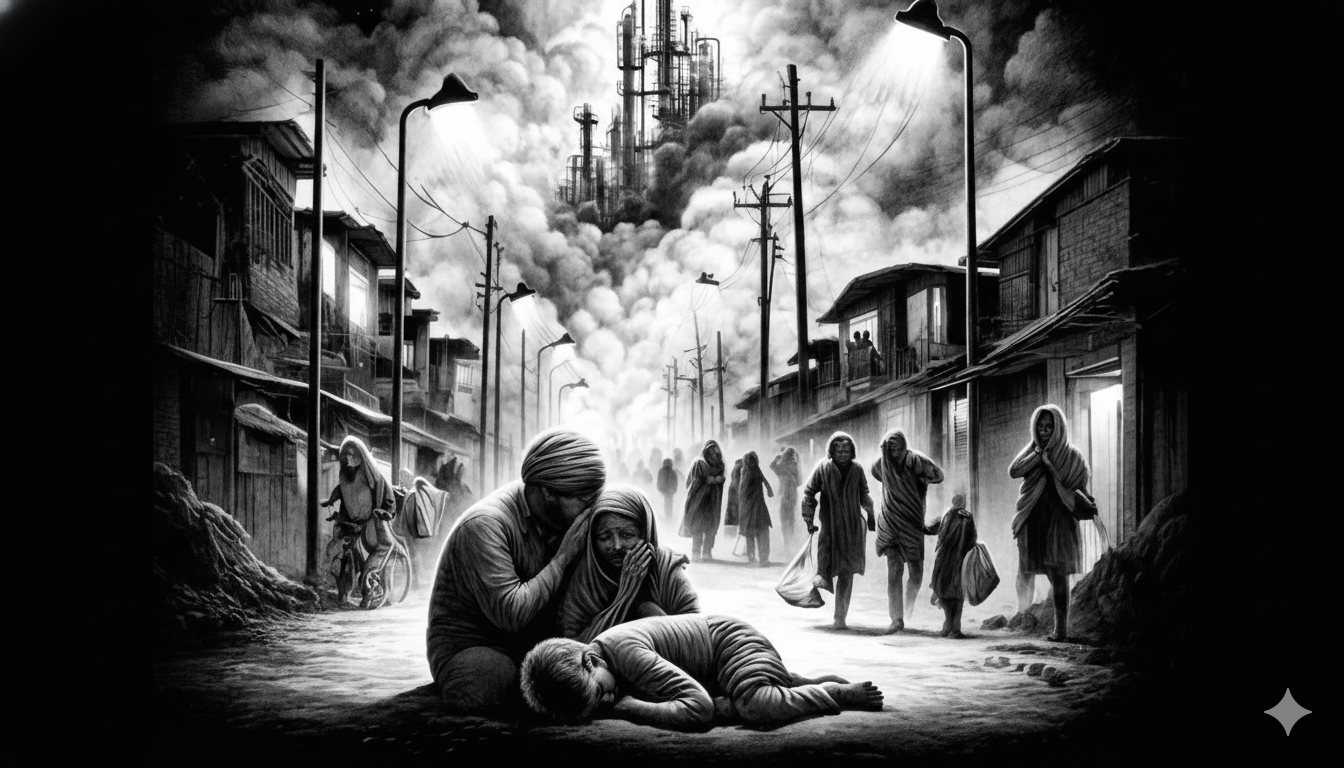
No dia 3 de dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, se tornou o cenário do maior desastre da industria Química do mundo. A fuga de 40 t de isocianato de metila de uma planta da Union Carbide desencadeou uma tragédia imensurável: aproximadamente 3.000 mortes imediatas e centenas de milhares de pessoas afetadas com problemas de saúde crônicos. Essa catástrofe não só gerou consternação mundial devido à sua gravidade, mas também marcou um ponto de virada decisivo para as normas de segurança industrial.
Esse desastre é frequentemente utilizado como exemplo alarmante das consequências devastadoras da negligência e da insuficiência nas medidas de segurança. Naquela noite trágica, falhas graves no sistema de segurança e na manutenção preventiva, aliadas à ausência de estrutura para enfrentar emergências, culminaram em uma catástrofe sem precedentes. A gestão inadequada da crise, especialmente a demora em divulgar informações sobre a natureza do gás aos profissionais médicos, complicou ainda mais os esforços de tratamento.
As repercussões do desastre ultrapassaram as fronteiras da Índia e foram fundamentais para a implementação de regulamentos rigorosos de segurança no mundo. A catástrofe impulsionou a adoção do "Process Safety Management" (PSM) nos EUA, mas também inspirou mudanças significativas em países como o UK e a Alemanha, que revisaram e fortaleceram suas legislações sobre o manuseio de substâncias perigosas. Essas normativas globais são projetadas para evitar que tragédias semelhantes ocorram, sublinhando a importância da prevenção, da preparação e da resposta ágil em situações de emergência.
Ademais, esse desastre sublinhou a necessidade de uma responsabilidade corporativa e ética mais rigorosa. A hesitação inicial da Union Carbide em reconhecer sua responsabilidade e em proporcionar compensações justas às vítimas despertou críticas e intensificou o debate sobre a ética nos negócios e a responsabilidade social das empresas. Esse debate tem incentivado uma prática empresarial mais justa e transparente, particularmente em regiões onde as populações são mais vulneráveis.
Hoje, refletindo sobre o desastre de Bhopal 40 anos depois, é evidente que as lições aprendidas continuam sendo essenciais. A indústria química, em especial, se mantém como uma das mais rigorosas em termos de segurança de processos e gestão de riscos. O legado de Bhopal reforça a necessidade imperativa de vigilância contínua, treinamento constante e, acima de tudo, um compromisso firme com a segurança e a ética em todas as operações corporativas.
Este evento histórico nos convoca a colocar a segurança, a ética e o bem-estar humano acima dos interesses corporativos. Para profissionais e líderes empresariais, o desastre de Bhopal serve como um lembrete perene de que devemos agir proativamente para proteger nossas comunidades e o meio ambiente, reforçando o compromisso com práticas responsáveis e sustentáveis.
“Todo acidente ou Não conformidade de Qualidade é fruto de não seguimento de algum procedimento ou protocolo” - RXO
880# O poder de ir embora — 29/03/25

A maioria das pessoas não tem um problema de falta de tempo. Tem um problema de permanência. Permanência em lugares, vínculos e rotinas que já se tornaram emocionalmente tóxicos, profissionalmente estéreis ou existencialmente irrelevantes. A verdade incômoda é que muita gente está onde não quer estar, convive com quem não gostaria e faz o que não acredita — apenas porque não aprendeu a arte silenciosa e libertadora de ir embora.
Não nos ensinaram a sair. Nos ensinaram a suportar. A aguentar mais um pouco. A evitar conflitos. A ser “forte”. Mas existe uma força mais sutil, mais madura e infinitamente mais saudável: a de reconhecer que algo chegou ao fim e escolher partir. Sem escândalo, sem ressentimento, sem necessidade de explicar. Apenas ir. E isso exige uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar.
Ir embora não é fraqueza, é discernimento. É perceber que o custo de ficar já ultrapassou qualquer benefício que um dia houve. E, muitas vezes, esse custo não é evidente. Ele aparece em forma de irritação constante, cansaço que não se resolve com descanso, uma sensação difusa de deslocamento, uma perda de brilho no olhar que ninguém comenta, mas que você sente todos os dias ao se olhar no espelho.
Criamos a ideia de que sair é fracassar. De um emprego, é desistência. De um relacionamento, fracasso. De um grupo social, ingratidão. Então ficamos — por status, conforto ou medo. E, assim, vamos nos abandonando. Cada ano onde não deveríamos estar adormece uma parte de nós — algumas, para sempre.
O poder de ir embora está em romper a inércia. Entender que o tempo é finito e não deve ser gasto onde precisamos nos diminuir ou somos apenas tolerados. Nesses casos, ficar não é lealdade — é autoabandono.
Aprender a ir embora é um ato de responsabilidade. É escolher a si mesmo, priorizar a paz e romper com o ciclo do “só mais um pouco”, que leva à exaustão e estagnação.
Não é fácil. Ir embora envolve perda, luto, explicações e decepções. Mas ficar também tem um custo — muitas vezes maior. Permanecer sem se sentir inteiro gera frustração, adoecimento e ressentimento, corroendo o que há de mais valioso: a autenticidade.
Pessoas fortes não são as que aguentam tudo. São as que sabem o que não estão dispostas a aguentar mais. São aquelas que, diante de um ambiente tóxico, silenciosamente se retiram. Sem drama. Sem revanche. Apenas partem. Porque entenderam que o respeito próprio não aceita parcelas.
Ir embora também não precisa de anúncio. Quem precisa ouvir não vai entender. Quem entende, já sentiu. E a vida, sábia como é, costuma recompensar quem tem coragem de fazer as malas certas. Quando você deixa o que te sufoca, cria espaço para o que te respira.
Quem aprende a ir embora descobre algo surpreendente: não é o mundo que se transforma. É você quem finalmente se posiciona no mundo de forma inteira. E isso muda tudo.
“A vida é feita de escolhas. E não escolher também é uma escolha.” – Marilise Brockstedt Lech
881# O Porco já venceu... — 02/05/25

Imagine a cena: um porco te chama pra briga. No chiqueiro. Você, claro, aceita. Afinal, você tem razão. Tem argumentos. Tem até um MBA. O porco tem lama. E um sorriso satisfeito. Cinco minutos depois, você está coberto de barro, bufando de raiva e com a plateia gargalhando. Parabéns: você pode até ter vencido a lógica... mas o porco venceu o show. E você virou conteúdo gratuito no algoritmo dele.
Discutir nas redes é como tentar soprar uma vela no meio de um furacão moralista: ninguém ouve o que você diz, mas todos reparam no seu esforço ridículo. O que era para ser uma colocação pontual se transforma numa sequência de réplicas inúteis, interpretadas não com base na razão, mas pela lente do viés de confirmação. E é aí que você entende que não entrou num debate, mas num enredo pré-escrito onde seu papel é apenas servir de escada para o outro parecer esperto.
Robert Greene já alertava, em As 48 Leis do Poder: “metade do poder está no que você evita fazer”. O silêncio, nesse caso, não é ausência — é negação do convite ao espetáculo. É você dizendo, sem dizer, que tem coisa melhor a fazer com sua inteligência do que servir de sparring para alguém em busca de likes e aprovação de claque digital. Porque, no fim das contas, o porco quer isso: plateia. Sem audiência, ele é só um ruído isolado em busca de eco.
Sun Tzu, em A Arte da Guerra, ensinava que “a melhor vitória é aquela conquistada sem batalha”. Não se trata de passividade, mas de cálculo. Se o terreno é escorregadio, se o adversário não tem reputação a perder e se a batalha já está editada para humilhar — qual a lógica em descer? O verdadeiro estrategista não se mede pela quantidade de brigas que venceu, mas pelas que soube evitar com classe.
Nietzsche escreveu: “o valor de algo está no preço que se paga por ele”. E, no caso das redes, o preço mais alto é a sua energia. Aquela que poderia ser usada para construir, criar, desenvolver. E que é desperdiçada tentando corrigir gente que não quer aprender — só provocar. Toda reação automática é uma concessão de poder. E toda concessão inconsciente é um passo rumo ao desgaste. No fim, você não perde só a compostura. Perde tempo, foco, autoridade e paz.
Portanto, ao ser provocado, não pergunte “tenho razão?”. Pergunte: “esse palco é meu?”. O silêncio é a recusa consciente de protagonizar espetáculos alheios. Como dizia Baltasar Gracián, “o silêncio é um dos grandes poderes da sabedoria”. E sabedoria, hoje, é saber quando sua ausência diz mais do que sua presença.
Num mundo barulhento, onde todo mundo tenta vencer pela última palavra, talvez a maior demonstração de superioridade seja não precisar dizê-la.
“Nunca discuta com um tolo. Ele te rebaixa ao nível dele e te vence pela experiência.” – Mark Twain
882# Carro Forte $ — 04/05/25

Se tem alguém que gosta de carro, não sou eu nem você: é o Governo Brasileiro!
Enquanto economistas debatem tributos sobre alimentos e serviços, o sistema de arrecadação mais eficiente do país tem quatro rodas. A indústria automobilística não é só motor da economia — é caixa registradora do poder público, funcionando com precisão que nenhuma reforma tributária enfrentou.
Cada carro é mais que transporte: é uma plataforma fiscal. Um dispositivo que tributa da fábrica à sucata, do tanque ao pedágio, do IPVA à CNH. Não é exagero — é engenharia tributária.
Em 2024, o IPVA arrecadou GR$ 90. Um único tributo estadual que supera orçamentos inteiros de ministérios. E isso é só o começo. Na venda de veículos, ICMS, IPI, PIS e COFINS somaram mais de GR$ 180. Cada concessionária é, na prática, uma arrecadadora. Quase metade do valor de um carro novo vai para o Fisco. É o único bem em que se paga imposto para comprar, possuir, circular, abastecer — e até para ser punido.
O abastecimento? Uma aula de tributação indireta. O ICMS sobre combustíveis rendeu GR$ 130 aos estados em 2024. Na prática, encher o tanque é transferir receita à União e estados sob a ilusão de “mercado”. A gasolina não é cara pelo barril, mas pelo carimbo.
Pedágios? GR$ 15 por ano. Arrecadação paralela via concessão. Ainda que tecnicamente não sejam tributos, o efeito é igual: paga-se para andar em vias públicas, enquanto concessionárias repassam fatias ao Estado. No Brasil, o direito de ir e vir depende de QR code na praça de cobrança.
Multas viraram fonte permanente de caixa. Em 2024, motoristas pagaram GR$ 15. O Funset recebeu só 5% disso — e gastou menos de 20% do que recebeu. A multa deixou de corrigir e virou renda. Radar não salva vidas, salva arrecadação.
Some GR$ 5,0 em impostos sobre pneus. As taxas da CNH, que rendem de GR$ 2,0 a GR$ 3,0 por ano. O ICMS sobre óleo lubrificante. O carro é o maior ativo fiscal do Brasil. Um robô financeiro a combustão.
Total estimado de arrecadação direta e indireta: mais de GR$ 500/ano.
Mais que o dobro do orçamento da Educação. Três vezes o PAC. Cinco vezes os subsídios agrícolas. O automóvel financia tudo: saúde, infraestrutura, previdência. Mas com um custo silencioso: o empobrecimento do usuário. O brasileiro paga um dos maiores preços do mundo por um carro — não pelo carro, mas pelos impostos que ele carrega.
E a pergunta que não cala: onde está o retorno?
As estradas seguem precárias. A mobilidade urbana é caótica. O transporte coletivo, sucateado. O motorista não é apenas tributado. É traído. Paga por um serviço que não recebe — e ainda é penalizado tentando sobreviver a ele.
A indústria automobilística é a máquina de arrecadação mais eficiente do país. Mas o uso excessivo sem manutenção cobra um preço: desgaste social, ineficiência urbana e um modelo tributário regressivo. O carro, no Brasil, virou desigualdade sobre rodas.
“A tributação deve ser como a luz: espalhada, não concentrada.” – Adam Smith
883# Inteligência Bananense x Inteligência Artificial — 06/05/25

Hoje o Governo de Banânia tomou a decisão mais importante do século: proibir a Inteligência Artificial. A notícia foi lida em praça pública, com direito a fanfarra e aplausos coreografados por servidores concursados e sindicalistas.
A justificativa era simples e profundamente estratégica: todas as IAs disponíveis no mundo eram estrangeiras. E, como bem sabemos, tudo que vem de fora é suspeito — ainda mais se for inteligente. O colonialismo digital bateu à porta e o governo, como sempre, protegeu seu povo com a ferramenta mais poderosa de que dispõe: o veto.
“IA não entra. Aqui só entra IB.” Foi o que declarou, com altivez patriótica, o porta-voz do Ministério da Soberania Cognitiva. IB, para os não iniciados, é a Inteligência Bananense — a única tecnologia compatível com o solo, o clima e a moral nacional. Fruto da terra, regada com burocracia, fertilizada com apego à tradição e cultivada com a lentidão própria de um povo que aprendeu a desconfiar de qualquer coisa que funcione rápido demais.
Não é de hoje que Banania desconfia do progresso. Já resistimos bravamente ao trem por medo de que ele espremesse os órgãos internos das mulheres. Olhamos com pavor para qualquer software que funcione sem dar pelo menos um erro 404 por semana. Agora, a IA ameaça tudo isso. Ela resolve problemas. Ela otimiza processos. Ela entrega antes do prazo. Um atentado à nossa cultura organizacional, que preza pelo retrabalho como forma de arte e pelo atraso como símbolo de resistência.
Os entreguistas — essa nova casta de traidores tecnológicos — já começaram a chiar. Falam em produtividade, eficiência, inovação. Termos perigosos, importados, que não respeitam os limites morais dos bananenses. Dizem que a IA pode melhorar o atendimento público, agilizar diagnósticos médicos, evitar desperdícios. Mas será que pensaram no impacto disso sobre a alma nacional? Será que entendem que uma reunião de três horas para aprovar uma compra de toner é parte fundamental da identidade do país, além de gerar milhares de empregos?
Banânia não vai se curvar ao Vale do Silício. Preferimos nosso Vale do Silêncio, onde grandes ideias são enterradas vivas com selo de protocolo e carimbo duplo. A decisão de proibir a IA não é apenas técnica — é moral. É uma recusa ao colonialismo digital que quer se infiltrar em nossas planilhas. Aqui, até para errar, erramos com orgulho. Com IB. Porque se é para ter sistema que trava, que seja feito por nós.
E antes que algum apátrida levante a voz em defesa da “eficiência”, deixamos claro: Banânia é livre para ser o que ela quiser..Lenta? Ineficaz? Não importa...Ela gera empregos, é patriota o suficiente para não aceitar que robôs estrangeiros nos digam como trabalhar. Porque no fim das contas, preferimos um erro humano do que um acerto automatizado.
Abaixo o entreguismo digital.
“A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista.” – Bertrand Russell
884# Executivo Gafanhoto — 13/05/25

Luxemburgo fazia isso no futebol: chegava com discurso de glória, trazia um séquito caro, entregava pouco e deixava dívidas. Empresas hoje repetem o enredo. E o mercado aplaude. Sim, estamos falando do “Executivo-Gafanhoto” — aquele que não transforma, consome. Que não constrói, extrai. Que não lidera, performa.
O ciclo é sempre o mesmo. Uma empresa fragilizada, buscando salvação, contrata um “guru da disrupção”. Ele aparece com sotaque internacional, formação em escola de negócios de três letras e uma pasta cheia de promessas. Vem cercado por consultores, ex-colegas e contratos generosos. Em semanas, demite os profissionais com memória — afinal, memória compromete a farsa. Substitui por uma geração de “gafanhotinhos”: jovens moldáveis, rápidos no PowerPoint, leais ao discurso e inofensivos à estrutura.
Forma-se então o palco da ilusão: reestruturações estéticas, KPIs fictícios, logos redesenhadas, organogramas de fantasia. Tudo com carimbo de consultorias “respeitadas”, que vendem Power BI como se fosse estratégia. E quando o bônus é garantido, a debandada começa. O ciclo se completa: cultura dizimada, legado apagado, moral em ruínas.
E o mais surreal? Esses mesmos nomes são depois promovidos. São cases em palestras, convidados de podcasts, indicados a conselhos. A herança que deixam — contratos inflacionados, equipes desmotivadas, passivos escondidos — raramente é auditada. Porque ninguém analisa o impacto real. Só o storytelling.
Estamos diante de uma epidemia de parasitismo executivo. Um modelo onde o “transformador” se torna celebridade antes mesmo de entregar resultado. Onde se premia PowerPoint e se descarta profundidade. Onde a gestão é medida por narrativas, e não por legado.
Isso não é inovação. É engenharia da devastação.
O mais perverso: esse comportamento tem incentivo. Enquanto o bônus for atrelado a metas de curto prazo, e não à solidez do que se deixa para trás, continuaremos contratando gafanhotos — e esperando que plantem.
Mas gafanhoto não planta. Devora.
Não adianta espernear quando a cultura se dissolve, os talentos vão embora e o cliente vira estatística. O estrago é sempre maior do que o previsto — mas o responsável já trocou de CNPJ, já deu entrevista no Valor, já virou referência em “transformação”.
Precisamos falar disso com todas as letras.
Empresas não são trampolins para carreiras narcisistas. São projetos coletivos, que exigem consistência, memória, e sim, desconforto com o modismo.
Executivo bom não precisa redesenhar a empresa toda pra mostrar trabalho. Ele precisa entregar resultado de verdade. E deixar um lugar melhor do que encontrou — não mais caro, mais vazio e com mais gente perdida tentando entender o que realmente aconteceu.
“Cultura devora estratégia no café da manhã.” — Peter Drucker
885# Quando uma nota 3.0 é melhor que 9.5 — 01/06/25

Em 1999, comecei Engenharia. Recém-casado, esposa grávida, pouco dinheiro e muitos sonhos. Após um ano de estudos intensos para a Unicamp, fui bem em tudo — menos em inglês. Zerei essa parte do vestibular e fiquei de fora. Mas como me preparei com dedicação, passei em outras universidades. Uma regra inesperada me favoreceu: na Universidade São Francisco, em Itatiba, o primeiro colocado ganhava bolsa integral. E eu fui esse cara.
A sensação foi indescritível. Eu não teria como pagar a mensalidade, mesmo trabalhando em três turnos como analista de laboratório. Aquela bolsa caiu do céu — ou melhor, do esforço. Entrei com orgulho e vontade de aprender.
Sempre fui bom aluno. No colégio, fechava as notas em novembro e já emendava férias. Na faculdade de Química, no quarto semestre, já trabalhava como analista. Aprender sempre foi fácil, quase intuitivo. Estudar muito? Só quando dava vontade. Estava acostumado a conquistar com pouco esforço.
Mas essa mentalidade me derrubou.
Na primeira aula de Cálculo 1, o professor avisou: “80% de vocês vão me encontrar no curso de verão. Só 20% passam direto.” Ri por dentro. Sempre fui bom em exatas. Subestimei o aviso. Fui para a prova confiante.
Tirei 3,0. A pior nota da minha vida estudantil!
Daquelas que você tem vergonha de contar. Pior: era uma das maiores da turma. Um massacre sangrento e coletivo. Todos rindo de nervoso e o professor dizendo: “essas foram as melhores.” Ali caiu a ficha. Aquela nota humilhante me ensinou de verdade, mas o pior que não tinha nem a quem pedir socorro!!
Despertei. Estudei como nunca. Resolvi dezenas de listas. Dormia pouco, com minha filha de poucos meses destruindo minhas calculadoras 🤣🤣, e apesar do estrago, guardo essa cena com muito carinho em minha memória!
Esse esforço virou prioridade. E deu resultado: na segunda prova, tirei 9,5. A maior entre quase 100 alunos de Engenharia. Uma nota inesquecível — mas sem arrogância pois eu agora sabia de onde ela vinha.
Mais tarde, tranquei o curso. Não por desistência, mas por perceber que Engenharia Industrial Mecânica não era meu caminho. Fui para Engenharia de Alimentos, em Pinhal — e de novo entrei com bolsa por ser o primeiro colocado, com 1 ano de 50% de desconto. Mas entrei diferente: mais maduro, consciente, grato e, acima de tudo, humilde.
Não foi a 9,5 que me transformou. Foi o 3,0. Ela expôs minha soberba, mostrou meus limites. O talento que me trouxe até ali já não bastava. Essa história nunca saiu da minha cabeça. O 3,0 virou minha régua. Sempre que acho que sei o suficiente, lembro daquele tombo. Porque não há nada mais perigoso do que subestimar um desafio confiando em vitórias passadas. A vida cobra — e não parcela.
“Quem vence sem esforço, triunfa sem glória.” – Pierre Corneille
886# A Fábrica não está no Power Point — 02/06/25

Há um padrão que se repete em ciclos cada vez mais curtos na indústria brasileira — e, por que não dizer, no mundo corporativo como um todo: a crença patológica em soluções fáceis para problemas difíceis. Trata-se de uma doença organizacional sutil, sorridente, muito bem-vestida, que se apresenta nas salas de reunião com PowerPoints impecáveis, relatórios bem formatados e indicadores verdes. Mas o que ela esconde, sob sua aura de sucesso, é justamente aquilo que mais custa caro a uma empresa: a verdade.
Porque a verdade, ao contrário dos indicadores “mágicos”, exige enfrentamento, tempo, investimento, conflito, humildade, derrotas, vitórias e paciência. A verdade é como a manutenção de um equipamento crítico: se for feita às pressas, com promessas de milagre e cortes de caminho, o resultado final será o agravamento silencioso do problema.
Manutenções fora da realidade
Aqui está o primeiro exemplo. Se um fabricante sério informa que a troca do rotor de uma centrífuga leva 8 horas, qualquer proposta de execução em 4 deveria acender todos os alarmes de risco possíveis. A analogia é simples, e brutalmente eficaz: ninguém nasce em 4 meses. Nem com reza. Nem com dinheiro. Nem com pressão da diretoria. Um bebê leva em média 9 meses para se formar — e uma manutenção crítica também tem seu tempo técnico. Reduzir isso sem repensar o projeto é condenar o sistema à reincidência da falha, ao acidente e, mais grave, ao colapso da credibilidade operacional.
A maquiagem dos perigos
Mas a síndrome do “dá pra reduzir” não para aí. Ela contamina também a área de segurança alimentar. Certa vez, quiseram vender uma técnica milagrosa para “eliminar micotoxinas” em grãos de milho contaminados com o uso de um produto que continha em sua milagrosa formulação um peróxido. A redução era brusca no teor de micotoxinas — prometeram. O problema é que o que se reduzia não era a toxina. Era a capacidade de detecção do reagente. A toxina seguia viva, ativa, e pronta para adoecer quem consumisse aquele milho. O que se vendia, na prática, era uma maquiagem laboratorial. Um milagre químico que só funcionava nos laudos, e nesse caso específico, a "sorte" que eu conhecia o processo de análise e o quão difícil é eliminar isso em um grão já contaminado.
A fé na "química do milagre"
E se o laudo sorri, a diretoria bate palma. Porque muitos, infelizmente, não conhecem a fundo os fundamentos bioquímicos do processo, e a farsa passa. E se instala. Essa crença no “atalho funcional” é sedutora porque ela gera números rápidos. E, em uma cultura onde o PowerPoint vale mais que a planta, onde o número da semana vale mais que o histórico da empresa, onde o gráfico manda mais que o operador, o atalho vira política. E quem se opõe, vira problema.
O risco do impossível
O mesmo vale para reações químicas e enzimáticas. A maioria delas está bem definida desde o século XIX. Suas velocidades, temperaturas, catalisadores, interações e todas suas cinéticas são resultado de décadas de estudo e validação. E mesmo assim, volta e meia aparece alguém vendendo a “otimização mágica”, prometendo reduções de 20-30% no tempo de reação — sem mudar processo, sem mudar equipamento, sem mudar nada. Aí vem o resultado: produto fora da especificação, geração de resíduos acima do padrão, aumento de retrabalho, redução de vida útil, queda de performance e, claro, cliente reclamando. Mas o tempo de reação caiu. A meta foi batida. E o PowerPoint foi apresentado com louvor.
O teatro da segurança
A lógica do milagre se espalha por todas as áreas, inclusive onde ela deveria ser mais combatida: segurança e qualidade. “Zero acidente” virou KPI de destaque em qualquer planta. E é um objetivo legítimo — desde que CONSTRUÍDO. Mas quando esse número surge repentinamente, sem plano, sem cultura, sem investimento, sem ação estruturante, sem mudança cultural, o que temos é, no mínimo, um indicador suspeito. Já vi com meus próprios olhos fábricas em que funcionários trabalhavam com braço ou perna quebrada, escondendo a condição para “não estragar o número”. Pessoas que saíam em silêncio da empresa sem dizer ao gestor que tinha se acidentado. Isso não é segurança. Isso é insanidade gerencial. É culto ao número.
A fábrica que zera milagrosamente
O mesmo vale para “zero não conforme”. Um processo que sempre gerou NC em uma taxa de 2% a 3% não zera da noite para o dia, a menos que haja mudança radical em matéria-prima, especificação, método ou controle. Quando esse número zera “de forma espontânea”, sem que nada no processo tenha mudado, o que houve não foi uma melhoria. Foi um enterro. Enterro da verdade, da rastreabilidade, da credibilidade. O que vemos nesse cenário são amostras batizadas, cálculos alterados, um fator de correção tirado de "não sei de onde", desvios escondidos no armazém ou simplesmente não registrados. Essa é a fraude elegante.
O vendedor que silencia a verdade
E se o cliente reclama? Ora, é só não registrar a RNC. Esse é outro truque clássico do “gestor dos números”. O vendedor, ao invés de formalizar a não conformidade, resolve informalmente com o cliente, troca o lote, promete melhorias futuras... e o desvio não entra no sistema. Com isso, a estatística interna mostra que as reclamações estão caindo, ou até zeradas, mesmo que haja devoluções — e o problema está se agravando. O ovo do dragão está sendo incubado. E quando chocar, virá mais agressivo, mais letal, e mais caro. Mas o gráfico da semana passada estará verdinho e bonitinho como o Chefe gosta.
A engenharia do milagre estatístico
OEE acima de 90%, yield com performance teórica perfeita, consumo específico de matéria-prima igual à estequiometria... esses são os milagres preferidos da gestão superficial. São indicadores bonitos, fáceis de apresentar, difíceis de auditar. Mas há sempre um “detalhe” escondido. O gestor “esperto” reduz a capacidade nominal da planta e mantém o ritmo de produção — OEE mágico. O yield é ajustado para cima porque a massa de entrada é subdimensionada. O consumo específico beira o impossível porque a planilha é otimista — e o Excel aceita qualquer delírio.
Quando a cultura mata o processo
O mais grave é que isso não acontece apenas por má fé. Muitas vezes, é a própria cultura organizacional que promove esse comportamento. Porque ela premia o número, não o processo. Ela celebra a meta, não o método. Ela recompensa quem entrega, mesmo que maquiado — e pune quem denuncia a maquiagem. O líder que questiona, que pede auditoria, que exige comprovação, acaba taxado de “desalinhado”. Enquanto isso, o gestor da farsa recebe promoção. E mais orçamento.
Os custos invisíveis do milagre
Essas práticas não são exceção. Em muitos setores, são regra silenciosa. E o preço não aparece no mês. Ele vem em forma de recall, de auditoria com não conformidade grave, de cliente perdido, de operador acidentado, de equipamento quebrado em condição crítica. Ele vem na forma de margem corroída, de reputação comprometida, de acionista desconfiado. E quando chega, cobra caro.
Gestão ou encenação?
E aqui está a verdade incômoda: se você precisa de números bonitos para justificar sua existência como gestor, você não é gestor. É contador de histórias. É cenógrafo. Um artista de planilha. Um fazedor de gráficos. E a empresa que tolera isso está abrindo mão do seu maior ativo: a confiabilidade.
A escolha que define o legado
Soluções reais exigem enfrentamento real. Enfrentar problemas técnicos com disciplina, com análise de causa raiz, com controle de variáveis, com dados auditáveis. Enfrentar problemas de processo com plano de ação, melhoria contínua, reengenharia de etapas, automação consciente. Enfrentar problemas humanos com treinamento, cultura de verdade, comunicação transparente, incentivo ao erro relatado — e não ao erro escondido.
Não existe resultado sustentável sem processo confiável. E não existe liderança legítima onde o número vale mais do que o fato.
Conclusão final: Você já viu algum desses exemplos acontecer. Em alguma planta. Em algum relatório. Em algum dashboard. Talvez esteja vendo agora. A escolha é sua: aceitar o número ou entender o processo. Celebrar o milagre ou enfrentar o problema. Fingir gestão ou construir resultado.
Porque no fim do dia, o PowerPoint fecha a reunião — mas é o caixa que fecha a empresa.
Cinco Frases Para Refletir
“A verdade não é democrática. Ela continua sendo verdade mesmo quando ninguém a defende.” — Nassim Taleb
“As métricas são boas servas, mas péssimas senhoras.” — Jim Collins
“Você não gerencia o que não entende. E não entende o que tem medo de confrontar.” — Ricardo Semler
“Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando.” — Henry Ford
“Quando os números são tudo que importa, a mentira vira método.” — Osvandré Lech
887# Cultura Implosiva — 11/06/25

Assisti o excelente e triste documentário "Titan: The OceanGate Disaster" da Netlix, sobre uma tragédia narrada como um drama técnico. Mas o que realmente emerge ali é um fracasso institucional, silencioso e progressivo. Um colapso de governança, mascarado de ousadia. E como toda implosão, começa por dentro. Stockton Rush, CEO e arquiteto da OceanGate, virou símbolo de um tipo de liderança que aplaude a inovação — mas censura o cuidado.
A empresa promoveu uma cultura em que a dúvida era indesejada e a crítica, punida. Engenheiros alertaram. Especialistas recomendaram testes mais rigorosos. Mas a resposta não foi revisão — foi silêncio. Em vez de corrigir falhas, aceleraram prazos. Em vez de fortalecer a engenharia, reforçaram o marketing. Não por falta de dados, mas por excesso de ego.
Não é a primeira vez que o carisma de um fundador encobre a fragilidade do projeto. Mas no caso da OceanGate, o resultado foi definitivo. Ali, liderança virou obstáculo. A governança se dissolveu diante do culto à personalidade. A inovação perdeu o senso de limite e virou imprudência com verniz técnico.
Em contextos como esse, o problema nunca é só técnico. Es cultural. Não é sobre o casco de carbono — é sobre o ambiente que permitiu que esse casco fosse aprovado, mesmo diante de sinais evidentes de falha. E mais do que isso: é sobre a estrutura que tratou os alertas como ameaças, e não como salvaguardas.
Repare como esse padrão se repete. Startups que ignoram compliance em nome da “agilidade”. Equipes que suprimem dissidência para manter a “visão original”. Conselhos que têm medo de contrariar um CEO carismático. O resultado, em todos os casos, é o mesmo: empresas que parecem inovadoras até o momento em que desmoronam sob o peso das decisões que poderiam ter sido evitadas.
É por isso que episódios como o da OceanGate deveriam ser debatidos em conselhos, em MBAs e, principalmente, em salas de reunião. Não como sensacionalismo — mas como alerta sobre o que acontece quando uma empresa começa a confundir liderança com infalibilidade. Toda organização tem seus riscos. A diferença está em como ela reage ao primeiro “estalo” que surge no casco — ignora, ou investiga?
Empresas não implodem por falhas externas. Implodem porque normalizaram comportamentos que corroem sua estrutura interna. Toda cultura que premia o discurso e desdenha do dado técnico, mais cedo ou mais tarde, vai colapsar. E aí, não adianta retrospectiva nem parecer jurídico.
Porque o que realmente afunda uma empresa não é o acidente. É o ambiente que o tornou inevitável.
"Se insistimos em focalizar o que não queremos, teremos mais disso." – Anthony Robbins
888# Autonomia pode matar — 11/07/25

Interlocks não são apenas sensores. São avisos técnicos de que o risco chegou — e que não se negocia com a física.
Antes de soar técnico, uma explicação simples: interlock é um sistema automático que impede ações quando condições de segurança não são atendidas. É aquele mecanismo que trava o micro-ondas se a porta estiver aberta. Que impede o carro automático de dar partida fora do “P”. Que corta o gás se a chama apagar. Que não deixa o portão fechar quando há algo no caminho. É a engenharia dizendo: “antes seguro do que tarde demais”.
Mas no chão de fábrica, onde o suor dialoga com a produtividade, a lógica muitas vezes se inverte. “Tiram nossa autonomia”, dizem. E tiram mesmo. Mas talvez devêssemos nos perguntar: autonomia para quê?
Em 2013, na Espanha, um trem Alvia descarrilou ao entrar em uma curva a mais do que o dobro da velocidade permitida. O resultado: 80 mortos. O motivo? Um telefonema. O maquinista se distraiu e freou tarde demais. Só 4 segundos antes do impacto. O vídeo está disponível, para quem tiver estômago: https://lnkd.in/eu_HxvPQ
O sistema que deveria impedir o erro havia sido desligado. O ERTMS — capaz de impor limites — não operava naquele trecho. Restava o ASFA Digital, que apenas alertava, mas não travava. Resultado? Um erro humano virou catástrofe.
Não é uma história sobre trens. É sobre cultura de engenharia.
Na indústria, ainda impera a ideia de que bons operadores substituem bons sistemas. É uma crença perigosa. Porque o erro não vem apenas do despreparo. Ele também vem do cansaço. Da distração. Da rotina que anestesia. Da vaidade operacional que prefere controle total a proteção coletiva. E o interlock está ali para conter isso tudo — mesmo quando é impopular.
Ninguém reclama do sensor do elevador quando está no décimo andar. Porque ali, o risco é evidente. Mas no chão de fábrica, o perigo se esconde atrás da rotina, da confiança, do “eu sei o que estou fazendo”. Até o dia em que falha. E quando falha, não há botão de retorno.
O problema nunca é o erro. É o sistema que permite o erro.
É por isso que interlocks existem. Para interromper a ação antes que ela interrompa uma vida. Para lembrar que, na engenharia, intenção não basta — é prevenção que salva.
Toda vez que um sistema permite override de um limite crítico, ele está dizendo: “confio mais em você do que nas leis da física”. Isso não é respeito. É imprudência institucionalizada.
A automação não elimina o humano. Ela protege o humano de si mesmo. O sistema bem projetado reconhece a falha antes que ela se torne tragédia. É código que não aceita desculpas. Algoritmo que diz “não”. Sensor que freia antes do abismo.
Mas por que ainda resistimos a esses freios? Porque confundimos autonomia com liberdade irrestrita. E esquecemos que, na indústria, liberdade sem limite vira sinistro.
O acidente em Santiago de Compostela não foi causado por imperícia. Foi causado por excesso de confiança em bons operadores — e ausência de um sistema que dissesse “não importa quem esteja no comando, esta curva é feita a 80 km/h”.
Autonomia é valiosa — até virar armadilha.
No chão de fábrica, a cultura da segurança precisa ser mais forte que a cultura da confiança. O operador pode ser o melhor. O mais experiente. O mais responsável. Mas basta um dia ruim. Um segundo de distração. Um fator externo que desvie sua atenção. E se o sistema permitir, o erro se instala — com todos os seus efeitos.
O custo de um interlock impopular é pequeno. O custo de não tê-lo é incalculável. Em vidas. Em reputação. Em perdas que nenhuma indenização cobre.
A pergunta que precisa ser feita não é “qual o custo de colocar um interlock?”. Mas sim: “qual o custo de não tê-lo quando ele for necessário?”
Sistemas críticos devem prever falhas. Porque elas virão. A única dúvida é quando, onde e com que impacto.
Autonomia termina onde começa o risco coletivo.
Essa frase deveria estar afixada em toda sala de controle, em toda sala de projeto, em todo comitê de segurança. Porque não é apenas sobre responsabilidade. É sobre engenharia ética. Sobre lideranças que têm coragem de dizer “não”. Sobre gestores que entendem que proteção é mais nobre que popularidade.
Enquanto muitos defendem a liberdade operacional, esquecem que o maior ato de liberdade é voltar pra casa no fim do turno.
O sistema que se orgulha de ser “flexível” demais um dia se tornará manchete. E a manchete nunca vem com parabéns.
No final, o que separa o risco da tragédia é um detalhe técnico. Um sensor. Um código. Um travamento. Um interlock. Algo pequeno — mas decisivo.
A questão que fica é: sua planta já entendeu isso ou só vai descobrir tarde demais?
Cinco frases inspiradoras:
1. “É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado.” – Anthony Robbins
2. “A segurança não é um produto; é um processo contínuo.” – Bruce Schneier
3. “A falha de um único elo pode comprometer toda a corrente.” – Leonardo da Vinci
4. “O erro mais perigoso é aquele que o sistema permite repetir.” – James Reason
5. “O preço da liberdade é a eterna vigilância.” – Thomas Jefferson
889# Que se Fonda — 10/12/23

Jane Fonda foi o destaque no Festival de Cannes com suas declarações sobre como resolver as mudanças climáticas (link).
Não vou perder tempo analisando o que ela disse. Apenas vou me ater ao suposto estilo de vida da octogenária J. Fonda e comparar com o resto do planeta para ver o quanto ela vem colaborando para "c*gar regras" daquilo que devemos fazer.
Tem um site muito interessante que mede a tal "Pegada de Carbono": https://lnkd.in/e34J39wX. Para isso, há algumas informações necessárias que se deve disponibilizar para que seja estimado:
1 - Com que frequência come produtos de origem animal?
2 - Dos alimentos que consome, qual a % do que é não processada, não embalada ou cultivada localmente?
3 - Que tipo de habitação você tem?
4 - Qual material de construção?
5 - Quantas pessoas residem nessa casa?
6 - Qual o tamanho da casa em m²?
7 - Tem Energia Elétrica em sua casa?
8 - Sua casa é energeticamente eficiente?
9 - Qual % de energia renovável sua casa utiliza?
10 - Quanto de resíduo gera em comparação com o resto do mundo?
11 - Quantos km percorre de automóvel por semana?
12 - Qual a média de litros por 100 km dos veículos que usa?
13 - Compartilha viagem com qual frequência?
14 - Qual a distância que percorre em transporte público?
15 - Quantas horas viaja de avião por ano?
Fiz uma simulação para o Zé ("eco" pobre) e para Jane Fonda ("ecochata") :
Zé:
CO2 = 1,1 t/ano (25% da média mundial)
Jane Fonda:
CO2 = 36,7 t/ano (9 x a média mundial)
J. Fonda é vegana convicta e o Zé só consegue comer abóbora (picanha é metafórica para o Zé). Ao contrário do Zé, que vive em um barraco de barro (bioconstrução segundo Guilherme Boulos), J. Fonda vive em uma mansão de 20 MUSD. Fonda usufrui de energia elétrica renovável e muito eficiente, já o Zé, como um ser fotossintético, só tem o sol que usa para iluminar seu barraco, e para sua deliciosa abóbora ele não usa gás, mas um bocado de lenha como "Nhá Maria". J. Fonda, como todo norte americano, gera resíduos mais do que qualquer cidadão do resto do mundo, e Zé apenas os coleta para fazer um dinheirinho. J. Fonda usa pouco seu Tesla, e Zé só anda a pé. J. Fonda nunca usou transporte público. Zé não usa porque para ele é muito caro e ineficiente. Viagem de avião? Fonda já perdeu as contas de quantas horas já viajou esse ano, já o Zé nunca viu um avião de perto.
Segundo Jane Fonda, temos 8 anos p/ reduzir em 50% o uso de combustível fóssil no planeta se ainda quisermos salvá-lo. Ela, logicamente, tirou esse número do "fiofó", o mesmo "fiofó" de onde saiu a ideia de prender homens brancos para reduzir as mudanças climáticas.
E o Zé que você acha que é hipotético, existem aos milhares e estão se lascando em vários lugares do mundo, desejando pelo menos dobrar sua pegada de carbono para ter uma vida minimamente decente com sua família, mas Jane Fonda não vai permitir isso porque ele é homem, branco e tem que ser preso se quisermos salvar o planeta!
890# Como destruir a Noruega — 30/06/25

Não estou falando da Rússia invadindo a Noruega, que é um temor para os nórdicos. Estou falando de algo mais "eficiente": o modelo Brasil de gestão estatal. A Noruega seria um bom teste. Um país que, por décadas, construiu estabilidade sobre um tripé de gestão, eficiência e pacto social adotando "nosso modelo democrático e inclusivo”.
1) Expanda o funcionalismo. Crie cargos. Estabilize a ineficiência. Faça com que a máquina sirva mais a si mesma do que à sociedade. No Brasil, essa estrutura consome 13% do PIB. Na Noruega, isso soaria como piada com seus 7% atuais — mas uma piada que custa caro e é muito sem graça.
2) Aumente a dependência estatal. Substitua protagonismo por assistencialismo. No Brasil, 76% da população depende diretamente do governo. Na Noruega, esse número ainda é 56%. Mas e se aumentasse? Se 4,2 milhões dos 5,5 milhões de noruegueses passassem a viver de transferências? A conta quebraria. O país também.
3) Sufoque quem produz. No Brasil, menos de 24% da população gera riqueza líquida real. Ou seja: trabalha, paga impostos e sustenta a estrutura. O restante depende — ou parasita. A Noruega, com um PIB de US$ 511 bilhões e uma população de 5,5 milhões, só funciona porque a equação entre contribuição e benefício ainda é lógica. Se aplicar o modelo brasileiro, cada empresa teria que gerar, em média, US$ 320 mil anuais só para fechar o buraco fiscal. Isso não é desenvolvimento — é um convite ao colapso.
4) Esvazie o fundo soberano. Transforme poupança em subsídio. Hoje, a Noruega tem o maior fundo soberano "per capita" do mundo — mais de US$ 1,7 trilhão (320 kUSD/pessoa). Serve como colchão contra choques e motor para investimentos estratégicos. No Brasil, o fundo é o do poço. A realidade é dívida: 76% do PIB comprometido, sem perspectiva de redução. Se a Noruega seguir esse roteiro, em menos de 20 anos o fundo desaparece. E leva junto a confiança institucional.
5) Romantize o caos. Viste o fracasso com palavras bonitas. Chame intervencionismo de “proteção”. Chame ineficiência de “modelo social”. Venda a falência como justiça. É isso que muitos ainda tentam importar para países sérios: um receituário falido embalado como solução mágica.
O modelo nórdico só funciona porque há ordem, contribuição mútua e gestão racional. Transplantar a fórmula brasileira é como plantar ervas daninhas em um campo fértil: no começo parece apenas um detalhe irrelevante, mas logo as raízes sufocam tudo o que sustenta a colheita.
“A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou.” — Adam Smith
891# Como se tornar um Tirano - Netflix — 04/04/24

"Como se Tornar um Tirano", um documentário disponível na Netflix, mergulha profundamente na trajetória de detestáveis, mas notáveis, líderes autoritários do Século XX revelando que, apesar das diferenças contextuais, todos compartilham uma combinação de ambição desmedida, habilidade de manipulação, uso estratégico do medo e repressão para consolidar e manter o poder. Outro ponto em comum, é que esse tipo de figura sempre emerge em tempos de crises insolúveis, o que acaba catalisando sua escalada ao poder.
Nesse documentário, são examinadas figuras famosas, como: Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Joseph Stalin, Muammar Gaddafi, Kim Jong-il e Benito Mussolini — não apenas por suas histórias únicas mas também por suas tendências autoritárias comuns. Eles se destacam por sua capacidade de transformar o ESTADO (sempre ele) em um instrumento de poder pessoal, empregando um culto à personalidade e controle totalitário para suprimir qualquer oposição.
Ao interligar as narrativas históricas com análises teóricas, como a teoria dos jogos, "Como se Tornar um Tirano" destaca os padrões comportamentais e estratégias que definem a tirania. Estes líderes compartilham uma prática de centralização do poder, eliminação de rivais e manipulação da opinião pública para legitimar e prolongar seus governos.
A série não só educa mas também oferece uma compreensão das motivações e dinâmicas que levam ao poder autoritário, tornando-se uma exploração envolvente das complexidades que cercam a ascensão e manutenção do poder tirânico.
O que me assusta, é que olhando alguns líderes da atualidade há semelhanças assustadoras, seja pelo caráter ou pela conjuntura em que estão inseridos. Apenas o tempo irá provar algo, mas olhem com atenção para Bukele, Milei, Maduro, Bolsonaro, Lula, Trump, Macron, Zelensky, Netanyahu, Putin, Trudeau e façam um paralelo... e também irão assustar!
892# Tira esse "Bicho" daí pelo Amor de Deus!! — 23/05/24

O automóvel, sonho de muitos adolescentes e jovens adultos, vem transformando o mundo desde o século XIX. Com uma frota estimada em 1,6 bilhões de veículos, os carros são a segunda maior causa de mortes no mundo, atrás apenas dos diversos tipos de câncer. Com 1,2 milhões de mortes/ano, essa tragédia não dá sinais de redução, mesmo com o avanço da tecnologia, melhores estradas, carros quase autônomos, airbags, ABS, câmeras e sanções mais rigorosas aos motoristas. Mas por que isso ainda acontece com tanta frequência?
A resposta é complexa, mas há algumas causas potenciais. Na minha opinião, um primata recém-saído das savanas, que inventou uma caixa de aço com rodas e um potente propulsor capaz de acelerar a 200 km/h — algo que pesa mais de 1.000 kg — não evoluiu na mesma velocidade para comandar isso tudo.
Acredito em dois caminhos para reduzir essas ocorrências. O primeiro é que somente a EDUCAÇÃO pode reduzir esses acidentes. Graças a Deus, nunca sofri ou provoquei um acidente de trânsito em 25 anos de habilitação. Já passei por alguns sustos, mas o final sempre foi feliz. E todas as vezes em que tomei ou provoquei esses sustos, foi por imprudência, inabilidade, desatenção, negligência, ou sendo mais "RXO" na resposta, por BURRICE mesmo. Por isso, digo que a educação é uma das formas de reduzir essas ocorrências.
Sempre que abordo esse tema, falo como me conscientizei disso usando lógica matemática e "filosofia de bar". Uso um exemplo muito simples, mas bastante direto:
Todos os sábados, entre 2018 e 2020, eu fazia um curso de pós-graduação na Unicamp. Morando em Mogi Guaçu, eu levava 50 minutos para percorrer os 60 km entre minha casa e a universidade, ou seja, a velocidade média nesse trajeto era de 70 km/h, sendo 100 km/h na rodovia (limite de 110 km/h) e 10 km/h dentro de Mogi Guaçu e Barão Geraldo. Mas e se eu acelerasse meu carro na rodovia para 150 km/h? Minha média subiria para 103 km/h e eu chegaria à universidade 17 minutos mais cedo.
Mas aí vem a pergunta: o que eu vou fazer com esses 17 minutos chegando mais cedo? A resposta é simples: PORRA NENHUMA! Arrisquei minha vida, a vida de um monte de gente no trajeto, "fodi" com meu carro e gastei mais combustível por míseros 17 minutos... Esse primata é ou não é um ser estúpido? Sim, é estúpido, e por isso afirmo que a educação reduz essa ocorrência, pois é só pensar por 10 segundos que você não faz besteira.
Quanto ao segundo caminho, esse sim resolve definitivamente a questão das mortes no trânsito: PROIBIR esse primata de comandar essa máquina de mais de 1 t, pois só assim não teremos mais acidentes com mortes causadas por esse "bicho".
E acredito piamente que, no dia em que as IAs tomarem o comando dos veículos, teremos paz... e o que nos restará, caso nossa geração ainda participe disso, será contar para nossos netos que fomos malucos o bastante para dirigir essa máquina, que um dia já matou muita gente nesse planeta.
893# Perguntar ñ ofende — 03/03/25

Vivemos em um mundo acelerado, onde a rotina nos consome sem que percebamos. Acordamos, trabalhamos, corremos atrás de conquistas, pagamos contas e, quando nos damos conta, os anos passaram num piscar de olhos. No meio de tudo isso, raramente paramos para refletir: por que fazemos o que fazemos?
No livro Comece pelo Porquê, Simon Sinek explica que as pessoas e organizações mais inspiradoras não começam definindo o que fazem ou como fazem, mas sim por que fazem. Ele defende que o verdadeiro impacto vem da clareza de propósito, algo que nos move de dentro para fora. E essa lógica não se aplica apenas aos negócios, mas à vida como um todo.
Muitas pessoas seguem um caminho pré-definido, quase no piloto automático: estudam, buscam uma carreira, conquistam estabilidade e entram num ciclo aparentemente natural. Mas será que essa jornada faz sentido para cada um de nós? Quando ignoramos nosso propósito, a vida pode se tornar apenas uma sucessão de eventos desconectados, sem um significado real.
Sinek também apresenta um conceito chamado Círculo Dourado, baseado em três níveis:
- Porquê – a razão pela qual existimos e fazemos o que fazemos;
- Como – os meios que utilizamos para alcançar nosso propósito;
- O quê – as atividades que realizamos no dia a dia.
O problema é que a maioria das pessoas começa pelo o quê, escolhendo uma profissão, definindo metas financeiras, decidindo onde quer morar – mas sem antes refletir sobre o motivo real por trás dessas escolhas.
A ciência também reforça a importância do propósito. Nosso cérebro não toma decisões apenas com base na lógica – somos guiados, em grande parte, pelo sistema límbico, responsável pelas emoções e pelo sentimento de pertencimento. Quando encontramos um motivo profundo para agir, tudo passa a fazer mais sentido e nossas ações fluem de forma natural.
Agora, pense nas pessoas mais felizes que você conhece. Elas não são necessariamente as mais ricas ou as mais reconhecidas socialmente. O que as diferencia é que vivem com significado. Elas não precisam de grandes fortunas para sentir que suas vidas valem a pena, porque sabem exatamente por que fazem o que fazem. Essa é a grande diferença entre quem apenas existe e quem realmente vive.
Muita gente se deixa levar por motivações externas – dinheiro, status, validação dos outros. Mas essas coisas trazem apenas uma satisfação passageira. Uma empresa que aposta apenas em promoções para atrair clientes pode até vender bem no curto prazo, mas não constrói lealdade genuína. Da mesma forma, uma vida baseada só em recompensas externas acaba se tornando vazia e insatisfatória.
Para descobrir o seu porquê, é preciso embarcar em uma jornada de autoconhecimento. Perguntas simples podem trazer respostas poderosas:
- Quais momentos da sua vida te fizeram sentir mais vivo?
- O que você faria todos os dias, mesmo sem ser pago para isso?
- Como você quer ser lembrado?
Quando encontramos nosso propósito, vivemos de forma diferente. Nossas decisões se tornam mais autênticas, escolhemos trabalhos que fazem sentido, nos cercamos de pessoas alinhadas com nossos valores e construímos um legado que vai além do material. Ter clareza sobre por que fazemos o que fazemos nos dá direção e consistência.
A vida não precisa ser apenas uma sequência de acontecimentos. Quando partimos do porquê, encontramos sentido em cada dia, em cada escolha e em cada desafio. Afinal, viver de verdade não é apenas seguir o fluxo – é ter um propósito claro e agir de acordo com ele.
Citações Inspiradoras
- “O propósito da vida é encontrar o maior dom que você tem. O significado da vida é compartilhar esse dom com o mundo.” – Pablo Picasso
- “Não viva para impressionar, viva para inspirar.” – Anônimo
- “A verdadeira felicidade não está em ter tudo, mas em encontrar sentido em tudo o que temos.” – Epicteto
- “Propósito é a diferença entre viver e apenas existir.” – Anônimo
- “As pessoas podem esquecer o que você fez, mas jamais esquecerão como você as fez sentir.” – Maya Angelou
894# Moeda Podre derrubou um Império — 28/10/25

A história é feita de conquistas, e claro, também de perdas. E estas, em geral, surgem após o acúmulo de boletos e a decisão de ignorá-los.
Quem conhece um pouco de história já ouviu sobre a queda do Império Romano. Muitos culpam o gigantismo do império, as invasões bárbaras e até o Cristianismo. Mas o que realmente derrubou Roma foi o colapso econômico — resultado direto da desvalorização de sua tão valiosa e respeitada moeda: Denário de Prata.
A tentação é conhecida, especialmente para nós latinos: se faltar dinheiro, imprime-se mais. Mas, quando o valor depende da confiança, imprimir moeda é queima de reputação. O denário, antes com 95% de prata, virou uma mistura de metais baratos com selo imperial. Parecia dinheiro, mas era só peso. E, como todo engano em larga escala, o impacto foi devastador.
Com exército caro, generais premiados, elite exigente, povo viciado em "Pão e Circo" e milhares de escravos, Roma tornou-se um fardo fiscal. Subir impostos era impopular em uma arrecadação que não cobria os gastos. Os imperadores, então, reduziram a prata das moedas, colocando cobre. De 95% para 90%, funcionou no curto prazo. Mas a tentação cresceu, e tiraram cada vez mais prata, até que...
O Império inundou a economia com moeda sem valor. Sem elevar impostos, taxou por meio da inflação — o velho truque de “roubar sem roubar”: você não tira o dinheiro, apenas reduz seu valor, diluindo com metal ou somando zeros.
O povo demorou a notar, mas o mercado não. Os mais atentos guardavam as moedas antigas valiosas e repassavam as novas "podres". Como sempre, a moeda ruim expulsou a boa. O comércio esfriou, os preços subiram, e a confiança evaporou — assim como a capacidade de Roma de manter sua máquina pública.
Veio o contra-ataque da elite: congelar preços, salários e criminalizar estoques. Decretaram até pena de morte a quem desobedecesse. Mas a economia, como a gravidade, não respeita decretos. O desabastecimento veio, a informalidade explodiu, e o colapso fiscal virou institucional. Roma não foi invadida — foi abandonada. Ninguém luta por um império falido, muito menos quem pode fugir.
Os paralelos com o presente são claros. A tentação de fabricar crescimento imprimindo moeda é enorme. A desculpa vem vestida de “estímulo”, “resgate”, “inclusão”, “auxílio social” e outras promessas populistas, como vimos na pandemia. Mas o roteiro se repete: moeda sem lastro, gasto sem limite...
O colapso romano não foi acidente. Foi um projeto vendido como solução, mas disfarçado de desastre. Os governantes sabiam dos riscos, mas evitaram o custo político de cortar gastos. Preferiram imprimir a diferença. No fim, tudo desmorona: a falência do "Império". Toda falência estatal começa assim — com um governante bem-intencionado tentando tapar buracos com moeda podre.
“Eu quero que vocês saibam que eu já fui, quando eu trabalhava na Villares, eu cheguei a pegar inflação de 80% ao mês. Não era 7% ou 5% ao ano.” — Painho
895# Eram os Deuses Astronautas? — 25/07/25

São Miguel Paulista. Biblioteca da zona leste. Eu com meus doze anos. Nenhuma obrigação escolar. Só uma capa estranha com um título melhor ainda: Eram os Deuses Astronautas?. Peguei. Sentei. Li. Sozinho. E saí de lá com uma dúvida que ninguém na escola respondia: por que a história tem medo de perguntas?
Erich von Däniken não é escritor. É encrenqueiro. Mexeu num vespeiro que até hoje cospe fogo. Disse, com todas as letras, que talvez os grandes feitos da humanidade antiga não sejam... da humanidade. Pelo menos, não só dela.
Sim, ele fala de ETs. Mas não do tipo hollywoodiano. Ele propõe outra coisa: e se os “deuses” descritos por maias, egípcios, hindus e hebreus fossem apenas o que conseguiram entender de viajantes interplanetários?
Mas o mais sagaz não é isso. É a sacada sobre tempo. Porque ali, pela primeira vez, me dei conta de que tempo não é igual pra todo mundo.
O tempo deles não é o nosso. E talvez seja esse o bug. Vamos lá. A física já provou que tempo é relativo. Um corpo em altíssima velocidade “vive” mais devagar. Isso é Einstein, não Däniken. E aí vem a bomba: e se os “deuses” que prometeram voltar não estão atrasados... só estão viajando rápido demais?
Você espera dois mil anos. Eles passaram duas semanas. O tempo deles é outro. O relógio deles não conversa com o nosso. E isso muda tudo.
Porque talvez o tal Quetzalcoatl esteja voltando agora, do ponto de vista dele. Talvez Osíris nem tenha saído direito. Talvez Jesus tenha feito só uma conexão técnica. O que parece "abandono divino" pode ser só... jet lag cósmico.
Pirâmides, vimanas, escudos flamejantes. Todo mundo viu o mesmo — e entendeu como deu. Von Däniken aponta algo que a arqueologia até hoje não engole: por que tribos separadas por oceanos e milênios descrevem os mesmos tipos de entidades, com os mesmos movimentos, os mesmos ruídos, os mesmos efeitos?
Moais olhando pro céu. Pirâmides alinhadas com constelações. Desenhos de “naves” em cavernas. Textos hindus descrevendo combates aéreos em “carros voadores” que soltam fogo. Egípcios com painéis que parecem usinas. Babilônios desenhando “escudos voadores” como se fosse Star Wars versão argila.
E a resposta padrão dos especialistas? Alegoria. Sempre alegoria. Alegoria é a palavra que usam quando não têm coragem de dizer: não sei.
Você prefere qual versão? O mistério explicado por fé cega ou por tecnologia mal compreendida? Talvez a humanidade antiga fosse burra. Mas e se não? E se o erro for nosso, por tentar traduzir passado com gramática de agora? Däniken não diz que está certo. Ele só pergunta o que ninguém mais tem coragem de colocar em voz alta.
E a resposta da ciência? “É absurdo.” Ok. Mas explicar que escravos puxaram 2 toneladas de pedra na areia do deserto usando vara de madeira também não é lá muito razoável.
Religião se ofende. Ciência ignora. Mercado ri. Mas a dúvida ficou. Däniken diz que os “filhos de Deus” descritos em Gênesis 6 — os tais que se deitaram com as “filhas dos homens” — não eram metáfora nenhuma. Era relato. Brutal. Confuso. Mas honesto. Os caras viram algo. E escreveram com as palavras que tinham. “Filhos dos deuses”. “Luz”. “Fumaça”. “Barulho”. “Espada flamejante”.
Hoje, chamariam isso de tecnologia. Na época? Era milagre. Era mito. Era medo com capa de respeito. Esse livro não quer provar nada. Quer que você pare de aceitar tudo. Ler Eram os Deuses Astronautas? é ler o tipo de coisa que não serve pra responder — serve pra inquietar. É um chute na porta do “sempre foi assim”. E quando você tem 12 anos, isso é mais perigoso que qualquer videogame.
Hoje, adulto, com mais filtro e menos paciência pra viagem sem lastro, eu continuo achando que 80% do livro é exagero. Mas os outros 20%... esses ninguém explica direito. E é nesses 20% que mora a faísca.
Afinal, o que é mais arrogante: acreditar em ETs ou achar que somos os únicos seres inteligentes do universo? Recomendo o livro? Recomendo. Mas com aviso: não espere verdade. Espere desconforto. Não espere ciência. Espere dúvida bem plantada. Não é sobre acreditar. É sobre reaprender a olhar.
E se depois de ler tudo você achar tudo isso bobagem... Ótimo. O importante é que agora você duvidou.
Cinco Frases Fora do seu Tempo
- “Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
- “O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento.” — Stephen Hawking
- “A dúvida é o princípio da sabedoria.” — Aristóteles
- “Entre fé cega e ciência muda, fico com a pergunta que grita.” — RXO
- “A mente que se abre jamais volta ao tamanho original.” — Oliver W. Holmes
896# Agora sou eu! — 21/09/25

Em 2009, eu e alguns colegas de trabalho fizemos um churrasco numa chácara em Mogi Guaçu para fechar o ano e fortalecer amizade. Levamos os filhos: boa comida, piscina liberada e, claro, videogame. Levei o PS2 com PES porque quase todo mundo gostava, e logo começamos a peleja. Tinha craque na roda: o melhor, João Luiz, detonava geral. Aí chegou a vez do meu filho, Hugo, 8 anos, encarar o João. Para surpresa de todos, o Hugo ganhou com um golaço — um elástico e um chute forte do CR7 no finalzinho da partida. A varanda veio abaixo: brasileiro torce pelo mais fraco, e o “mais fraco” era meu pequeno. Só que o reinado durou uma partida: o próximo era Luiz Gustavo. Deu a lógica, ele venceu o Hugo de maneira até tranquila e ainda comemorou bastante.
Minha filha Lara, 10 anos, tinha acabado de sair da piscina e se enxugava enquanto assistia à partida do irmão. Antes de alguém pedir a vez, ela soltou: “agora sou eu”. Todo mundo olhou incrédulo para aquela menininha. Com muita calma, ela pegou o controle das mãos do irmão e configurou o Chelsea de Drogba e Petr Čech para enfrentar o poderoso Milan do Luiz Gustavo — time com Maldini, Pato, Dida, Cafu, Ibrahimović e, claro, Ronaldinho Gaúcho. Confiante, o Gustavo sorria, certo de ganhar fácil. Só que levou o primeiro gol nos primeiros segundos. Virou gritaria de mais de 15 marmanjos (eu incluso), parecia final de Copa. Isso abalou o Gustavo e deu confiança à Lara. Catucaram vuvuzela, buzina (até hoje não sei de onde saiu isso), tudo para incomodá-lo, e a torcida cresceu junto com o jogo.
Vendo a tensão, virei “técnico” da Lara e orientei: segurar o resultado. Obediente, ela fechou o time e começou a distribuir botinada pra todo lado — até hoje ele reclama de um pênalti no Ronaldinho. No final, o Gustavo empatou em 1x1, o que foi pior para ele: a agonia prolongou e engajou ainda mais a galera. Fomos para os pênaltis. Abalado psicologicamente, o Gustavo perdeu; a confiança da menina de 10 anos pesou do outro lado. Ela venceu, apertou a mão do derrotado e, com a inocência que desmonta, olhou para o irmão: “vamos para a piscina!”. O “Gustavão” virou piada (carinhosa) por anos, e essa história segue na memória de todos.
O recado é simples e útil para qualquer equipe: não subestime ninguém. O psicológico decide uma fatia enorme do resultado de curto e longo prazo. Gol cedo muda clima. Torcida interfere, mas foco filtra ruído. Plano simples e disciplina seguram vantagem. E respeito ao adversário vale mais do que provocação — porque confiança não é grito, é execução. Em time e gestão, faça o básico com pressa: dê vez para quem pede o controle, busque seu “1x0 emocional” com uma entrega pequena e certa no começo, proteja o foco quando a ansiedade tenta abrir tudo e lembre que favoritismo não ganha jogo sozinho. Qual foi o seu “agora sou eu” que virou a varanda a seu favor?
“Os obstáculos são essas coisas assustadoras que você vê quando desvia os olhos da sua meta.” — Henry Ford.
897# Bitcoin a 1,5 MUSD... Será? — 21/01/24

À medida que 2025 avança, a comunidade de criptomoedas volta suas atenções para o próximo halving do Bitcoin, um evento que historicamente tem sido um gatilho para aumentos substanciais em seu valor. Relembrando o halving de 2020, testemunhamos um impressionante aumento no valor do Bitcoin, de 6 kUSD para 65 kUSD em apenas 12 meses, e no último de 2024 ultrapassamos 100 kUSD, tendo picos de 125 kUSD. Esta tendência histórica fortalece as teorias otimistas sobre o potencial futuro do Bitcoin, com muitos analistas e investidores especulando sobre suas futuras avaliações.
Uma das previsões mais ousadas vem de Cathie Wood, uma investidora de renome baseada em Nova York. Em uma análise recente, que pode ser acessada em https://lnkd.in/enS8SyCq, ela projeta que o Bitcoin pode atingir o valor de 1,5 MUSD até 2030. Esta previsão leva em consideração os halvings de 2024 e 2028, e parte do ciclo de 2032.
Para entender a magnitude dessa projeção, é essencial contextualizar o papel atual do Bitcoin na economia global. Hoje, o Bitcoin representa pouco mais de 1% da economia mundial. Contudo, para que o Bitcoin alcance o valor estimado de 1,5 MUSD, seria necessário uma integração e adoção muito mais ampla na economia global. Considerando que, no halving de 2032, o Bitcoin possa atingir esse valor, com uma oferta circulante de aproximadamente 20,7 milhões de unidades, o valor de mercado total do Bitcoin seria estimado em torno de 31 trilhões de dólares.
O PIB mundial atual está em torno de 90 trilhões de dólares. Se projetarmos um crescimento que eleve esse número para 120 trilhões de dólares até 2032, o Bitcoin representaria aproximadamente 25% da economia global, um salto exponencial de sua participação atual. Este cenário colocaria o Bitcoin não apenas como um ativo de investimento, mas como uma entidade econômica de grande influência, potencialmente afetando mercados e políticas econômicas globais.
No entanto, é crucial considerar as variáveis e incertezas que cercam essa projeção. A volatilidade inerente do mercado de criptomoedas, possíveis regulamentações governamentais, e a adoção variável do Bitcoin em diferentes economias são aspectos fundamentais que podem afetar essa trajetória. Além disso, o cenário econômico mais amplo, incluindo inflação global, crises financeiras, desenvolvimentos tecnológicos, e a emergência de novas criptomoedas, pode influenciar significativamente a demanda e a viabilidade do Bitcoin como uma reserva de valor a longo prazo.
A natureza descentralizada do Bitcoin, uma das suas características mais notáveis, também apresenta desafios únicos, especialmente em termos de regulamentação e integração no sistema econômico global. A projeção de C. Wood serve não apenas para ilustrar o potencial de valorização do Bitcoin, mas também como um ponto de partida para discussões mais profundas sobre o papel das criptomoedas na economia global.
É no mínimo curioso!
898# Parem de culpar a indústria! — 28/09/25

Vi um post no X de uma entidade “chocada” com a presença de óleo vegetal em um famoso achocolatado líquido, como se fosse um desvio moral súbito da indústria; o diagnóstico está torto.
O que degrada o produto é a estrutura que o Estado desenhou para o consumo, com uma carga que saltou de algo perto de 20% do PIB nos anos 80 para a casa dos 36% hoje. Quando o tributo morde forte e preferencialmente o ato de comprar, a etiqueta fica refém, o P&D vira planilha de contenção e a qualidade perde disputa com o preço. É economia real: tributos altos, renda apertada, concorrência de centavos. O resultado não aparece na gôndola em letras maiúsculas; aparece dentro da caixinha, onde cada ingrediente vira variável de defesa, não de excelência, e o “leite com cacau” vira algoritmo para caber no bolso.
A linha do tempo não é coincidência. Em 1982, esse mesmo achocolatado em lata tinha 350 ml e sabor de leite com chocolate de verdade; hoje a referência massiva é 200 ml e a dança acontece na fórmula. Sólidos de leite cedem a soro reconstituído, gordura láctea dá lugar a óleo vegetal, cacau encolhe e textura é “reconstruída” por hidrocoloides. O rótulo avisa “contém soro de leite”, mas o consumidor lê apressado e confia no mascote. Isso parece “opção da empresa” — e é — porém tomada dentro de um campo inclinado: o Estado tributa pesado o consumo e trata boa parte de alimentos processados como “doce supérfluo”, tornando o insumo nobre mais caro e a engenharia de custos mais tentadora. O copo pode parecer igual; o conteúdo já não é.
Conecte os incentivos. Se a empresa repassa imposto, a caixinha some do lanche de quem vive no limite (e lembre-se: somos um país pobre); se não repassa, a margem evapora. Com rivais vendendo “quase achocolatado” mais baratos, a saída inevitável é mexer por dentro: leite vira soro, cacau vira calda, creme vira óleo, textura vira goma. É inflação deslocada para a fórmula, calibrada para parecer a mesma coisa. A lógica não nasce na fábrica, nasce no desenho tributário: quando a regra pune o ingrediente bom, o mercado recompensa quem “ajusta” a mistura. O Estado, na prática, coformula o que seu filho toma; a indústria apenas lê o quadro e joga para sobreviver.
Conclusão sem adorno: culpar “a indústria” em abstrato é confortável, mas ingênuo. A decisão de qualidade começa na política econômica. Enquanto a carga sobre consumo flertar com 35–36% e a renda real patinar, insistiremos em trocar cacau por calda e leite por soro — e normalizar isso como se fosse progresso. Quer um achocolatado com leite integral e cacau decente? Começa ajustando o campo: transparência explícita do peso do imposto na etiqueta, revisão que não puna merenda infantil como luxo e regulatório que alinhe incentivo com nutrição. Produto bom precisa de regra boa. Sem isso, seguimos comprando o mesmo nome com menos produto dentro.
“Encare a realidade como ela é, não como foi ou como você deseja que ela seja.” — Jack Welch.
899# Queimei a língua com o Etanol de Milho — 30/09/25

Planilha de Cálculo: https://lnkd.in/eU5w3NiM
Nos últimos anos, o etanol de milho tem ganhado espaço no cenário energético e industrial brasileiro, com números que justificam esse avanço. Embora a cana-de-açúcar ainda seja a base histórica da produção de etanol no país, o milho vem mostrando resultados mais consistentes financeiramente, com maior eficiência industrial e atratividade para investidores. Ainda se percebe a cana como dominante, mas os dados mostram uma virada importante.
Os indicadores financeiros destacam esse contraste. O etanol de milho apresenta ROI de 27,5%, ROIC de 18,1%, TIR de 20,6% e payback de 4 anos. O custo por litro é de 0,35 US$/L — altamente competitivo globalmente. Já o etanol de cana mostra ROI de 17,2%, ROIC de 11,4%, TIR de 9,5%, payback, ainda interessante, de 9 anos e custo de 0,42 US$/L. Ou seja, o milho devolve o investimento em menos tempo, enquanto a cana exige quase uma década, aumentando o risco, coisa que o investidor tem aversão.
Essa visão é confirmada por análises como a da NovaCana (https://lnkd.in/eerFu4m7), que reforça a rentabilidade superior do milho. A diferença é estrutural: maior eficiência industrial, apesar da mesma produtividade por funcionário no exemplo dado, e lucratividade por metro cúbico (142 USD/m³ no milho contra 70 USD/m³ na cana).
Outro fator crucial é o risco do projeto. A TIR do milho (20,6%) supera com folga o mínimo exigido pelo mercado, tornando-o atrativo para fundos e investidores. Já a TIR da cana (9,5%) se aproxima do WACC, o que torna o investimento mais vulnerável a oscilações de preço ou aumento de custos.
Em resumo, a cana ainda tem vantagem no rendimento agrário (492 USD/ha contra 297 USD/ha no milho), mas perde competitividade na indústria. O milho entrega margens sólidas, retorno rápido e maior resiliência ao mercado, o que justifica o crescente interesse de investidores em projetos de etanol de milho no Brasil.
E mais uma vez, queimei a língua com o uso do milho para fazer Etanol...
900# Livros para um amigo — 02/10/25

Um amigo me pediu a indicação de um livro para desenvolver a criticidade. Em vez de um, indiquei quatro que considero essenciais para abrir a mente, independentemente da atividade que você exerce. Seguem os títulos e os motivos.
O primeiro é “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell, talvez o mais conhecido. Uma fábula em que os animais expulsam o fazendeiro buscando igualdade, mas logo os porcos assumem o mesmo papel opressor. Retrato da corrupção do poder, quando ideais nobres se tornam interesses pessoais. Mostra como regimes, movimentos e até projetos corporativos podem nascer com discurso justo e democrático, mas se tornarem sistemas de opressão.
O segundo é “A Mentalidade Anticapitalista”, de Ludwig von Mises. O livro revela o paradoxo de sociedades que prosperam com o mercado, mas o criticam intensamente. Mises aponta que parte da hostilidade ao capitalismo vem do ressentimento e da incompreensão sobre o progresso — algo bem familiar a nós, brasileiros. Num mundo onde ideologias ignoram a lógica econômica, é uma leitura que desmascara discursos fáceis que culpam o empresário por tudo.
O terceiro é “As 48 Leis do Poder”, de Robert Greene. Polêmico, o livro aborda regras não ditas das relações humanas. Traz exemplos históricos de como reis, generais e empresários manipularam e mantiveram o poder. Muitos se chocam com a frieza da obra, mas ignorar essas leis é como jogar xadrez sem saber as regras. Mais do que ensinar a dominar, o livro ajuda a identificar quando essas leis estão sendo usadas contra você — o que pode ser decisivo.
Por fim, “As Leis Fundamentais da Estupidez Humana”, de Carlo Cipolla, talvez o menos conhecido. Curto, divertido e genial, mostra como a estupidez é uma das forças mais destrutivas, pois é imprevisível e sem benefício algum. A leitura ajuda a reconhecer padrões irracionais em pessoas e organizações — revelando que ignorância ativa pode ser mais perigosa que má-fé consciente. Saber neutralizar isso é uma habilidade rara — e essencial.
Espero que meu amigo goste!
“Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros.” — A Revolução dos Bichos
“A sociedade capitalista é a única em que, via mercado, as pessoas decidem quem deve dirigir e quem deve obedecer.” — A Mentalidade Anticapitalista
“O poder é um jogo social; entender as regras é jogar melhor — e evitar ser jogado.” — As 48 Leis do Poder
“Subestimamos o número de estúpidos, e seu poder de causar danos é maior do que parece.” — As Leis Fundamentais da Estupidez Humana
901# Devo muito a eles — 07/10/25

Em 1982, eu era só mais um menino em São Miguel Paulista, bairro onde liberdade tinha limite de horário. A escola era pública, a rua perigosa. Mas em casa havia estrutura. Meus pais, mesmo com pouco, nunca deixaram faltar o que importava: rotina, orientação e uma exigência silenciosa que formava caráter. Meu pai tinha emprego, e minha mãe fazia o dinheiro durar até o fim do mês. Não havia luxo, mas havia régua — e isso vale muito. Estudar era prioridade, não por discurso, mas por ser o único plano. Meus brinquedos cabiam numa prateleira: bola, gibis, livros e um radinho que ganhei do meu pai. Nele, ouvia jogos do Corinthians e, sem perceber, aprendia a escutar o mundo com atenção.
Mesmo com a violência no bairro, ainda havia tempo de ser criança. Soltava pipa e jogava bola no campinho de terra batida que sujava até o pensamento (até hoje tenho cascão nos pés 🤣🤣🤣). Ali aprendi que convivência não é afeto, é adaptação. Ninguém sai ileso da infância, mas nem tudo vira trauma — alguns viram instrução. Na escola, eu não causava problemas, mas também não passava despercebido. Queria aprender. Não para “mudar o mundo”, mas para não repetir o mesmo padrão. E isso já era muito. Olho praquele menino de 1982 com respeito. Sabia pouco da vida, mas teve coragem de seguir os pais e ser constante.
Em 1992, aos 18 anos, mudei com a família para Mogi Guaçu. E tudo mudou. Saí da tensão para a tranquilidade. Uma cidade onde dava pra pensar, andar e respirar. Terminei os estudos, comecei a trabalhar e entrei na faculdade. Foi aí que entendi que estudar e trabalhar exige mais que força: exige escolha. Me formei, cresci na carreira, sempre em silêncio. Com base no que aprendi cedo: fazer o certo, mesmo sem plateia. Em Mogi também construí minha linda família — o meu mais perfeito projeto de longo prazo que ninguém ensina, mas que define quem você é.
Hoje moro na Colômbia com minha Esposa e sou executivo em uma empresa química. Vivo uma realidade que poucos imaginariam olhando praquele garoto. Mas tudo tem conexão. Levo para cada decisão o que aprendi com meus pais: controle, respeito, simplicidade. A vida executiva exige estratégia, mas antes disso, repertório humano. O meu foi formado com rádio, futebol de rua, estudos e responsabilidade. Quando olho pra trás, não vejo superação. Vejo sequência. Nada espetacular, mas tudo coerente.
Por isso, agradeço aos dois meninos ajuizados — o de 1982 e o de 1992 — que, mesmo sonhando pouco, seguiram em frente. Eles não sabiam muito sobre o futuro, mas sabiam que só a ação dá sentido ao tempo.
Se este texto chegar a alguém que, como eu, precisou amadurecer cedo, deixo uma sugestão: pare um pouco. Pense nas suas versões anteriores. E agradeça. Foram elas que sustentaram tudo até aqui.
“O que somos é consequência do que pensamos.” — Buda
902# LSS não faz milagres — 09/07/25

Há uma máxima conhecida no meio industrial: “uma boa análise de causa raiz resolve qualquer problema”. Mas e quando ela não resolve? Ou melhor: e quando ela está correta — mas não é implementada?
Esse é o paradoxo que corrói silenciosamente inúmeras empresas. Porque saber o que fazer é apenas o começo. Ter coragem para fazer, esse sim, é o verdadeiro diferencial competitivo.
Quando a causa é clara, mas o remédio é amargo
Em teoria, o Lean Six Sigma (LSS) oferece ferramentas poderosas para identificação e solução de problemas. Na prática, porém, sua aplicação muitas vezes é desviada do propósito original, servindo como cortina de fumaça para a omissão.
Uma empresa avalia a eficiência da recuperação de proteína de um cereal durante a produção de carboidrato. Esse indicador, além de impactar diretamente a receita, é crucial para garantir a qualidade do produto final. Em tese, é um processo dominado há mais de um século. Na prática, a recuperação despenca de 60% para menos de 50% — e permanece assim por mais de 20 anos.
Diagnóstico: feito e ignorado
Auditorias revelam as causas: centrífugas obsoletas operando fora de especificação, filtros subdimensionados saturados e manutenção negligenciada. Solução? Substituição completa dos equipamentos e revisão total das práticas operacionais. O retorno? Recuperação imediata do rendimento e maior previsibilidade do processo.
Mas isso exigia dois custos: financeiro e reputacional. Substituir as centrífugas demandaria investimento alto, mas, sobretudo, admitir falhas operacionais e de gestão acumuladas. O problema deixou de ser técnico e se tornou político — mexia com egos e reputações.
A decisão covarde e o preço da aparência
O caminho escolhido foi o mais comum: o paliativo elegante. Projetos de LSS foram iniciados para capacitar operadores e otimizar o uso dos equipamentos antigos. No papel, era bonito. Nos gráficos, gerava picos pontuais de melhoria. Nas apresentações, aplausos. Mas no chão de fábrica, o problema continuava.
É aqui que a verdade precisa ser dita: o Lean Six Sigma não faz milagre. Nenhum método gerencial substitui a necessidade de investimento ou a coragem de admitir falhas. Treinar um operador para extrair o melhor de uma centrífuga que já deveria estar em um museu é como ensinar um piloto de Fórmula 1 a correr com um fusca — pode até melhorar tempo de volta, mas não ganha campeonato.
Os custos invisíveis da covardia
O plano estrutural foi engavetado, e com ele, a chance real de recuperação. O custo da decisão adiada não aparece na planilha do mês. Ele surge aos poucos: na perda de competitividade, na evasão de talentos, na corrosão da confiança e na deterioração da cultura organizacional.
Ao escolher proteger a imagem em vez de resolver o problema, a empresa trocou a solução pelo discurso. E discurso não sustenta operação no longo prazo.
O que aprendemos com isso?
Essa história não é exceção. É retrato de um padrão corporativo que prioriza o conforto do agora à solidez do amanhã. Quando se finge agir, o senso de urgência desaparece. A equipe se adapta à mediocridade, e a falha crônica vira “parte do processo”.
Lean Six Sigma é ferramenta — poderosa, sim — mas não é escudo para proteger lideranças da verdade. Nem anestesia para evitar decisões duras. Usá-lo como substituto da ação é desonesto e disfuncional.
Reputação não resolve falha técnica
Quando líderes têm mais medo de se expor do que de falhar, qualquer plano robusto se torna inviável. Isso revela um ponto incômodo: há empresas onde preservar a imagem é mais importante do que preservar o negócio.
Como escreveram os autores clássicos da gestão, “não há plano de ação que funcione sem vontade de agir.” E vontade de agir exige mais do que método. Exige liderança.
A lição esquecida
Resolver problemas crônicos exige coragem: de investir, de reconhecer erros, de recomeçar. Quando se evita a ação para evitar “manchar a imagem”, cria-se um sistema de mentira elegante — onde todo mundo finge que está tudo bem, desde que os relatórios estejam bonitos.
Empresas maduras não escondem problemas. Corrigem. Empresas sérias não treinam para contornar falhas. Investem para eliminá-las. Empresas líderes não temem a verdade. A transformam em estratégia.
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
“Reconhecer um erro é mais nobre do que esconder uma falha.” — Jack Welch
“A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que ele.” — Ambrose Redmoon
“A reputação é o que dizem de você; caráter é quem você realmente é.” — John Wooden
“Empresas que evitam a verdade, evitam o futuro.” — RXO
903# Melhorar a inutilidade — 09/03/25

Se há um talento que algumas empresas e órgãos governamentais domina com maestria, é a capacidade de transformar tarefas irrelevantes em métricas impressionantes. Chame de "gestão", "melhoria contínua" ou qualquer outro nome bonito – no final, boa parte das iniciativas corporativas e governamentais nada mais são do que um enorme desperdício de tempo, dinheiro e inteligência.
A "indústria da eficiência", essa máquina de moer produtividade, se especializou em otimizar o que não precisa ser feito, medir o irrelevante e premiar o supérfluo. O resultado? Uma impressionante "eficiência em coisas inúteis".
O culto à métrica sem sentido
Nada traduz melhor a obsolescência disfarçada de eficiência do que o amor incondicional por métricas que não mudam nada. Pense no clássico "Indicador de Performance". Ele é reverenciado em reuniões, defendido com unhas e dentes pelos gestores e usado para justificar bônus – mesmo que na maioria das vezes não gere impacto real algum.
Exemplo prático? O tempo médio de resposta de e-mails internos. Em algumas empresas, reduzir esse tempo em 5% é tratado como um feito digno do Prêmio Nobel. O problema? Ninguém se questiona se esses e-mails precisavam EXISTIR em primeiro lugar.
Outro exemplo? O tempo médio de reunião. Surgem iniciativas para encurtar reuniões de 60 para 45 minutos (Agile Project), como se a solução estivesse na duração – e não no fato de que 90% dessas reuniões poderiam ser resolvidas em um e-mail (ou ignoradas completamente).
"Nada é mais inútil do que fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito." – Peter Drucker
A busca frenética por "inovação" do que não serve para nada
A palavra "inovação" se tornou uma desculpa para justificar qualquer bobagem. Algumas empresas criam departamentos inteiros de inovação para redesenhar logotipos, mudar nomes de cargos ou lançar novos modelos de relatório – tudo com apresentações cheias de buzzwords, gráficos coloridos e zero impacto real no negócio.
Enquanto isso, processos realmente críticos continuam funcionando com sistemas ultrapassados e planilhas que travam mais do que Windows 98 rodando no modo de segurança.
É a mesma lógica do "Lean Manufacturing" que passa meses eliminando segundos de um processo irrelevante, mas ignora gargalos enormes na cadeia produtiva. Ou do "Kaizen" aplicado a tarefas triviais, enquanto os problemas estruturais continuam enterrados debaixo do tapete.
"Melhorar um processo ineficiente é como amarrar asas em um carro: não importa o quanto tente, ele nunca vai voar." – Henry Ford
Automatizando a ineficiência
Poucas coisas são mais engraçadas do que a indústria tentando automatizar processos que nem deveriam existir. Gastam milhões desenvolvendo um sistema de gestão para controlar a entrada de pedidos de um processo burocrático que poderia simplesmente ser eliminado.
Eu já vi indústrias terem departamentos de REPROCESSO, e medirem isso como se fosse algo essencial...Meu amigo!!! Você está trabalhando para reduzir isso??? Se não está, tenho uma péssima notícia: você não está agregando nada ao negócio!
"Um idiota com um plano ainda é um idiota." – Warren Buffett
Recompensando quem não faz nada
E o mais fascinante nessa busca incessante pela eficiência em coisas inúteis é que os maiores prêmios vão para quem gasta mais tempo fingindo ser produtivo.
Os profissionais mais valorizados não são aqueles que resolvem problemas de verdade, mas sim os que sabem como parecer ocupados o tempo todo. Gente que domina a arte do PowerPoint estratégico, da reunião sem fim e do email que ninguém entende – mas que dá a impressão de que algo importante está acontecendo.
E assim seguimos. As empresas e os governos seguem girando, produzindo relatórios que ninguém lê, fazendo reuniões que poderiam ser evitadas e otimizando o que não precisa existir.
Porque, no fim do dia, eficiência em coisas inúteis é um dos grandes motores da economia.
Cinco frases inspiradoras para refletir sobre esse teatro corporativo
"O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua realização." – Lei de Parkinson
"O maior inimigo do progresso não é o erro, mas a inércia organizada." – Kenneth Galbraith
"A coisa mais cara que uma empresa pode fazer é continuar investindo no que não funciona." – Peter Drucker
"Se a solução para um problema parece complexa demais, provavelmente você está resolvendo o problema errado." – Elon Musk
"A única coisa pior do que investir em algo inútil é continuar investindo porque já gastou muito." – Warren Buffett
904# Mudar de opinião é natural! — 02/11/25

Normalmente interpreta-se o ato de mudar de opinião em muitas rodas de liderança e decisão, como fraqueza. Como se coerência fosse uma linha reta, e não um processo iterativo, onde cada nova evidência exige, ao menos, uma revisão honesta da hipótese anterior. Mas o dado mais simbólico dos últimos dias não veio de uma sala de aula, nem do mundo corporativo: veio do reino animal, literalmente.
Pesquisadores da Universidade de Utrecht, junto com colegas da Califórnia, mostraram que chimpanzés conseguem "mudar de opinião" quando são confrontados com dados contraditórios. Em testes laboratoriais, os animais recebiam uma pista para escolher uma das caixas com alimento. Após essa escolha inicial, uma nova pista era oferecida — mais forte, mais clara, mais assertiva. E eles mudavam. Simples assim. Porque fazia sentido. Porque agora o contexto era outro. Porque persistir no erro não trazia vantagem nenhuma pois ficava claro que era tolice.
Fique constrangido ao ver isso: se um chimpanzé revê sua crença diante de evidência nova, por que executivos, diretores e especialistas seguem presos ao discurso da coerência cega? A resposta talvez more naquilo que é mais característico da nossa condição humana: a "p*rra" do ego. No medo de parecer inconsistente e no apego ao protagonismo que uma opinião pública mal resolvida impõe, nós preferimos parecer firmes do que estarmos certos.
O mundo que habitamos, e os negócios que tentamos liderar, não premiam rigidez. Premiam lucidez adaptativa. Um bom gestor, um bom cientista, um bom professor ou um bom líder, não é o que tem a resposta certa desde o começo. É o que está pronto para reavaliar quando a pergunta muda, quando o cenário se altera, quando o fato desmente o palpite. E aqui está o ponto mais incômodo: mudar de opinião exige mais do que inteligência, exige muita coragem. Coragem pra desapontar o próprio passado, coragem pra enfrentar quem aplaudiu a versão anterior, coragem pra seguir adiante mesmo que isso custe capital simbólico. Porque sim, mudar cobra um preço, mas não mudar cobra a conta o valor cheio.
Em tempos em que o erro é cancelável e a hesitação é ridicularizada, é compreensível o pavor de ajustar nossa rota. Mas também pode ser letal. Quantas carreiras estagnaram por teimosia disfarçada de consistência? Quantas empresas ruíram porque seus líderes confundiram “convicção” com “obstinação”? Talvez a maioria e não detectamos isso.
O chimpanzé, ao mudar, não pede desculpas, não faz discurso. Apenas age com base no novo...
...sem apego, sem vaidade. E talvez esteja aí a maior lição da semana: ser racional não é resistir — é reavaliar.
Na próxima vez que uma nova evidência bater à sua porta, pergunte: isso desmonta minha visão... ou a aprimora?
Porque às vezes, o maior erro é insistir em acertar.
“Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E você, o que faz?” — John Maynard Keynes
905# S.T.A.R. — 08/11/25

Você conhece a técnica STAR? Ela não é autoajuda, mas um método eficaz de estruturar raciocínio. Em ambientes técnicos e decisões baseadas em evidências, comunicar bem o que se fez — e o impacto disso — é critério de seleção. É amplamente usada em seleções, avaliações e apresentações executivas. Saber aplicá-la pode ser decisivo para ser ouvido, contratado ou promovido, apenas por relatar bem suas ações.
A técnica STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado) é útil porque traz lógica à experiência. Transforma relatos em argumentos e evita cair em cronologias irrelevantes ou adjetivos vazios. Em resumo, obriga o profissional a responder com precisão quatro perguntas essenciais:
- Qual era o contexto da experiência?
- O que foi exigido de você no projeto?
- O que exatamente você fez que gerou impacto?
- Qual foi o resultado concreto?
Embora pareça simples, exige domínio técnico e clareza. Muitos tropeçam no básico: não filtram ruídos de dados relevantes, se perdem em emoções, listam atividades como entregas e esquecem que impacto mensurável é a linguagem da liderança. E quem ouve não quer perder tempo — Time is Money.
Veja este exemplo:
Situação: “No 1º trimestre de 2023, assumi a gestão da linha PET na planta de Goiânia, com OEE médio de 78% nos últimos 5 anos e alto retrabalho, principalmente em lotes com trocas rápidas.”
Tarefa: “Elevar o OEE a 85% em 1 ano e reduzir 30% das perdas por retrabalho em 6 meses.”
Ação: “Implementei novo modelo de troca rápida com pré-configuração via CLP, reestruturei o fluxo CIP para eliminar gargalos e, com o time de manutenção, fiz ajustes preventivos na pressão das válvulas dos bicos de envase.”
Resultado: “OEE chegou a 87% em 14 meses. O retrabalho caiu 42% em 6 meses. A operação virou referência da matriz para a América Latina.”
Esse relato não é “falar bonito”. É aplicar lógica. Torna visível o que, muitas vezes, está diluído na operação. O mercado não premia esforço — premia clareza. E clareza vem do método.
Profissionais técnicos muitas vezes executam muito e relatam mal. São superados por quem comunica melhor, mesmo entregando menos. A técnica STAR corrige isso: traduz operação complexa em linguagem objetiva.
Ela vai além de entrevistas. Serve à liderança técnica, ao engenheiro de processos que quer justificar decisões, ao gestor de manutenção que precisa reportar uma intervenção crítica — a qualquer profissional que entende que um resultado só vale quando descrito e atribuído.
STAR não é sobre parecer, é sobre provar.
“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.” — Robert Collier
906# O Dia do Sapato — 08/11/25

“Quando tudo conspira contra você, às vezes é o universo testando o quanto você realmente quer aquilo.”
O primeiro emprego a gente nunca esquece. Independe se é um estágio, um bico como servente de pedreiro, ajudante de loja ou, no meu caso, numa multinacional. Eu tinha recém completado 19 anos. Já havia sido dispensado do serviço militar, era o filho mais velho, com meu pai recém-aposentado. Estava ali, como tantos outros jovens, em busca da primeira oportunidade profissional.
O ano era 1993. Com uma dose generosa de sorte — e algumas coincidências — meu currículo foi levado por um funcionário da RMB (atual Ingredion). Foi uma daquelas coincidências que só a vida proporciona...Uma hora conto essa história também. E um dia, chegou também um telegrama — sim, um telegrama — em caixa alta: “APRESENTAR-SE PARA TESTE NA UNIDADE INDUSTRIAL”.
No dia 20 de setembro de 1993, lá estava eu, diante dos portões da icônica fábrica da Maizena, em Mogi Guaçu. Era minha primeira vez entrando numa indústria. Éramos nove candidatos. Eu era o mais jovem — e o único que nunca tinha sequer pisado numa fábrica. Um detalhe, porém, roubava toda a minha atenção naquela manhã fria: um sapato.
A herança do meu pai
Meu pai sempre foi o que chamo de “chato do bem”. Exigente com postura, rigoroso com aparência, disciplinado até os ossos. Treinou-me com rituais: barba feita, cabelo cortado, unha limpa, roupa passada, aperto de mão firme e, claro, sapatos de couro.
Foi nesse último ponto que meu problema começou. O sapato 43 estava com a sola descolando — parecia um jacaré de boca aberta. Eu, um moleque magro de 65 kg e 1,80 m, tentava disfarçar sentando o tempo todo e pressionando a sola contra o piso. Já estava com câimbras de tanto segurar a “boca do jacaré”.
O teste e o silêncio
Prova de matemática, português e redação. Concentrei como nunca. Fui o primeiro a terminar, revisei e saí. Do lado de fora, a turma se conhecia; muitos já tinham trabalhado como temporários. A conversa era cheia de confiança — e de “QI” (quem indica).
Um dizia ser sobrinho do supervisor; outro tinha “moral com o encarregado”; teve quem disparou: “Essa vaga já é minha, fiz a prova só pra confirmar.” Fiquei em silêncio, tímido, com o sapato abrindo a boca. Até que um, que depois seria meu colega, olhou com desprezo e cravou: “Tenho dó é desse aí… não conhece ninguém, deve ter ido mal e vai ser o primeiro a ser mandado embora.” Risos gerais. Por dentro, eu estava destruído — e fiquei.
O abatedouro
O recrutador voltou após quase duas horas. Começou a chamar um por um para o “feedback”. A cada retorno: “Não deu dessa vez. Boa sorte.” Até restarem dois: eu e o sujeito confiante. Quando a porta abriu, levantei já esperando a dispensa, mas o chamado foi para ele. Entrou confiante e saiu mudo. Nem me olhou.
Quando tudo muda
“Ricardo, vem aqui. Tenho boas notícias.” Ele me mostrou a prova: eu havia errado apenas um item — um detalhe que nunca esqueci: urubu não tem acento. A redação foi elogiada pela argumentação e clareza. Fui o único aprovado entre nove candidatos — muitos com experiência e contatos. Eu, o garoto da sola solta.
O que ficou dessa história
Não conto isso como heroísmo, e sim porque muita gente vive o mesmo: sem contatos, com insegurança, sem experiência, mas com vontade de vencer. A lição? Postura. A postura que meu pai insistia. Ela não depende de currículo nem de sobrenome — e sustenta a gente quando até o sapato tenta sabotar.
Cinco frases que me definem até hoje
“Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando.” — John Wooden
“A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage.” — Charles Swindoll
“Você não precisa vencer todos. Precisa apenas vencer suas próprias desculpas.” — RXO
“Quem tenta impressionar com palavras, geralmente falha nos atos.” — Jim Rohn
“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.” — Winston Churchill
Palavra final
Aquele sapato me constrangeu, sim. Mas não me impediu. E, até hoje, quando alguém desdenha do esforço alheio ou acha que já sabe como a história termina, lembro da porta abrindo, do recrutador sorrindo — e da minha vida mudando. Foi o dia em que tudo começou. O dia do sapato.
907# O que somos é uma Construção — 09/11/25

Muita gente acredita que caráter é algo pronto, inato, genético. Eu penso diferente. Acredito que somos uma obra em andamento. Tijolo por tijolo. E que muitas das nossas decisões hoje são consequências — conscientes ou não — daquelas experiências que vivemos lá atrás, ainda na adolescência.
Recentemente, ao revisitar algumas memórias, percebi que uma das maiores lições de liderança que tive na vida aconteceu em um lugar improvável: a quadra de uma escola pública da zona leste de São Paulo. E isso moldou quem eu sou até hoje.
A escola onde tudo começou
Estudei 90% do meu ensino fundamental na mesma instituição: a EEPSG Professor Francisco Pereira de Souza Filho, no Parque Paulistano, São Miguel Paulista – SP. Foram dos 8 aos 17 anos naquela escola. Ali vivi amizades verdadeiras, minhas primeiras paixões e fui profundamente influenciado por Professores com P maiúsculo.
Apesar de pública, nos anos 80 a escola tinha boa reputação. Era nova (fundada em 1982) e, como muitos da região, era o que tínhamos — mas nos orgulhávamos disso. Sempre fui aluno de excelência. Daqueles que terminavam o ano no terceiro trimestre e entravam em férias antecipadas, só esperando janeiro para renovar as amizades.
Nota vermelha? Nunca. Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia — tudo fluía com naturalidade. História? Eu detestava (e hoje sou apaixonado). Português era sofrido. Inglês era tortura. Mas mesmo isso nunca ameaçou meu rendimento.
A Educação Física me fisgou
Aos 12 anos, algo inesperado aconteceu. A Educação Física me fisgou. E não era só pelo "alívio das aulas teóricas". Era prazer genuíno. Eu gostava daquele ambiente. Da interação. Do esforço físico. Da disciplina coletiva. Se eu não tivesse me mudado para Mogi Guaçu, talvez tivesse seguido essa carreira. Me sentia em casa ali. Aquilo me transformava.
Foi ali que deixei a timidez de lado. Aprendi a lidar com frustração. A ganhar sem humilhar. A perder sem quebrar. E, principalmente, a competir com propósito.
Meu esporte favorito era o futsal, mas onde eu realmente me destacava era no handebol. Aos 14 anos, já tinha 1,80 m — e num cenário de esporte escolar, isso fazia diferença. Mas não era só a altura: era a técnica, o posicionamento, a leitura de jogo. E como o sistema de competições era dividido em três categorias — Mirim, Infantil e Juvenil —, eu jogava em todas. E ainda ajudava a treinar os menores.
Com 16 anos, já dava treino com os professores. Apitava jogos. Ajudava na organização. A Educação Física virou meu laboratório de vida. E foi nela que entendi o que significa liderar sem ter título. Liderar pelo exemplo. Pela entrega. Pela influência.
A braçadeira de capitão
Com 16 anos, fui nomeado capitão do time Infantil e do Juvenil. E não era só pela performance, mas pelo que eu representava. Era o que batia os pênaltis, puxava o aquecimento, cobrava postura. E não porque mandaram — mas porque os outros me escutavam. Ali, na quadra da escola pública da zona leste, nascia um estilo de liderança que carrego até hoje: firme, presente e com senso de responsabilidade pelo todo.
A semifinal que mudou tudo
Era a semifinal do campeonato estudantil. Na nossa quadra. Lotada. Clima de final de Copa do Mundo. O adversário: a temida Escola Dom Pedro I — a elite do bairro. Havíamos perdido pra eles no ano anterior. O jogo começou tenso. Perdíamos por dois gols. E, num lance maldoso, levei uma pancada forte: quebraram meu nariz.
Sangue pra todo lado. Me tiraram da quadra. No intervalo, ainda sangrando, olhei pro meu professor e disse: “Coloca algodão aí. Eu quero voltar.” Ele perguntou: “Por quê?” — e o garoto de 15 anos respondeu: “Porque o time precisa.”
Voltei com o nariz entupido de algodão. O pátio inteiro veio abaixo. A energia mudou. O time se acendeu. Voltei, marquei 5 gols e viramos o jogo. Ganhei o respeito de todos. Apesar da bronca homérica do meu pai, aquela escolha valeu cada segundo.
E se eu tivesse seguido esse caminho?
Depois me mudei para Mogi Guaçu. Fui convocado para jogar pela cidade nos Jogos Abertos do Interior de 1993. Não fui. Comecei a trabalhar. As prioridades mudaram. Mas tudo aquilo moldou quem eu sou. Mesmo sem seguir a carreira esportiva, foi ela que me ensinou a liderar — e isso faz diferença até hoje, em cada equipe, projeto e reunião.
A escola pública me deu mais que conteúdo
Nos corredores daquela escola pública, não aprendi só geografia ou fórmulas. Aprendi vida. Relacionamento. Autoridade sem arrogância. Enquanto muitos acreditam que liderança nasce em curso caro ou livro best-seller, eu sei: a minha começou ali, entre colegas suados, quadras rachadas e professores que acreditavam em mim.
O que eu aprendi e nunca esqueci
- Que liderança começa antes da vitória.
- Que respeito se conquista no esforço, não no discurso.
- Que quem lidera é o primeiro a levantar.
- Que coragem não é ausência de medo — é a escolha de seguir, apesar dele.
- Que caráter forte nasce nos detalhes.
Ali, com algodão no nariz e sangue seco na camisa, eu descobri o tipo de líder que eu queria ser: o que volta pra quadra quando todos acham que acabou.
5 Frases Inspiradoras
“Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo — não ausência do medo.” — Mark Twain
“Liderança é ação, não posição.” — Donald H. McGannon
“A disciplina é a ponte entre os objetivos e a realização.” — Jim Rohn
“Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare.” — Confúcio
“O exemplo não é uma das formas de influenciar. É a única.” — Albert Schweitzer
908# Estive na China. O Brasil Ainda Não Foi. — 08/11/25

Estive na China em outubro. Foi minha segunda vez nesse país fascinante, agora em Xangai, por uma semana intensa, caminhando por ruas onde tradição milenar convive com inovação de ponta, entre universidades que funcionam como incubadoras de poder nacional e estações de metrô mais limpas, seguras e eficientes do que qualquer aeroporto brasileiro. E voltei de lá com duas certezas. A primeira: a China, ou pelo menos essa região leste mais desenvolvida, já opera numa lógica de primeira potência — organizada, conectada, disciplinada. A segunda: seguimos perigosamente ignorantes sobre tudo isso. Não é só desconhecimento técnico ou econômico. É um vácuo cognitivo sobre um país que determina o presente e redesenha o futuro global. A elite brasileira — política, empresarial, acadêmica — não compreende a China. E o mais grave: não sente vergonha por isso.
O que vi em Xangai não foi “futuro”. Foi presente — um presente que já é cotidiano para mais de 1 bilhão de pessoas. Enquanto ainda reduzimos a China à piada do “produto Xing-Ling”, o país já lidera o mercado de veículos elétricos, investe mais em pesquisa e desenvolvimento do que toda a Europa Ocidental e caminha para redefinir as cadeias globais de valor, com estratégia explícita, metas públicas, incentivos estatais e um tipo de ambição que não pede licença: simplesmente executa. O que impressiona não é a infraestrutura. Não são os arranha-céus, os trens-bala ou os aplicativos com funções integradas que fariam corar qualquer fintech ocidental. O que impressiona é a lógica. A lógica de um país que pensa como empresa. Com metas, prazos, indicadores, accountability. A China não improvisa. A China planeja. E planeja para vencer.
Enquanto isso, o Brasil ainda discute se marco fiscal deve ser flexível, se o teto de gastos era ou não necessário, se emenda de relator é “instrumento legítimo de articulação”. Estamos em outro tempo histórico — mas agindo como se estivéssemos no mesmo ciclo. A China opera no seu 15º Plano Quinquenal, um modelo herdado dos soviéticos, sim, mas aprimorado com uma visão estratégica que nenhuma democracia ocidental hoje consegue replicar. Esses planos são documentos públicos, detalhados, com metas claras para cada setor — saúde, indústria, educação, defesa, inovação, consumo interno, urbanização. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de planejamento central. Trata-se de uma cultura que entende política como gestão — e gestão como instrumento de soberania. A China traça seus objetivos como uma holding multinacional: define indicadores, aloca recursos, cobra resultados. É um Estado que pensa com cabeça de CEO e age com disciplina de fábrica.
Essa lógica já impacta o Brasil. A relação sino-brasileira não é futura — é estrutural, presente, diária. Em 2009, a China ultrapassou os EUA como principal parceiro comercial do Brasil. Desde então, ampliamos a dependência, sem construir simetria de conhecimento. A Suzano fatura mais da metade de sua receita com vendas para a China. A Weg tem mais de 3 mil funcionários operando em solo chinês. A Gerdau depende da dinâmica de consumo de aço da China para precificação e planejamento. E mesmo assim, ainda tratamos o país com descaso intelectual. Em encontros com empresários, investidores e gestores públicos brasileiros, o que mais me assusta não é o desconhecimento dos dados — é a ausência de qualquer senso de urgência para compreendê-los. Como se fosse possível competir num mundo que não se entende. Como se fosse possível gerir riscos sem sequer mapear as variáveis mais óbvias.
Mais do que números e exportações, o que a China revela é um modelo mental. Lá, estudar é obsessão nacional. Vestibular é destino social. As famílias investem o que têm — e o que não têm — na formação dos filhos. O Estado acompanha isso. Regula. Impõe limites. Quando a elite começou a monopolizar o acesso às melhores universidades por meio de tutores pagos e cursos privados, o governo reagiu. Em 2021, proibiu que empresas do setor de educação básica tivessem fins lucrativos. Simples assim. As três maiores empresas chinesas do setor, listadas em bolsas americanas, foram zeradas do dia para a noite. Porque a educação é vista como ativo estratégico — não como oportunidade de mercado. Lá, capital serve ao plano. Não o contrário. Aqui, sequer temos um plano.
Demografia, desigualdade e bolha imobiliária são os três grandes desafios internos da China. Mas mesmo esses temas são enfrentados com racionalidade brutal. A política do filho único, por exemplo, produziu distorções severas: hoje, há 30 milhões de homens que jamais conseguirão se casar com uma mulher chinesa, por pura disparidade de gênero. Isso gera frustração social, potencial de instabilidade e questionamentos sobre o futuro. A resposta do governo? Incentivos à natalidade, flexibilização de políticas públicas, tentativas de aliviar o custo educacional. Tudo com pragmatismo. Porque, para eles, demografia é destino. E não há PIB que se sustente sem uma base populacional ativa. Enquanto isso, o Brasil vive um bônus demográfico desperdiçado, com 55 milhões de pessoas na informalidade, desemprego ou subemprego, e zero planejamento intergeracional.
O setor imobiliário chinês, que já representou até 30% do PIB, começou a inflar perigosamente. O que fez o governo? Estourou a bolha antes que ela explodisse. Um movimento que gerou perdas bilionárias para empresas privadas — mas que protegeu a estabilidade sistêmica. Isso revela algo que no Ocidente é cada vez mais raro: capacidade de agir contra o curto prazo. A China não toma decisões para ganhar eleição. Toma para garantir hegemonia. E mesmo quem discorda do regime — com razão — precisa admitir que isso gera um tipo de racionalidade macroeconômica que nossos governos não conseguem nem simular.
A pergunta não é mais “se” a China dominará cadeias produtivas estratégicas. A pergunta é: você ainda vai fingir que isso não importa? Porque enquanto discutimos metas de inflação, eles reescrevem as regras do comércio internacional. Enquanto esperamos incentivos do BNDES, eles já têm o Belt and Road Initiative financiando infraestrutura em 70 países. Enquanto celebramos unicórnios que sobrevivem ao terceiro trimestre, eles constroem hubs industriais que moldam o século XXI. É outro jogo. E a maior parte da elite brasileira ainda nem chegou no estádio.
O Brasil não precisa copiar a China. Mas precisa parar de ignorá-la. Precisamos urgentemente incluir geopolítica asiática no currículo das escolas. Precisamos de cursos de mandarim, não por fetiche cultural, mas por inteligência estratégica. Precisamos entender que empresas que operam com 50% de exposição à Ásia precisam de executivos que tenham estado lá, vivido lá, negociado lá. Caso contrário, continuaremos sendo um país que vende soja, minério e papel — sem saber para quem, por quê e por quanto tempo.
Ignorar a China hoje é ignorar o próprio futuro. E a elite brasileira, que tanto se orgulha de suas conexões globais, precisa reconhecer que conhecimento de Harvard sem compreensão de Pequim é cosmopolitismo incompleto. O mundo real se organiza em torno de centros de poder. E hoje, esse poder está se movendo em silêncio — com disciplina, com planejamento, com paciência. A China não precisa invadir. Ela não precisa ameaçar. Basta seguir o plano.
E se você ainda não entendeu isso, talvez o problema não seja a distância da China. Talvez o problema seja a distância da realidade.
Cinco Frases Para Refletir
“A maioria das pessoas aceita pequenos controles em troca de promessas vagas de estabilidade.” — Friedrich Hayek
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
“Quem não entende de dinheiro, trabalha para quem entende.” — Dave Ramsey
“Não se gerencia o que não se entende. E o que não se entende, domina você.” — RXO
“Estudar não é uma opção na China. É um plano nacional.” — RXO
909# A força de um cruzeiro! — 09/11/25

Em 1981, um garoto cruzava o portão da escola com a inocência no rosto e uma nota de Cr$ 1,00 na mão. Com ela, comprava um gibi: aquele doce de amendoim envolto em papel que cheirava infância. O gesto da mãe — simbólico e simples — foi mais que um agrado. Era um rito de passagem. Aquela moeda não era só dinheiro: era pertencimento. Representava acesso. Liberdade. Futuro.
Quase 45 anos depois, esse mesmo doce custa R$ 2,00. O valor monetário cresceu, mas o valor real... desapareceu.
O que derrete não é o doce — é a moeda
A erosão da moeda brasileira não é uma teoria econômica abstrata. É uma evidência empírica visível no cotidiano. Em 1981, um salário mínimo de Cr$ 5.788,80 comprava 5.788 gibis. Em 2025, com R$ 1.518,00 no bolso, só conseguimos comprar 759. É uma perda de 87% do poder de compra.
Esse dado não é um capricho nostálgico. É um alerta duro: não estamos ficando mais ricos. Estamos ficando mais enganados.
O Brasil vive um processo silencioso de desvalorização contínua da moeda. E junto com ela, desvaloriza-se o esforço, o mérito, o trabalho. Se o dinheiro vale pouco, o trabalho vale menos ainda.
A ilusão do número alto
A armadilha da “evolução nominal” é cruel. O contracheque aumenta, mas a sacola de supermercado encolhe. O salário cresce, mas o aluguel dispara. É uma forma de maquiagem econômica que acalma sindicatos, manipula estatísticas, fere empresas e impede uma discussão real sobre produtividade e valor.
“Não existe moeda forte sem uma nação que inspire confiança.” — Warren Buffett
Dólar, ouro e a verdade que ninguém gosta de encarar
Em 1981, com um salário mínimo, comprava-se 84 dólares. Hoje, 270. Parece progresso. Mas quando ajustamos pela paridade de poder de compra, o acesso a produtos internacionais, tecnologia e educação caiu. E o dólar virou um espelho torto da nossa economia. Discorda? Então vamos para o ouro...
É uma régua universal de valor ao longo do tempo há séculos. Em 1981, 1 kg de ouro custava Cr$ 1,4 milhão — 242 salários mínimos. Hoje, vale R$ 908 mil — 598 salários mínimos. O que isso significa? Que você precisa trabalhar 2,5 vezes mais para adquirir o mesmo ativo.
Mais trabalho, menos valor. Mais suor, menos patrimônio, menos gibis e menos ouro! É isso que chamam de “progresso”?
A moeda fraca cria o cidadão refém
O brasileiro médio não percebe que foi aprisionado. Ele vê o salário subir, mas não sente o avanço. Compra menos carne, menos lazer, menos viagem, menos tecnologia. Troca liberdade por sobrevida. Troca educação por sobrevivência — e o pior: em um mundo onde tudo ficou mais acessível com aumento de produtividade.
“A maioria das pessoas aceita pequenos controles em troca de promessas vagas de estabilidade.” — Friedrich Hayek
E a nossa estabilidade é uma mentira com selo oficial. Porque moeda fraca, em nosso caso, não parece uma escolha — e sim uma fatalidade.
A corrosão disfarçada de crescimento
O problema está além da inflação. Está no modelo de governo, na cultura de indexação, na política fiscal preguiçosa. Está na aceitação generalizada de que reajustar salários basta. Não basta. Se a moeda não compra, o número é só tinta em papel.
“É bom que o povo da nação não entenda o nosso sistema bancário e monetário, porque se entendesse, acredito que haveria uma revolução antes de amanhã de manhã.” — Henry Ford
A erosão da moeda é uma forma sofisticada de roubo institucional. O governo infla, o mercado reajusta, o trabalhador perde. E tudo isso acontece com cara de normalidade.
O erro de medir sucesso em reais
Empresas ainda adotam tabelas salariais “de mercado”, baseadas em valores absolutos. Profissionais ainda negociam aumento com base no INPC. E gestores de RH ainda defendem “ajustes lineares”. Todos presos a uma lógica que ignora o essencial: o quanto aquele salário compra, e quanto um trabalho gera de valor.
Sucesso real não se mede em reais. Mede-se em acesso, liberdade, capacidade de escolha. E cada vez mais brasileiros precisam escolher entre o básico e o necessário.
“A maioria das pessoas é tão pobre que tudo o que têm é dinheiro.” — Napoleon Hill
Educação financeira não é luxo — é libertação
A erosão da moeda ensina uma lição dura: dinheiro sem estratégia é ilusão. A única forma de escapar desse ciclo é entender o que significa valor — e como protegê-lo. Isso exige estudo, leitura, busca por ativos que preservam poder de compra e, principalmente, desconfiança dos discursos fáceis.
O brasileiro precisa entender que seu maior patrimônio não é o salário — é a capacidade de entender o que esse salário realmente significa.
E se você ainda mede sucesso pelo tamanho do contracheque, saiba: está jogando o jogo errado.
O futuro exige mais que aumento
A pergunta real de 2025 não é: “quanto você ganha?” É: “quanto isso compra? Por quanto tempo? Em qual moeda? Em qual país?” Porque, no fim das contas, a moeda é só o reflexo de algo mais profundo: nossa capacidade de gerar valor real, de forma eficiente, estável e sustentável. E nesse quesito, o Brasil está falhando há, no mínimo, 44 anos!
Cinco frases para refletir
“O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre.” — P. T. Barnum
“Não é o salário que define seu valor, mas o que você faz com ele.” — Robert Kiyosaki
“Riqueza é o que você não vê. Ostentação é o que você mostra.” — Morgan Housel
“Você não fica rico ganhando mais, e sim perdendo menos valor.” — Jim Rohn
“Quem não entende de dinheiro, trabalha para quem entende.” — Dave Ramsey
910# Castanha de La Paz??? — 09/11/25

O Brasil é mestre em criar slogans. “Amazônia sustentável”, “potência verde”, “bioeconomia do futuro”. A criatividade para batizar é proporcional à incapacidade de construir valor. Porque quando o assunto é a castanha-do-pará — que, aliás, só leva esse nome por um capricho geográfico — o país que detém a floresta é o mesmo que abre mão do mercado.
E o pior: abre mão com aplausos.
Não faltam painéis sobre economia regenerativa. Não faltam ONGs com dossiês e PowerPoints. Mas falta o essencial: um pingo de vergonha diante da constatação que a Bolívia — com um território amazônico ínfimo se comparado ao nosso — é hoje o maior exportador de Castanha-do-Pará do mundo.
A castanha é brasileira. O nome internacional é Brazil Nut. A árvore só dá fruto em floresta nativa. E quem lucra com isso? Eles.
O país que tem o produto, mas não a cadeia
É difícil pensar em um retrato mais perfeito da falência estratégica brasileira. O Brasil tem a floresta, tem o fruto, tem o nome no rótulo internacional — e não tem o lucro. A cadeia mais lucrativa desse produto passa longe dos portos brasileiros.
A Bolívia compra parte da castanha bruta — inclusive vinda do nosso lado da fronteira —, beneficia, embala e exporta. E o mundo a reconhece como potência do setor. O Brasil, por sua vez, coleciona planos estratégicos de papel, relatórios bonitos e promessas de que “a Amazônia vai se tornar o centro da nova economia”.
Enquanto isso, o centro da economia real vai para La Paz.
O marketing é nosso. O mercado, não.
A hipocrisia institucionalizada
Nada disso é acidente. É escolha — ou pior, ausência dela. Enquanto se discute como “salvar a Amazônia” com painéis de acrílico em eventos de cúpula climática, a floresta segue sendo exportada como sempre foi: em estado bruto. O que mudou? O discurso. Agora é “sustentável”. Mas a lógica segue extrativista.
A diferença é que, antes, não havia vergonha em assumir que exportávamos riqueza primária. Hoje, há um teatro sofisticado tentando convencer o mundo de que estamos fazendo diferente. Mas a Castanha-do-Pará — essa mesma que carrega nosso nome — escancara o que ninguém quer admitir: seguimos apenas como fornecedor de insumo barato para países que têm estratégia.
A Bolívia, nesse sentido, nos dá uma lição dura. Não precisa ter a floresta toda — basta saber o que fazer com o que tem. E, sobretudo, não cair na armadilha da vaidade ambiental enquanto abre mão do faturamento real.
O discurso que rende like — e o país que não rende lucro
O Brasil adora ocupar a tribuna do protagonismo climático. Mas basta cruzar as informações mais básicas para ver o abismo entre o que se fala e o que se faz. O país que vive pedindo financiamento internacional para “preservar a floresta” não consegue transformar nem a castanha que colhe em um case de exportação relevante.
Exporta o fruto cru, importaria o senso de estratégia — se soubesse reconhecer.
O Brasil criou um novo tipo de atraso: o atraso ecológico vestido de modernidade. Fala em nome da floresta, mas não fala com quem vive dela. Projeta modelos de “futuro sustentável”, mas aceita que outro país use o produto mais simbólico da região como trampolim econômico.
O Brasil é um outdoor da Amazônia. Mas quem fatura são os vizinhos.
Toda vez que alguém repetir que “a Amazônia é o futuro do Brasil”, lembre-se deste detalhe cruel: o futuro já foi terceirizado.
A castanha que leva nosso nome não leva nosso valor. O discurso ficou com a gente.
O dinheiro? Passa direto pela fronteira.
Cinco frases para tatuar no LinkedIn
“Nada é mais caro que a ignorância estratégica.” — RXO
“É fácil parecer relevante quando ninguém exige resultado.” — Osvandré Lech
“Enquanto você faz marketing, alguém está fazendo mercado.” — T. Harv Eker
“O maior risco é o conforto da irrelevância com cara de protagonismo.” — Stephen Covey
“O discurso bonito nunca compensou o lucro perdido.” — Mario Henrique Meireles
911# Não caia nessa! – 21/06/25

A ideia de que existe um “plano de carreira” pronto, desenhado por alguém no RH ou pela liderança para te levar ao sucesso, é a maior "engabelação" institucional do mundo corporativo. Uma mentira embalada em slogans motivacionais e workshops de autoconhecimento. Um GPS profissional que promete conduzir sua trajetória com segurança, mas que, na prática, vive sem sinal e fora da rota.
Quem ainda acredita nisso precisa acordar.
A metáfora do plano de carreira se baseia em um erro conceitual: a suposição de que há um caminho pré-definido. Mas a realidade é que ninguém — absolutamente ninguém — sabe exatamente onde você vai chegar. Nem mesmo você. E é justamente essa incerteza que exige algo muito mais sofisticado do que um plano: exige estratégia.
RH Não Promove Ninguém
A maior contradição dos planos de carreira está na distância entre o discurso e a prática. Enquanto as empresas falam sobre desenvolvimento, valorização e crescimento, a realidade mostra profissionais engessados, líderes desqualificados sendo promovidos por conveniência política, e os verdadeiros talentos sendo esquecidos no meio do caminho. O resultado é previsível: frustração institucionalizada.
A verdade é simples e indigesta: carreira não é sobre seguir degraus. É sobre criar movimentos.
A Autonomia Que Liberta — e Amedronta
Assumir que o plano é seu — e de mais ninguém — é reconhecer que você é o único responsável por onde está e por onde pode chegar. Isso assusta. Porque se o caminho depende de você, então o fracasso também. E poucos estão prontos para essa honestidade.
Mas quem assume essa responsabilidade conquista algo raro: autonomia. E com ela, liberdade. A liberdade de construir sua trilha. De correr riscos. De crescer sem pedir licença.
Degraus São Coisa do Século XX
Carreira não é escada. É geometria estratégica. Há quem cresça mudando de empresa, pulando áreas, aceitando rebaixamentos que viram saltos. Crescimento não é altura — é deslocamento inteligente. O profissional relevante não espera por cargos. Ele constrói autoridade antes do crachá.
E isso exige clareza brutal sobre o que se quer. E mais: coragem para fazer o que precisa ser feito antes que alguém diga que “está pronto”.
Você É o Plano
Todo plano de carreira é, no fundo, um espelho. Reflita. A posição em que você está hoje é resultado direto das escolhas que fez. Dos riscos que correu — ou não. Das vezes que decidiu ficar quieto quando precisava ter gritado. Ou das que gritou... e não soube sustentar.
Enquanto você terceirizar o plano, terceiriza o resultado. E carreira com controle remoto na mão dos outros é receita certa para frustração profissional.
Pare de Buscar o Plano. Comece a Andar.
Não existe plano. Existe caminhada. E ela precisa de ritmo, leitura de cenário e disposição para errar. O erro estratégico educa. A estagnação protege o ego — e destrói a trajetória.
“O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” – Vidal Sassoon
912# O velório da mãe... – 25/05/25

— Alô, Sô Carlos? Aqui é o Uóshito, casêro do sítio.
— Pois não, Seu Washington. Que posso fazer pelo senhor? Houve algum problema?
— Ah, eu só tô ligano pra avisá pro sinhô que o seu papagaio morreu.
— Meu papagaio? Morreu? Aquele que ganhou o concurso?
— Êle mermo.
— Puxa! Que disgrama! Mas... ele morreu de quê?
— Dicumê carne istragada.
— Quem deu carne pra ele?
— Ninguém. Ele cumeu a carne dum cavalo morto.
— Cavalo morto?! Que cavalo?
— Aquele puro-sangue qui o sinhô tinha. Morreu de tanto puxá a carroça d’água.
— Carroça d’água?!
— Prapagá o incêndio...
— Incêndio?!
— Na sua casa. Uma vela caiu nas cortina.
— Mas aqui tem luz elétrica! Que vela era essa?!
— Do velório...
— Velório?! De quem?!
— Da sua mãe. Eu pensei que era ladrão e... dei um tiro nela.
Silêncio.
— Mas, sô Carlos... o sinhô num vai chorá por causa dum papagai, vai?
Essa anedota, por mais absurda que pareça, é a radiografia exata da comunicação em boa parte das empresas. Ninguém quer dizer o que realmente importa. A mãe morreu. Mas ao invés de começar por aí, inventa-se um rodeio de distrações: o papagaio, o cavalo, o incêndio, a vela. Cada detalhe é um amortecedor emocional que mascara o núcleo do problema: o fato grave, irreversível, e que exige coragem para ser dito — e enfrentado.
No ambiente corporativo, a "morte da mãe" é o colapso que ninguém quer admitir. É o erro de gestão, a fraude, o desastre financeiro ou ético que, de tão grave, vira inominável. Surgem os “papagaios” — apresentações cosméticas, jargões, rodapés em reuniões, relatórios diluídos. Tudo para ganhar tempo, suavizar o golpe, controlar percepções. Até que o dano fica tão visível que ninguém mais pode negar. Mas aí já é tarde — e o gestor, como sô Carlos, entra em choque, sem saber se reage ao sintoma ou à causa.
Essa "covardia" comunicacional se disfarça de diplomacia. Mas diplomacia sem verdade é omissão — e omissão na liderança é negligência com selo institucional. Toda organização que silencia a qualquer custo cria ruínas em câmera lenta. O incêndio sempre começa na cortina da omissão. E a carroça da operação vira funeral de reputações.
É preciso coragem para dizer: a mãe morreu. Sem metáforas, sem PPT, sem adorno. É preciso aprender a nomear o problema real antes que ele escale por caminhos irreversíveis. A liderança que não cria um ambiente onde a verdade — mesmo dura — pode ser dita sem medo, cultiva cavalos mortos e papagaios sacrificados todos os dias. E acredita que está sendo estratégica, quando na verdade está sendo cúmplice da tragédia que se recusa a ver.
Organizações saudáveis não eliminam problemas. Eliminam o medo de nomeá-los. A cultura do enfrentamento começa por uma frase simples, mas transformadora: “precisamos falar do que ninguém quer falar”.
Porque, no fim das contas, todo papagaio morto é apenas a distração. A verdade que nos assombra está sempre atrás da porta — com uma vela acesa e um silêncio criminoso à espreita.
“A verdade dita cedo dói. A verdade dita tarde destrói.” — RXO
913# Já estamos no limite? – 25/04/25

Nos conforta pensar que ainda existe muito espaço disponível para a humanidade. Afinal, ocupamos "apenas 3% da superfície terrestre", certo? Essa afirmação, repetida em debates sobre superpopulação, passa uma falsa sensação de segurança. Mas ao olhar com mais atenção para os números reais, fica evidente: o planeta já opera perto do limite prático de ocupação sustentável.
A área urbana, de fato, corresponde a cerca de 3% da superfície terrestre habitável. Mas essa estatística ignora o que realmente importa: o impacto ambiental da nossa presença. Mesmo vivendo em cidades compactas, a humanidade se espalha por vastas áreas para produzir alimentos, extrair recursos e descartar resíduos.
Ocupamos pouco em termos físicos, mas impactamos quase tudo.
50% da Terra já está dedicada à nossa alimentação
Hoje, aproximadamente 50% da superfície terrestre dos continentes é usada para agricultura e pecuária. São plantações de grãos, campos de soja, pastagens para gado e plantações de cana, milho e arroz — todos sustentando mais de 8 bilhões de pessoas.
Esse dado mostra que muito do que parece "espaço livre" já é, na prática, ocupado para garantir nossa sobrevivência. A margem para expansão agrícola é mínima — e qualquer tentativa de crescer pressionaria ainda mais biomas naturais.
O mito do "espaço vazio": uma leitura rasa da realidade
Grande parte da Terra "não habitada" é, na verdade, território inóspito para ocupação humana. Vamos aos números reais:
- Desertos como o Saara, o Gobi, o Atacama e o Deserto da Arábia cobrem cerca de 20% da superfície terrestre seca.
- Áreas geladas como a Antártica, a Sibéria e o Ártico representam aproximadamente 15%.
- Cordilheiras como os Andes, o Himalaia e os Alpes ocupam cerca de 5%.
- Florestas tropicais como a Amazônia representam cerca de 7%.
- Terras protegidas (como terras indígenas no Brasil) somam entre 1% a 3%.
Somando tudo, sobra uma margem ínfima — no máximo 2% da área seca — que seria minimamente viável para novos assentamentos humanos. E isso desconsiderando a necessidade de preservar ecossistemas e serviços ambientais essenciais.
A ideia de que temos "espaço sobrando" se desfaz diante da realidade dos territórios efetivamente disponíveis.
Degradação crescente: o solo fértil também está sumindo
Além da limitação natural de espaço, enfrentamos um agravante: a degradação acelerada das terras produtivas. Perdemos cerca de 12 milhões de hectares de solo agrícola por ano — algo como 33 mil hectares por dia — para erosão, desertificação e esgotamento de nutrientes.
Se as áreas férteis diminuem ano após ano, qualquer ilusão de expansão segura simplesmente não se sustenta.
Pegada ecológica oceânica: a fronteira invisível
Mesmo os mares, que cobrem 70% da superfície do planeta e pareciam imunes ao excesso humano, hoje mostram sinais graves de exaustão:
- Cerca de 1/3 dos estoques pesqueiros globais já está sobreexplorado.
- 11 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos todos os anos.
Nossa capacidade de impactar ecossistemas, mesmo longe dos olhos, revela que o problema nunca foi falta de espaço. Sempre foi excesso de exploração.
O crescimento do consumo: a verdadeira bomba-relógio
Não se trata apenas do número de pessoas. Se a população mundial adotar um estilo de vida próximo ao dos países mais ricos, a pressão sobre os recursos explodirá.
Segundo o Center for Sustainable Systems da Universidade de Michigan, seriam necessárias cerca de 5 Terras para suportar o padrão de consumo médio de um cidadão americano.
E o movimento é claro: com o crescimento econômico global, haverá aumento no consumo per capita de energia, alimentos, carne, açúcar, papel, combustível, chips, baterias, madeira, cimento — e consequentemente, um aumento proporcional na produção de resíduos.
Cada novo bilhão de habitantes não apenas ocupa espaço: consome mais e exige mais de um planeta que já está sobrecarregado.
"Espaço vago" não é espaço disponível
Outra falácia recorrente é imaginar que todo território não habitado por humanos pode ser livremente ocupado. Nada mais distante da realidade.
Muitos dos territórios considerados "livres":
- Já servem como estoques de carbono (essenciais para controlar o aquecimento global);
- Mantêm a biodiversidade necessária para a manutenção de cadeias ecológicas;
- Garantem recursos hídricos e estabilidade climática.
Preencher esses espaços com cidades, estradas ou plantações seria equivalente a assinar a sentença de morte dos ecossistemas que sustentam nossa própria existência.
Limite real, não imaginário
A soma dos impactos — urbanos, agrícolas, industriais e marítimos — já mostra que o planeta não é tão elástico quanto gostaríamos de acreditar.
Chegamos no limite. Não o limite físico de ocupação, mas o limite ecológico — e este já foi ultrapassado em vários aspectos críticos.
O crescimento populacional futuro (cerca de 3 bilhões de pessoas a mais até 2100) exigirá não apenas mais espaço, mas revoluções em tecnologia agrícola, energias limpas, descarte de resíduos e, principalmente, na maneira como consumimos e interagimos com o planeta.
Sem isso, cada novo habitante se tornará um fardo insustentável para um sistema ecológico já frágil.
“O limite não é o espaço que resta — é o equilíbrio que perdemos.” — RXO
Cinco frases inspiradoras
- “O futuro pertence àqueles que veem as oportunidades antes que elas se tornem óbvias.” – Theodore Levitt
- “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.” – Peter Drucker
- “O sucesso é a capacidade de ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.” – Winston Churchill
- “Se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo.” – Mahatma Gandhi
- “Grandes oportunidades surgem das grandes crises.” – Napoleon Hill
914# Olha a água mineral! – 16/11/25
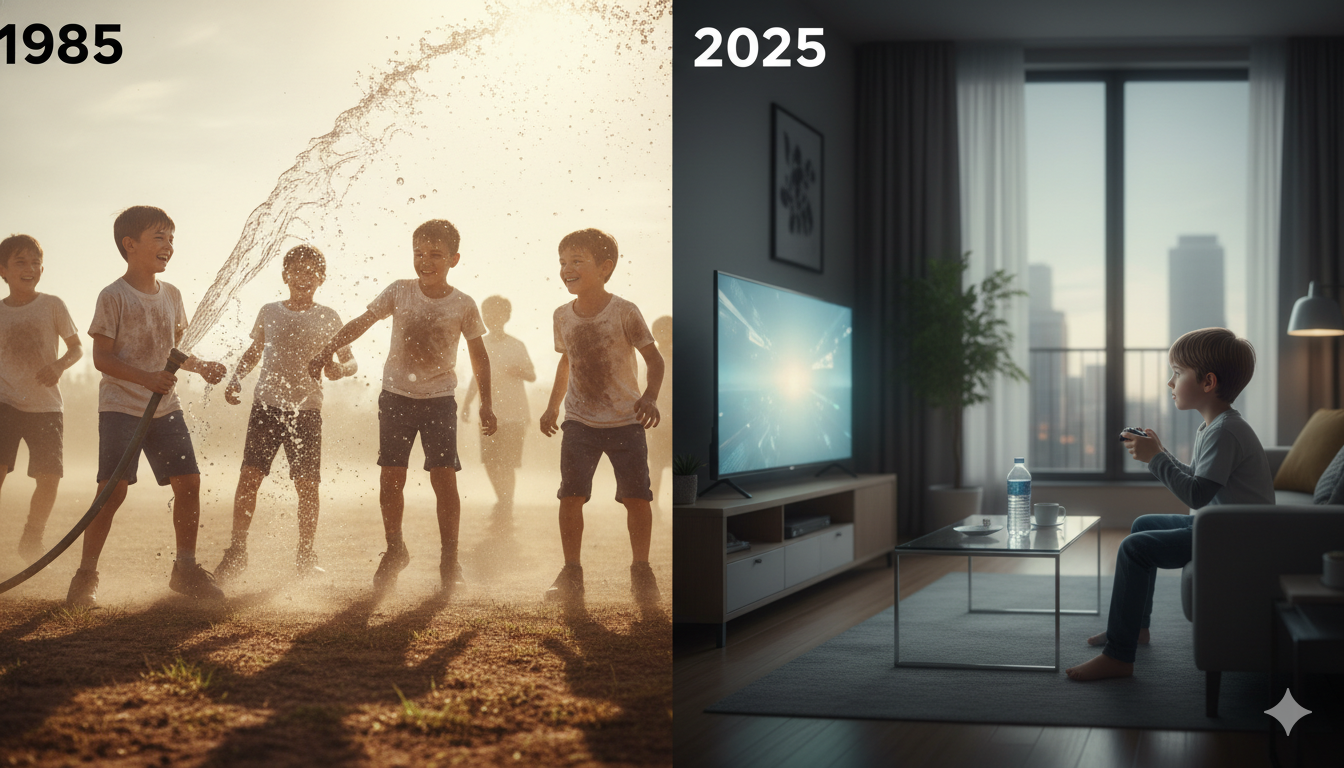
Quem nasceu nos anos 70, como eu, cresceu bebendo água da torneira. Nada de errado nisso. Bebíamos direto do filtro de barro, da pia da cozinha, do bebedouro da escola. Água era tão básica quanto o ar. Hoje, meus filhos não sabem o que é isso. Cresceram com garrafinhas, galões empilhados e a ideia de que “água de verdade” só vem lacrada. O que mudou entre as gerações não foi só o consumo — foi a percepção.
Nos anos 80, o consumo per capita de água mineral no Brasil era inferior a 5 litro percapita. Em 1986, a produção era de 742 milhões de litros — pouco mais de um copo mensal por brasileiro. Era um produto de nicho, associado a tratamentos ou turismo hidromineral. Quase medicinal. Um luxo discreto, não um hábito.
A partir dos anos 90, tudo mudou. O marketing da pureza ganhou força, surgiram grandes envasadoras e cresceu a desconfiança com a água pública — mais por percepção do que por fatos. O consumo saltou de 7 litros per capita em 1993 para mais de 15 no fim da década. Em 2001, chegou a 22,7 litros; em 2019, a 115 litros. Ou seja, em 30 anos, o consumo multiplicou por mais de 20.
E o mais curioso: isso ocorreu num país onde mais de 85% dos lares têm água potável encanada. Não foi a escassez que impulsionou o mercado, e sim o símbolo. Água mineral virou sinônimo de saúde, status e segurança. Beber da torneira passou a parecer negligente — mesmo sem base técnica nos centros urbanos. Criou-se uma cultura onde o lacre vale mais que análises laboratoriais.
O resultado? O Brasil virou o 5º maior mercado mundial em volume de água mineral. E ainda há espaço para crescer — consumimos menos que México e Itália. Veremos mais marcas, mais tipos e novas “funcionalidades” atribuídas ao simples H2O.
Mas o custo ambiental é alto: bilhões de garrafas plásticas, toneladas de logística, e uma indústria que lucra com o que já temos — quase de graça — na cozinha. É o triunfo do marketing sobre a lógica. A indústria vende pureza, entrega conveniência e a embala como essencial. E nós, consumidores, aplaudimos — sedentos.
No fundo, a água não mudou. Mudamos nós. Nosso olhar, nossa confiança, nossa ideia de higiene. A água mineral venceu pela narrativa, não pela qualidade. E enquanto essa história continuar fluindo, cada gole alimentará não só a sede, mas um dos ciclos de consumo mais irracionais da era moderna.
Parabéns para quem capitalizou algo tão pouco valorizado pela minha geração dos anos 70!
“As oportunidades se multiplicam à medida que são agarradas.” — Sun Tzu
915# O Paradoxo da Mosca – 30/05/25

Imagine o seguinte: você é uma mosca. Sim, uma mosca. Sua vida é simples. Você precisa comer. Não importa o lugar, a luz, a moralidade, a companhia. Se tiver mel, você pousa. Se tiver bosta, você pousa também. Se tiver algo morno, fermentando, com cheiro forte e promessa de sustância — você não pensa duas vezes. Porque, veja bem, a mosca não tem ideologia. Ela tem fome de nutrientes. E fome, ao contrário da opinião, não tem vergonha de onde pousa.
É essa lógica que escancara o Brasil eleitoral em sua forma mais nua e crua. Aqui, a escolha não é entre o bem e o mal. É entre o que parece menos podre e o que alimenta mais rápido. E quem disser o contrário — que vota por princípios, por programas, por convicção filosófica — está se enganando com uma elegância que só a classe média sabe vestir. No fundo, todo mundo quer se alimentar. Uns com cargo, outros com subsídio, alguns com esperança. Mas todos com fome. O mel e a bosta mudam de lado a cada eleição, mas a mosca continua a mesma: voando em círculos atrás de quem promete sustentar.
E o que faz o político? Oferece o cheiro certo. Ora finge ser mel, com palavras doces, educação ensaiada e discurso messiânico. Ora se orgulha de ser bosta mesmo, daquele tipo que atrai pela autenticidade bruta — “sou sujo, mas sou real”. A mosca não liga. Ela não está preocupada com a estética. Ela está preocupada com a digestão. E essa é a vantagem das moscas sobre os analistas eleitorais — elas sabem exatamente o que estão procurando.
Essa é a beleza da Democracia. Com etiquetas novas, embalagem reciclável e data de validade adulterada. E a população? Se amontoa ao redor, competindo pelo resto que sobrou do banquete alheio. Com uma diferença sutil: enquanto as moscas dividem espaço sem ressentimento, nós ainda nos xingamos na internet tentando justificar onde pousamos.
Quer entender o voto no Brasil? Abandone a sociologia de boutique. Esqueça a busca por coerência. Observe o comportamento de quem tem fome. Porque é isso que move o país. Não é esperança. Não é indignação. É a necessidade de encher a barriga — nem que seja de promessas azedas. E não, isso não é “culpa do povo”. Isso é o retrato fiel de um sistema que vicia a base na dependência, enquanto os de cima mastigam dividendos.
O que muda entre os partidos não é o cardápio — é o tempero da mentira. Um vende abóbora como se fosse picanha. Outro serve ração e chama de revolução. No fim, todos sabem que o prato é o mesmo: sobras do que já foi poder. E as moscas, que não se importam com rótulos nem com história, voltam sempre que o cheiro promete sustento.
É claro que alguns vão dizer: “Isso é muito cínico, precisamos acreditar no processo democrático.” A esses, desejo sorte. Porque acreditar no processo não impede o sistema de apodrecer. E o Brasil, sejamos honestos, não está em disputa entre dois projetos de país. Está entre duas variações de carniça. A diferença está em quem promete menos vermes.
A prova? Veja como os votos migram. Veja como os indignados de ontem viram entusiastas de hoje. Veja como o “inaceitável” vira “necessário” quando muda o nó da gravata. Veja como quem dizia “jamais!” hoje diz “melhor que o outro”. Isso não é evolução — é o ciclo natural de quem foi domesticado a viver de farelos institucionais. Uma hora o mel... outra hora a bosta!
E o mais cruel: funciona. Funciona porque quem está no controle entendeu algo que a maioria ignora: não se governa pela razão — governa-se pela barriga. Fome, insegurança, medo, falta de acesso — tudo isso forma o prato ideal para servir promessas. E quando a digestão começa, o cidadão vira mosca sem perceber: já não sabe o que comeu, mas sabe que está cheio... por enquanto.
No Brasil, o eleitor médio não busca coerência, busca alívio. E quem oferece esse alívio — seja com Bolsa, com isenção, com espetáculo, gás, luz ou com fake news — ganha. E depois trai. E depois volta. Porque o ciclo não se rompe com consciência. Rompe-se com ruptura. E aqui, ninguém quer romper. Quer negociar.
Se você acha que está fora disso, ótimo. Mas saiba: você também está sendo analisado como mosca. Sua empresa, seus dados, sua bolha, seu perfil de consumo, seu humor digital — tudo mapeado. A política te serve exatamente o que você demonstrou estar disposto a engolir. E você engole. Com hashtags, com indignação seletiva, com comentários moralistas que servem mais pra massagear o ego do que pra mudar algo de verdade.
E se você ainda não percebeu, acabei de descrever a Pirâmide de Maslow aplicada à manipulação eleitoral. Primeiro satisfazem suas necessidades básicas. Depois te vendem a ilusão de pertencimento. Por fim, te convencem que você está se realizando enquanto serve de adubo para a próxima leva de promessas. Não se emocione se for sensível, mas é isso: eu, você, seu vizinho e sua empresa — todos somos tratados como moscas.
Não pelo cheiro. Mas pela previsibilidade. O sistema sabe que você vai pousar. Sabe o que te atrai. Sabe que você vai se indignar até o limite do seu conforto — e então vai se calar. E a política, como sempre, vai servir o próximo prato. Com nova embalagem. Mesmo conteúdo...
...e uma hora é mel, e outra hora vai ser a bosta! E você enche a barriga...
Cinco frases para refletir:
- “A maioria das pessoas prefere o conforto da ilusão à dor da lucidez.” – Osvandré Lech
- “A fome é um mestre mais severo que a razão.” – T. Harv Eker
- “A sobrevivência nem sempre escolhe o mais nobre, mas o mais adaptável.” – Charles Darwin
- “A política é a arte de obter dinheiro dos ricos e votos dos pobres, sob o pretexto de protegê-los uns dos outros.” – Oscar Ameringer
- “A democracia é o processo que garante que não somos governados melhor do que merecemos.” – George Bernard Shaw
916# Facção sem Ficção – 24/05/25

Rodrigo Pimentel não é artista nem teórico de gabinete. É ex-capitão do BOPE, coautor de Tropa de Elite e um dos palestrantes mais impactantes do Brasil. Falo com propriedade — já o assisti duas vezes, e em ambas ele desmontou com precisão cirúrgica a ilusão de que o crime é apenas um problema de polícia. Ele fala com a autoridade de quem enfrentou a guerra urbana por dentro e teve a coragem de transformar vivência em denúncia. Pimentel expôs o que os relatórios oficiais jamais assumem: o inimigo nunca foi só o traficante. O verdadeiro inimigo é o sistema que alimenta, lucra e se protege com o caos.
O que talvez Pimentel não soubesse à época — ou preferiu não escancarar em filme — é que o sistema evoluiria. E o crime, esse sim, aprenderia a matemática melhor que qualquer governo. Deixou a guerra às drogas para trás. Descobriu que não precisa mais da Colômbia, dos fuzis nem da guerra. Hoje, o crime está no pão, no gás, na água, no Wi-Fi. E o Estado? O Estado... assiste.
Não combate. Não regula. Não intervém. No máximo, finge que não vê — porque ver exigiria fazer algo.
Criminalidade virou franquia estatal informal
Rodrigo Pimentel afirmou em uma de suas entrevistas recentes: “O narcotráfico perdeu importância. O crime aprendeu que controlar o consumo básico dá mais lucro com menos risco.”
Vamos ilustrar esse novo modelo com o que ele chama de “território dominado”. Imagine uma comunidade com 2.000 casas. Agora veja o que acontece quando o crime organiza — com precisão contábil — a exploração da rotina:
- Gatonet: R$ 100 por mês × 2.000 casas = R$ 200.000/mês = R$ 2.400.000/ano
- Gás (1 botijão): R$ 200 por mês × 2.000 casas = R$ 400.000/mês = R$ 4.800.000/ano
- Pão francês: R$ 10/kg × 1 kg/dia × 30 dias × 2.000 casas = R$ 600.000/mês = R$ 7.200.000/ano
- Água mineral: R$ 10 por galão × 10 galões/mês × 2.000 casas = R$ 200.000/mês = R$ 2.400.000/ano
- TV pirata: R$ 50 por mês × 2.000 casas = R$ 100.000/mês = R$ 1.200.000/ano
- Mototáxi: R$ 10 por viagem × 10 viagens/mês × 5.000 pessoas = R$ 500.000/mês = R$ 6.000.000/ano
Total estimado anual: R$ 24.000.000
Vinte e quatro milhões de reais. E estou falando em números conservadores, porque 2.000 casas dominadas pelo "Comando" não é nada... Sem plantar coca, sem cruzar fronteiras, sem enfrentar a Receita Federal. Só explorando o cotidiano de quem trabalha e tenta viver. E tudo isso sob a vigilância de um Estado que... nada faz.
A falência moral do poder público
Essa economia paralela não é segredo. Não é teoria. Está nas vielas, nos becos, nas ruas e comércios onde o "preço do botijão" não tem variação de mercado — só de comando local. E o governo, em vez de coibir, regula... a omissão.
Polícia entra quando é conveniente. Promotores atuam quando há holofote. Secretarias fingem planejar algo enquanto relatórios mofam nas gavetas. O poder público se tornou o estagiário da criminalidade: presente, mas inútil.
Se há um adjetivo que define a atuação do Estado diante desse fenômeno, é covarde.
Porque se o pão francês virou ativo financeiro de facção, a culpa não é da padaria ilegal. É de quem não fiscaliza. De quem não oferece alternativa. De quem desertou do território e ainda tem a audácia de chamar isso de “complexidade social”.
O tráfico virou amador perto do novo crime
O crime organizado aprendeu a lição que o governo nunca quis estudar: previsibilidade dá mais lucro que risco. Vender drogas envolve cadeia, guerra, logística e perda de carga. Vender gás dá lucro limpo — e recorrente.
Cada galão de água, cada pacotinho de pão, cada cabo coaxial virou unidade de receita. Um crime sem sangue. E, por isso, ainda mais eficiente. Porque não choca. Porque parece cotidiano. Porque, no fim do dia, chega na sua casa como qualquer outro serviço.
Só que com uma diferença brutal: o consumidor não tem escolha.
Tente instalar internet da Claro onde milícia vende gatonet. Tente comprar gás do caminhão legalizado onde o crime vende o próprio. Tente vender pão fora do esquema da padaria informal. A resposta vem. E não é via notificação. É via ameaças, extorsão ou exílio forçado.
O morador virou cliente. O cliente virou refém.
Milícia é empresa. E o Estado é sócio passivo.
Esse novo modelo não é apenas mais lucrativo. É mais estável. Mais escalável. Mais eficiente que qualquer startup da Faria Lima. A milícia opera como a única empresa brasileira com:
- Receita recorrente (modelo por assinatura)
- Ausência total de concorrência
- Logística própria e eficiente
- Equipe armada de cobrança
- Isenção tributária completa
- Apoio político implícito (ou explícito)
- Desemprego zero
- Inadimplência zero
- Fluxo de caixa sempre positivo
- Sem CLT
Só isso já seria um escândalo. Mas tem mais: atua sem regulação, sem fiscalização, sem compliance. E com uma vantagem brutal sobre qualquer outra organização — o monopólio da força. É um "negócio" blindado pela violência e legitimado pela omissão estatal.
Enquanto governos apertam MEIs por R$ 100 de ISS, fingem não ver um conglomerado informal que fatura milhões sob seus olhos. É o capitalismo do crime, com selo de ineficiência pública. E a cada mês que passa, o Estado entrega à milícia não apenas território — mas mercado, população e voto.
Não é falta de recurso. É falta de vontade. E, pior, é medo institucionalizado.
Rodrigo Pimentel avisou. O Brasil ignorou.
Quando Tropa de Elite 2 estreou, muita gente achou exagerado retratar milicianos como operadores políticos. Achou fantasioso imaginar que o crime poderia controlar eleições, verbas, contratos. Hoje, vemos vereadores eleitos com apoio de milícia. Vemos PMs aposentados virando donos de frota de mototáxi. Vemos traficante virando "empresário local".
Não é ficção. É projeto de poder.
Rodrigo Pimentel não filmou um roteiro. Ele filmou um aviso.
Mas o Brasil não quis escutar. Porque o Brasil só reage quando o tiro ecoa. Nunca quando o pão chega quente — e com preço de extorsão.
A nova escravidão: consumo sob coação
Antes, o crime matava para mostrar poder. Hoje, lucra para mostrar controle. A violência virou ferramenta secundária. A verdadeira opressão vem no boleto mensal — aquele que ninguém discute. Porque ele chega, é pago e desaparece.
Esse é o crime perfeito: não deixa rastro, não aciona alarme e ainda oferece troco.
E o cidadão, esse sim, paga três vezes:
- Com dinheiro — nos serviços dominados.
- Com medo — pela presença da milícia.
- Com silêncio — porque sabe que reclamar pode ser fatal.
Conclusão: ou o Estado ocupa, ou o crime incorpora
A equação está posta. O Estado brasileiro tem dois caminhos:
- Ocupar de fato os territórios — com serviço público, segurança e regulação.
- Continuar omisso — e ver o crime se tornar o novo gestor da periferia brasileira.
A cada dia sem ação, o governo concede ao crime o direito de administrar milhões de reais em serviços informais. E quando isso acontece, a linha entre autoridade e quadrilha se apaga.
Se não houver resposta imediata e inteligente, o que virá não será mais uma guerra às drogas. Será uma guerra contra um modelo de negócio que o Estado permitiu crescer — e que já fatura mais que muitas empresas listadas na B3.
Cinco frases para refletir:
- “A diferença entre sonho e delírio é a matemática.” – Vicente Falconi
- “O povo que elege corruptos não é vítima. É cúmplice.” – George Orwell
- “Se você acha que conhecimento é caro, experimente a ignorância.” – Derek Bok
- “A confiança é como uma borracha: a cada erro, ela diminui.” – Osvandré Lech
- “Quando o dinheiro acaba, o caráter entra em cena.” – Warren Buffett
917# Bukele vai eleger muita gente! – 27/04/25

El Salvador será lembrado como o país que enfrentou seus monstros e venceu. Mas também como o país que, ao vencer, mostrou ao mundo o custo real de trocar liberdade por ordem. Enquanto Nayib Bukele consolidava sua estratégia de ferro e constrangia o crime organizado a rastejar diante do Estado, o Brasil, em sua pressa crônica por soluções fáceis, transformava essa narrativa em fantasia eleitoral. O "modelo Bukele" virou discurso de palanque, meme de rede social, slogan de campanha. Mas há uma diferença brutal entre inspiração e ilusão: prometer um “Bukele brasileiro” não é apenas ignorância — é má-fé política de altíssimo calibre.
O Modelo Salvadorenho que o Brasil Jamais Poderia Copiar
O que Bukele implementou seria absolutamente impraticável no Brasil. A suspensão de garantias constitucionais, a construção de prisões-fortalezas, a decretação de estados de emergência ilimitados: tudo isso exigiria destruir não apenas a Constituição de 1988, mas também a arquitetura básica da federação brasileira. Aqui, governadores não têm autonomia para suspender direitos; presidentes não têm poder para ignorar o Congresso; e o Supremo Tribunal Federal jamais aceitaria passivamente a transformação do país em um estado policial.
Quem promete importar o modelo salvadorenho ao Brasil está vendendo uma fantasia que exige, para existir, a ruptura institucional que ninguém de fato está disposto a bancar.
Slogans Vendem; Realidade Cobra
É fácil vender a ideia de que basta endurecer leis, construir prisões e "botar ordem" para resolver a crise de segurança. É fácil — e intelectualmente desonesto. Se bastasse construir cadeias e endurecer penas, o Rio de Janeiro seria uma referência global em segurança pública. O que existe no Brasil é muito mais grave: uma teia de facções, milícias, corrupção política e captura de Estado. O crime não é apenas social: ele é institucionalizado.
Prometer "El Salvador no Brasil" sem enfrentar essa verdade estrutural é como oferecer aspirina para quem tem hemorragia interna. Impressiona no curto prazo — mas mata no longo.
Prisões Gigantes? Habeas Corpus em Série.
Mesmo que um político miraculoso conseguisse construir um CECOT no Brasil, as engrenagens jurídicas entrariam em ação antes mesmo do cimento secar. Cada prisão em massa seria seguida de habeas corpus, recursos judiciais, ações internacionais e decisões liminares anulando todo o processo. A máquina jurídica brasileira foi projetada para proteger o indivíduo a qualquer custo — inclusive quando esse indivíduo é um criminoso contumaz.
Goste-se ou não, é assim que o Estado de Direito opera aqui. Tentar fingir que o Brasil pode ser "El Salvador" sem demolir seu próprio sistema judicial é insultar a inteligência do eleitorado.
As Condições Que Não Existem — E Nunca Existirão
O sucesso de Bukele é fruto de um país pequeno, uma estrutura de poder centralizada, uma sociedade exaurida pela violência e disposta a aceitar a suspensão de direitos em troca de paz. O Brasil é o oposto: grande, fragmentado, atravessado por interesses corporativos, sindicais e regionais. Aqui, cada tentativa de endurecimento encontra resistência organizada: na mídia, nos tribunais, nas ONGs, nos bastidores da própria burocracia estatal.
Exportar o modelo salvadorenho seria tão viável quanto plantar bananeiras em Marte. Quem disser o contrário, ou nunca leu uma Constituição, ou confia que você também não leu.
O Verdadeiro Risco: O Estelionato da Segurança
O maior perigo não é termos um “Bukele brasileiro” — isso nunca acontecerá. O verdadeiro perigo é elegermos populistas que, depois de falharem em cumprir a fantasia vendida, apenas aprofundarão o ceticismo e abrirão espaço para soluções ainda piores: rupturas institucionais reais, aventuras golpistas disfarçadas de "clamor popular" ou simplesmente mais quatro anos de estagnação e violência crescente.
A promessa impossível gera decepção inevitável. E, no Brasil, a decepção política sempre foi a principal moeda de troca para projetos de poder oportunistas.
Segurança de Verdade Não Se Promete — Se Constrói
Combater o crime no Brasil exige algo muito mais difícil do que slogans: exige reformar profundamente a máquina pública, profissionalizar as polícias, endurecer penas dentro do devido processo, romper alianças espúrias entre política e crime, e blindar o Judiciário contra a corrupção e o ativismo irresponsável.
Nada disso cabe em vídeos de 30 segundos ou em discursos inflamados em cima de trios elétricos. Segurança real exige disciplina, planejamento e coragem de enfrentar privilégios. E, acima de tudo, exige líderes que falem a verdade — mesmo quando a verdade não rende curtidas.
Fantasia Tem Prazo de Validade
El Salvador esmagou suas gangs. Bukele mostrou que força organizada ainda pode fazer diferença. Mas o Brasil precisa entender que não basta repetir fórmulas de impacto rápido. Aqui, a batalha contra o crime é estrutural, complexa, lenta e dolorosa.
Prometer milagres fáceis é mais do que irresponsabilidade eleitoral — é um estelionato emocional contra um povo que já foi traído vezes demais. Se queremos segurança, precisamos parar de sonhar com salvadores da pátria e começar a exigir construtores de instituições. Porque segurança de verdade não é um decreto — é um projeto de país.
Cinco frases para refletir:
- “Disciplina é a ponte entre metas e realizações.” – Jim Rohn
- “A diferença entre o colapso e o progresso é a coragem de tomar decisões impopulares.” – Jack Welch
- “A segurança pública é a base de qualquer liberdade — mas jamais sua substituta.” – Anônimo
- “A coragem é a resistência ao medo, domínio do medo — não ausência do medo.” – Mark Twain
- “Grandes realizações nascem da ousadia de tentar — e da sabedoria de refletir.” – Anônimo
918# Mude o Mundo com Fatos – 18/04/25
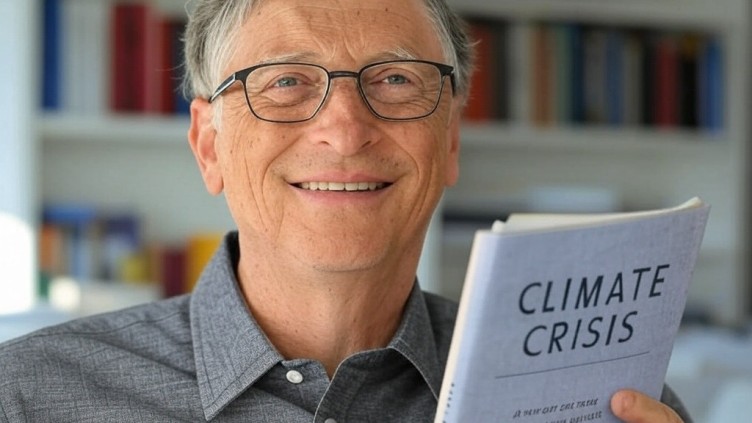
Quando o assunto é mudanças climáticas, o que mais vejo é romantização. Gente bem-intencionada falando de consumo consciente, sacola de pano, carro elétrico, e uma nova era de “conexão com a natureza”. Mas ninguém fala sobre o que realmente precisa ser feito. Sobre a conta que não fecha. Sobre as emissões que não param de subir enquanto fazemos posts sobre sustentabilidade. Até que veio Bill Gates e escreveu o livro mais sensato que já li sobre o tema.
“Como evitar um desastre climático” (link para o livro) não é um livro para agradar ambientalistas de rede social. É um livro para quem entende que pensar com pragmatismo é o primeiro passo para resolver qualquer problema complexo. Gates, como ele mesmo diz, pensa como engenheiro. E isso faz toda diferença.
Logo na introdução, ele apresenta os dois números que importam: 52 bilhões e zero. O primeiro representa as toneladas de gases de efeito estufa que emitimos por ano. O segundo é a meta obrigatória: zerar essas emissões se quisermos evitar as consequências mais graves da crise climática.
E o mais interessante é que Gates não se limita a repetir clichês sobre energia limpa. Ele parte de um ponto incômodo, mas real: as mesmas atividades que emitem carbono são as que tiram milhões da pobreza. Agricultura, construção, transporte, indústria. Reduzir emissões sem piorar a vida dos mais pobres é o dilema central do livro. E também o ponto que quase todo mundo prefere ignorar.
Durante suas visitas à África subsaariana e à Índia, Gates testemunhou a pobreza energética de perto: crianças estudando à luz de velas, mulheres caminhando horas para buscar lenha, postos de saúde sem energia para conservar vacinas. E ele entendeu o óbvio que muitos ambientalistas evitam dizer: não existe dignidade humana sem acesso a energia barata e confiável.
Esse é o ponto central. Não basta tornar a energia “verde”. Ela precisa ser verde e barata. Verde e confiável. Verde e acessível. Caso contrário, estaremos trocando um problema ecológico por uma catástrofe humanitária. Gates, diferentemente de muitos, não aceita essa troca. Ele quer as duas coisas: clima estável e desenvolvimento humano.
O livro é repleto de dados e analogias poderosas. Uma delas me marcou: ele compara o planeta a uma banheira. Mesmo que a torneira esteja apenas pingando, ela vai transbordar eventualmente. Reduzir emissões não é suficiente. É preciso zerar. Isso exige inovação radical, não soluções incrementais. Não vamos resolver esse problema apenas com mais painéis solares e carros elétricos. Precisamos de revolução tecnológica.
E aqui está um dos méritos do livro: Gates não vende esperança baseada em boa vontade. Ele aponta para a necessidade de tecnologias que ainda não existem ou que são, por enquanto, economicamente inviáveis. Armazenamento em larga escala, hidrogênio verde competitivo, cimento com baixa pegada de carbono, biocombustíveis de segunda geração, e até a energia nuclear — uma das únicas fontes com capacidade de escala, estabilidade e zero emissões.
Nesse ponto, ele também toca na ferida: a crença mágica de que “é só parar de consumir” ou “reduzir o plástico” vai salvar o planeta. Não vai. As emissões do setor elétrico representam apenas 26% do total. Eólica e solar, apesar de promissoras, ainda têm limitações técnicas graves: dependência do clima, baixa densidade energética e dificuldade de armazenamento. O restante — os outros 74% — vem da indústria pesada, transporte de carga, produção de aço, cimento, fertilizantes, refrigeração, desmatamento. E ninguém quer falar disso. Porque não dá like. Porque não cabe num tweet.
Ao contrário da retórica dominante, que exalta soluções locais como hortas urbanas, compostagem e dietas baseadas em quinoa, Gates propõe um plano global. Ele fala de políticas públicas sérias, incentivos fiscais bem desenhados, parcerias com o setor privado, fundos de capital de risco para energias limpas. Cita a Breakthrough Energy Coalition como exemplo: um grupo de investidores disposto a bancar tecnologias arriscadas, mas com alto potencial de impacto climático. E exige que os governos dobrem os investimentos em P&D — pesquisa e desenvolvimento — de energia limpa.
Outro ponto que chama atenção é como ele trata o tema com realismo econômico. Por exemplo: enquanto muitos defendem a substituição imediata de combustíveis fósseis, Gates lembra que países em desenvolvimento, como Índia, Indonésia ou Nigéria, ainda dependem do carvão por pura necessidade. O custo da energia renovável, mesmo em queda, ainda não é competitivo em muitas regiões. E propor uma transição sem viabilidade econômica é ignorar a realidade desses países. O resultado? Mais pobreza, mais desigualdade — e nenhuma redução de emissões.
Ele não se furta a temas polêmicos. Defende abertamente o uso da energia nuclear como ponte para a transição, critica a lentidão do multilateralismo climático e ironiza promessas vagas como “neutralidade de carbono até 2050” sem planos concretos. Diz com todas as letras: boas intenções sem execução são irrelevantes.
E é aí que sua mentalidade de engenheiro brilha. Ao contrário dos discursos românticos, Gates foca em custo do green premium — ou seja, quanto mais caro é produzir algo de forma sustentável em comparação ao método tradicional. Ele sugere que a única maneira de viabilizar a transição é reduzir esse custo adicional até torná-lo competitivo. Isso se faz com escala, inovação e políticas certas.
O mais fascinante é que ele faz tudo isso sem arrogância. Ao longo do livro, Gates reconhece que ainda está aprendendo, que cometeu erros e que nem sempre enxergou o problema completo. Sua humildade intelectual dá força ao argumento. Não há tom de superioridade. Só clareza e urgência.
Ler esse livro é um alívio. Porque finalmente encontrei um autor que fala do futuro com realismo, e não com slogans. Que reconhece os limites da tecnologia atual, mas aposta no poder da ciência para superá-los. Que entende que a sustentabilidade de verdade precisa incluir os pobres na equação. E que não tem medo de dizer que o caminho é difícil, mas não é opcional.
E se há algo que Gates ensina melhor do que qualquer outro autor que já li sobre clima é isso: não existe solução sem sistema. Não há mágica. Não há planeta B. Ou construímos um sistema energético novo — do zero, limpo e acessível — ou seremos apenas observadores bem-intencionados do próprio colapso.
Ainda estou na metade da leitura. Mas já posso dizer: se você quer entender a crise climática sem filtros ideológicos, comece por aqui. Porque romantizar o colapso é fácil. O difícil é encarar o problema como ele é e, ainda assim, manter a esperança.
Apesar de não gostar da "persona" Bill Gates, tenho que admitir que ele fez isso com maestria.
Frases que dialogam com quem quer pensar:
- "Se você quer mudar o mundo, comece pelos fatos." – Bill Gates
- "A maior de todas as ignorâncias é rejeitar algo sobre o qual você nada sabe." – Anthony Robbins
- "Não basta pensar fora da caixa. É preciso redesenhar a caixa inteira." – Henry Ford
- "Quem pensa pequeno diante de um problema gigante, só alimenta a tragédia." – Osvandré Lech
- "As soluções mais elegantes não estão no discurso, estão na engenharia." – Marilise Lech
919# Número tirado do (__*__)

“Se você quer o impossível, só um mentiroso promete te entregar.” E se você quer um exemplo perfeito dessa frase em ação, basta olhar para as estimativas da ONU — a entidade que adora relatórios bem diagramados, eventos com canapés e metas tão realistas quanto unicórnios em Brasília. Em 2023, a ONU anunciou que 6 bilhões de dólares seriam suficientes para resolver a fome no mundo. Para quem acredita nisso, recomendo cautela: há um limite entre esperança e ingenuidade, e essa linha foi ultrapassada com estilo.
Seis bilhões de dólares não resolvem sequer o déficit de infraestrutura de algumas cidades brasileiras, mas, segundo a ONU, seriam capazes de solucionar um dos problemas mais complexos da humanidade. Uma estimativa desse tipo não é só otimista; é aritmética tirada do (__*__).
O Milagre de PowerPoint
A ideia tem apelo emocional. Dá manchete. Mobiliza. Gera compartilhamento. Mas a realidade é outra: a fome mundial é um fenômeno estrutural que envolve conflito, corrupção, logística, clima, governança, tecnologia e economia. Não existe solução mágica — e muito menos solução barata.
Elon Musk, com seu habitual sarcasmo pragmático, chegou a declarar que doaria os 6 bilhões, desde que a ONU apresentasse um plano detalhado e auditável. Spoiler: Musk está esperando até agora. Porque nem a própria ONU conseguiu explicar como esse número saiu da cartola institucional.
O Mundo Real Tem Outra Conta
Uma estimativa séria — ainda otimista — seria algo assim:
- Assistência Alimentar Imediata: US$ 1,64 trilhão por ano (900 milhões de pessoas × US$ 5/dia).
- Desenvolvimento Agrícola: US$ 500 bilhões por 10 anos.
- Infraestrutura e Logística: US$ 500 bilhões por 10 anos.
Total realista: aproximadamente 18 trilhões de dólares. Quase 3.000 vezes mais do que a ONU divulgou. Meia década de PIB brasileiro.
A Fome Não É Falta de Comida — É Falta de Vergonha
A ONU evita admitir o que qualquer especialista sério sabe: a fome é um fenômeno político. Em muitos países, comida é arma de guerra, instrumento de chantagem ou fonte de corrupção. Em outros, a incompetência estatal destrói a capacidade de produção e distribuição. Mas isso não aparece nos relatórios. É mais fácil vender esperança em PDF.
A Estimativa Que Vira Propaganda
Dizer que 6 bilhões resolvem a fome é intelectualmente desonesto. É transformar um drama humano em marketing institucional. É reduzir um problema multicausal a uma cifra de efeito — e pior: desinformar a opinião pública.
Conclusão: Um Número para Enganar Desavisados
A ONU vende o sonho de que o problema é falta de dinheiro. Não é. O problema é falta de coragem, gestão, governança e responsabilidade internacional. Resolver a fome exige reformas profundas, décadas de trabalho e enfrentamento político. Mas isso não cabe em uma manchete inspiradora.
Frases para Refletir
- “A matemática não negocia com promessas.” – Anthony Robbins
- “Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade.” – Ayn Rand
- “Quando a realidade atrapalha, vira-se contra ela. E chama-se isso de governança.” – Osvandré Lech
- “Nada é mais perigoso do que uma solução simplista para um problema complexo.” – Marilise B. Lech
- “O mais perigoso não é o erro, é a convicção com que ele é defendido.” – Osvandré Lech
920# O Tripé do Verdadeiro Poder: Liderança, Método e Conhecimento do Processo – 29/01/25

Nas últimas décadas, empresas ao redor do mundo têm buscado incansavelmente uma fórmula infalível para o sucesso. Modelos de gestão inovadores, metodologias de eficiência e tecnologias de ponta são apresentados como a solução definitiva para qualquer desafio organizacional. Mas será que existe um método capaz de garantir resultados sem a presença de líderes eficazes e profissionais capacitados?
Vicente Falconi, um dos maiores especialistas em gestão do Brasil, responde essa questão de forma categórica: não há sucesso sustentável sem o equilíbrio entre três fatores essenciais: Liderança, Método e Conhecimento Técnico. Esse tripé do verdadeiro poder é a base de qualquer organização que deseja alcançar resultados consistentes e duradouros. E quando uma empresa negligencia um desses pilares? O colapso se torna inevitável.
O Tripé do Sucesso
Segundo Falconi, existem três elementos fundamentais para garantir resultados:
- Liderança: é o que faz as coisas acontecerem. Sem liderança, não há direcionamento, propósito ou execução eficiente.
- Método: é o caminho estruturado para alcançar metas. Ele evita a improvisação e dá previsibilidade às operações.
- Conhecimento Técnico: é a expertise necessária para transformar planos em realidade. Sem isso, mesmo o melhor método se torna inútil.
Esses três fatores não são independentes. Uma empresa pode ter um método altamente estruturado, mas sem líderes competentes e conhecimento técnico, os processos falham. Da mesma forma, um líder inspirador pode motivar sua equipe, mas sem um método adequado e sem especialistas que saibam o que fazer, os resultados não vêm.
Vamos analisar um caso real de como a negligência a esse tripé levou uma empresa ao fracasso.
Quando o Método se Torna uma Armadilha
Uma empresa promissora implementou um modelo de gestão inovador, baseado em processos bem definidos, indicadores de desempenho precisos e ferramentas tecnológicas de última geração. No papel, tudo parecia perfeito.
Encantada com a eficiência dos novos processos, a empresa começou a acreditar que o método era autossuficiente. Nessa mentalidade, os gestores passaram a considerar que não precisavam mais de líderes experientes para tomar decisões estratégicas, nem de especialistas técnicos para adaptar os processos à realidade. Afinal, o método garantiria o sucesso por si só, certo?
Errado.
A ausência de liderança começou a ser sentida nos momentos de crise. Pequenos problemas operacionais passaram despercebidos, pois não havia ninguém para analisar os dados além do que estava descrito nos manuais. O conhecimento técnico foi gradualmente perdido à medida que especialistas foram substituídos por operadores que apenas seguiam scripts.
O resultado? Os processos começaram a falhar, os indicadores de desempenho despencaram e a equipe ficou desmotivada. A empresa, antes vista como um modelo de eficiência, se tornou um exemplo de burocracia disfuncional, onde as pessoas seguiam regras sem entender seu propósito.
Sem liderança para adaptar o método e sem conhecimento técnico para ajustar os processos, o sistema entrou em colapso.
Liderança: o Motor do Sucesso
No livro O Verdadeiro Poder, Falconi deixa claro: “Liderança não é um cargo, é um papel.” Um verdadeiro líder não apenas gerencia processos, mas guia pessoas, inspira times e garante que a estratégia seja aplicada corretamente.
Liderar não significa dar ordens, mas sim transformar um objetivo em realidade, garantindo que todos saibam o que fazer e por quê. Para isso, Falconi reforça três competências essenciais de um líder:
- Bater metas consistentemente (um líder que não entrega resultados não é líder).
- Desenvolver sua equipe continuamente (o sucesso sustentável só acontece quando as pessoas crescem).
- Fazer certo e inspirar pelo exemplo (ética e disciplina são pilares da liderança eficaz).
No caso da empresa citada, a ausência de liderança foi um fator decisivo para seu declínio. Sem alguém para desafiar as regras e tomar decisões estratégicas, o método, que deveria ser uma ferramenta, tornou-se uma jaula burocrática.
O Método: o Caminho para o Resultado
Falconi enfatiza que “Gestão é método”. Se gerenciar é buscar resultados, é impossível fazer isso sem um caminho estruturado.
O método tem um papel fundamental na previsibilidade dos resultados, pois reduz a variabilidade, melhora a eficiência e estabelece um padrão de excelência. Empresas que não utilizam métodos estruturados trabalham de forma reativa, sempre “apagando incêndios”, em vez de planejar e prevenir problemas.
Entretanto, um erro comum das organizações é acreditar que o método, sozinho, pode substituir o conhecimento técnico e a liderança. O caso da empresa em colapso ilustra bem esse perigo: processos impecáveis, mas sem inteligência para aplicá-los corretamente.
Para evitar esse erro, é essencial garantir que o método seja flexível e que haja profissionais capacitados para aplicá-lo corretamente. E isso nos leva ao terceiro pilar: o conhecimento técnico.
Conhecimento Técnico: o Alicerce da Execução
Sem conhecimento técnico, o método se torna um conjunto de regras cegas e a liderança perde embasamento para tomar decisões estratégicas.
Falconi destaca que o conhecimento técnico precisa ser continuamente atualizado e aprimorado. Em um mundo onde a tecnologia evolui rapidamente, quem não aprende constantemente fica para trás.
A empresa da nossa história cometeu um erro clássico: acreditou que processos bem documentados substituíam a necessidade de especialistas. Como resultado, os problemas se acumularam, pois ninguém sabia como resolver falhas fora do escopo do manual.
O conhecimento técnico deve estar presente em todos os níveis da organização, não apenas nos cargos superiores. Isso garante que, mesmo nas atividades operacionais, as decisões sejam tomadas com base em entendimento real dos processos.
Conclusão: o Equilíbrio do Tripé
O caso da empresa que fracassou e o exemplo das que prosperam reforçam uma verdade fundamental: não existe sucesso sustentável sem equilíbrio entre Liderança, Método e Conhecimento Técnico.
- Um método sem liderança se torna engessado e burocrático.
- Uma liderança sem método se perde em improvisação.
- Conhecimento técnico sem método e liderança resulta em desperdício de talento.
A pergunta que fica é: sua empresa está equilibrando esses três pilares ou correndo o risco de desmoronar?
Frases inteligentes para reflexão
- "Liderança não é posição, é ação." – Donald McGannon
- "Método sem conhecimento técnico é como um barco sem leme." – Vicente Falconi
- "As empresas mais bem-sucedidas não são as que seguem um método, mas as que sabem quando adaptá-lo." – Peter Drucker
- "O conhecimento não tem valor se não for aplicado na prática." – W. Edwards Deming
- "Quem pensa que liderança é só sobre poder, ainda não entendeu nada sobre liderança." – Simon Sinek
921# Sabemos o Perigo, Por Que Ainda Erramos?

É um fenômeno intrigante: todos conhecem os riscos do excesso de velocidade, mas ainda assim há acidentes diários. Fumar pode matar, mas milhões continuam consumindo cigarros. No ambiente de trabalho, regras de segurança são ignoradas, mesmo por quem já testemunhou tragédias. Se sabemos das consequências, por que insistimos no erro?
A resposta envolve comportamento humano, psicologia do risco e a forma como o cérebro processa ameaças. Os acidentes não acontecem apenas por ignorância — acontecem porque a mente humana subestima perigos conhecidos e superestima sua própria capacidade de evitá-los.
1. O Paradoxo da Experiência
Há um ditado que diz: “A confiança mata mais do que a ignorância.” Um motorista novato é cauteloso. Um experiente se sente invencível. A NASA viveu isso no desastre do Challenger em 1986: sinais de alerta foram ignorados porque “nada tinha dado errado antes”. Com o tempo, a ausência de problemas vira justificativa para baixar a guarda — até que o preço aparece.
2. O Efeito “Isso Não Vai Acontecer Comigo”
Nosso cérebro é péssimo em probabilidades. O viés de otimismo faz com que todos pensem que o pior acontece “com os outros”. Por isso dirigimos distraídos, ignoramos exames médicos e negligenciamos EPIs. Mas a estatística não faz distinções. O risco é democrático.
3. A Pressão do Tempo e o Custo da Segurança
Seguir normas demanda tempo. E muitas empresas recompensam a velocidade, não a prudência. A tragédia de Brumadinho mostra o resultado de adiar correções porque “custa caro”. Atalhos parecem vantajosos no curto prazo — até que explodem no longo prazo.
4. Quando o Erro Dá Certo, o Cérebro Recompensa
Este é o paradoxo mais perigoso: quando alguém quebra uma regra e nada acontece, o cérebro interpreta como vitória. A prática vira hábito. O piloto do maior acidente aéreo da história (Tenerife, 1977) já havia ignorado protocolos antes. Até o dia em que 583 pessoas morreram.
5. O Efeito Multidão
Quando todos fazem algo errado, aquilo passa a parecer certo. Em um canteiro onde ninguém usa capacete, o novo funcionário seguirá a maioria. A normalização do desvio torna o absurdo invisível. O perigo permanece — nós é que deixamos de percebê-lo.
Conclusão: Como Quebrar o Ciclo?
Acidentes não acontecem por falta de informação. Acontecem porque o cérebro humano, a cultura social e a pressão diária nos empurram para comportamentos arriscados. A prevenção real exige:
- Reforçar constantemente a memória do risco.
- Criar uma cultura de segurança que não dependa de fiscalização.
- Tornar visível quando um erro “deu certo” por sorte.
- Eliminar recompensas para quem burla processos.
- Promover responsabilidade coletiva.
No fim das contas, saber do risco não basta. O que muda o jogo são sistemas que impedem o ser humano de subestimar o perigo.
Frases para Refletir
- "O perigo é real, mas o medo é uma escolha." – Will Smith
- "A negligência custa mais caro do que a precaução." – Benjamin Franklin
- "O conhecimento nos dá poder, mas só a ação nos dá resultados." – Dale Carnegie
- "Segurança não é algo para ser lembrado, é um hábito para ser cultivado." – Anônimo
- "A tragédia não acontece de uma vez. Ela se constrói nas pequenas falhas ignoradas todos os dias." – Nassim Taleb
922# A bolha da internet — 18/11/25

A internet já foi promessa de utopia. No final dos anos 90, ela era vendida como o novo Éden digital. Não apenas uma revolução tecnológica — mas uma reinvenção da economia, da sociedade e das relações humanas. Bastava registrar um domínio, colocar um ".com" no nome e pronto: o futuro estava garantido. Investidores enchiam salas com planilhas que não previam lucro, apenas crescimento exponencial. E quanto mais vazia era a entrega, mais hipnótica se tornava a projeção.
A Nasdaq virou parque de diversões para capital de risco. Startups que não tinham produto, receita ou modelo validado valiam bilhões. Amazon ainda vendia livros. Google era só um site limpo com uma barra de busca. O YouTube nem existia. Mas a euforia era tamanha que empresas como eToys, Kozmo, Webvan, Pets.com e a famigerada Boo.com foram tratadas como gigantes inevitáveis. Hoje, são apenas notas de rodapé na Wikipédia — quando muito.
A bolha estourou em 2000. E com ela, milhares de empregos, bilhões em valor de mercado e toda uma geração de ilusões. O que era considerado inovação virou piada de salão. A Webvan prometia entregar mantimentos em uma hora — quebrou devendo quase US$ 1 bilhão. A Boo.com gastou mais de US$ 135 milhões em 18 meses sem vender nada de relevante. A eToys tinha bonecos no estoque, mas zero de fluxo de caixa. E a Pets.com, símbolo máximo do excesso, chegou a comprar um espaço publicitário no Super Bowl sem ter sequer um plano logístico sustentável.
Mas o que esses casos revelam não é apenas um erro de cálculo. É uma patologia sistêmica: a crença cega de que tecnologia substitui realidade. Que código vale mais que competência. Que ideia basta. Não bastava. E nunca bastará. O mercado digital é veloz, mas não é imune à gravidade. Leis econômicas não desaparecem com Wi-Fi.
O mais curioso é que, mesmo com a explosão da bolha, a internet venceu. Amazon não só sobreviveu — moldou o consumo do século. O Google virou verbo. O Facebook nasceu depois da queda, no meio dos escombros, e se tornou império. Ou seja, o erro não foi a internet. Foi a euforia. Foi tratar exceção como regra, marketing como modelo, hype como estrutura. A bolha não matou a web — depurou.
A verdade? A internet não fracassou. Mas a ilusão coletiva de que bastava estar online para vencer... essa, sim, explodiu. No fim, o que ficou foi a regra darwiniana: quem se adapta, fica. Quem performa, cresce. O resto vira 404.
“A sobrevivência não é do mais forte, mas do que melhor se adapta à mudança.” — Charles Darwin
“Ideias são fáceis. A execução é tudo.” — Steve Jobs
“O fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo com mais inteligência.” — Henry Ford
“O verdadeiro valor de uma empresa está na solução que ela entrega, não na história que ela conta.” — Jim Rohn
“A internet não muda o jogo — ela só acelera os erros.” — Danilo Barba
923# Pense duas vezes antes de criticar - 21/11/25

O que aconteceu com a COP30 em Belém vai muito além de um evento mal organizado. É um retrato perfeito de como tratar mal seu cliente, fracassar na entrega e ainda sair ofendido quando o cliente ousa reclamar. Essa inversão de lógica, comum na má prestação de serviços públicos, também acontece diariamente no ambiente corporativo — com a mesma combinação tóxica: incompetência operacional, vaidade institucional e cegueira estratégica.
A COP30 foi vendida como a “maior de todas”, um evento climático histórico, vitrine do Brasil sustentável. Mas entregou escassez de água, apagões, geradores a diesel (o maior símbolo da contradição ecológica), ar-condicionado colapsado, filas por comida, preços absurdos e a cereja no bolo: um incêndio em um dos estandes. Não foi descuido. Foi subestimação do desafio. Belém é uma cidade de importância estratégica na Amazônia, mas todos sabiam que sua infraestrutura não comportava um evento dessa magnitude sem um plano sério e prévio de mobilização nacional. Não houve esse plano. Houve só propaganda.
E quando o “cliente internacional” apontou as falhas — como fez o chanceler alemão Friedrich Merz, ao dizer que foi um alívio voltar para a Alemanha e que finalmente compreendeu como Berlim é agradável — a resposta do “fornecedor Brasil” foi a de um vendedor orgulhoso que culpa o cliente por não saber apreciar o produto. Pior ainda: o presidente Lula, em tom de desdém, declarou que “Berlim não é 10% do Pará”. É o tipo de defesa que só agrava o estrago. Quando o fornecedor se ofende em vez de escutar, o problema deixa de ser técnico e vira cultural.
Na gestão empresarial, esse comportamento destrói relações. O cliente que reclama é uma dádiva — porque está te oferecendo uma chance de melhorar. Ignorá-lo ou atacá-lo revela não apenas despreparo, mas arrogância. Empresas que não suportam feedback são as que mais perdem mercado. E governos que reagem com patriotada a críticas legítimas mostram que confundem identidade nacional com incapacidade de escutar.
Essa mesma lógica perversa está nas empresas onde líderes se dizem “abertos ao diálogo”, mas retaliam quem aponta falhas. Onde se celebra “excelência”, mas qualquer tentativa de elevar padrões vira afronta pessoal. Onde a estrutura é frágil, mas a vaidade é inabalável. É a cultura do verniz sem fundação. Do discurso bonito colado sobre o improviso rotineiro.
A verdade incômoda é que a COP30 foi um fracasso para quem esperava impacto, excelência e legado. Mas foi um sucesso absoluto para quem lucrava com a execução. As licitações foram vencidas, os aditivos assinados, os contratos pagos. E como sempre: o delivery não importa tanto quanto o faturamento. O evento virou negócio. E o planeta? Virou desculpa.
Empresas e governos precisam entender: entregar mal e culpar o cliente é o atalho mais curto para perder relevância. Porque, no final, ninguém volta a comprar de quem desdenha da crítica. E ninguém respeita quem responde a falhas com patriotismo de ocasião.
Se um cliente internacional saiu de Belém com saudade de Berlim, o erro não está no gosto do cliente. Está na entrega do anfitrião. E isso vale para qualquer marca, país ou gestor que tenha vergonha na cara.
“A culpa é do produto, não do cliente.” — Jeffrey Gitomer
“Quem ignora críticas está condenando a si mesmo.” — Bill Gates
“A arrogância é a armadilha do fracasso.” — Jim Rohn
“Uma marca é o que dizem dela quando você não está na sala.” — Jeff Bezos
“Quem fecha os ouvidos ao feedback, fecha a porta do crescimento.” — Mario Henrique Meireles
924# Você Não É Todo Mundo! - 22/11/25

Quem já não ouviu essa frase na adolescência quando queria ir em uma festa, ou em algum lugar não muito ortodoxo? Pois é, essa frase, muito usada por nossas mães, carregava uma tese inteira de comportamento: “Você não é todo mundo”. E talvez não haja melhor conselho para quem pisa pela primeira vez num ambiente de trabalho — ou para quem está atolado nele há anos sem perceber. A frase, dita com tom de bronca, é um manifesto contra o conformismo. Contra a tendência animalesca de seguir a manada, abaixar a cabeça, andar em linha reta porque todo mundo está indo.
E o problema é exatamente esse: a maioria vai. Não por consciência, mas por inércia. No trabalho, isso se revela em detalhes. Gente que chega no horário certo, faz só o necessário, cumpre tarefa sem olhar propósito, evita problema, corre de responsabilidade e depois reclama — que ganha pouco, que não é reconhecido, que ninguém valoriza. Só que não percebe que não se diferencia em nada. Não entrega mais, não pensa além, não desafia padrão. Está ali — invisível — como massa cinza de um sistema que premia a conveniência e esquece o esforço.
Se eu tivesse seguido essa lógica, hoje talvez estivesse empacotando caixas de Maizena ou lavando banheiro da fábrica onde comecei. Era o que a função oferecia. Era o que a maioria aceitava. Mas eu não aceitei. Não por arrogância. Mas porque essa frase me empurrava por dentro. Eu não era todo mundo. E por não ser, trabalhei diferente. Entreguei mais. Estudei mais. Aguentei mais. Mordi a língua, engoli vaidade, executei tarefa que ninguém queria — tudo pra sair do ponto onde a maioria estaciona.
Porque é aí que mora a diferença: o trabalhador médio olha o salário e entrega proporcionalmente. O trabalhador que cresce olha o caminho — e entrega acima. Não porque é mais esperto, mais sortudo ou mais querido pelo chefe. Mas porque entendeu que o mundo não vai ajustar o jogo ao seu favor. E que se você não se destacar, vai desaparecer na estatística.
A frase “Você não é todo mundo” é, portanto, um chamado à insubmissão produtiva. À desobediência silenciosa ao pacto da mediocridade. Aquele que diz “não faz muito senão vão esperar isso sempre”. Esse pacto é o que sabota carreiras, sufoca talentos e adia promoções. Porque nivela todos por baixo. E pune quem entrega por mérito. O mercado não é perfeito — longe disso. Mas ainda recompensa quem se posiciona fora da curva. Quem se recusa a fazer o mínimo. Quem entende que comportamento de manada só leva... até o pasto.
Se você está começando sua jornada profissional, decore essa frase como mantra. Escreva no espelho, no caderno, no crachá. E principalmente: incorpore no comportamento. Quando te chamarem de exagerado, perfeccionista ou "funcionário padrão" — sorria. Porque você já entendeu o que eles ainda não: quem age como todo mundo, termina como todo mundo.
“Mediocridade é uma escolha. Excelência também.” — Jim Rohn
“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.” — Winston Churchill
“O mundo recompensa quem entrega, não quem espera.” — Robert Kiyosaki
“Disciplina é a ponte entre metas e realizações.” — Stephen Covey
“Seja insubstituível. Seja tão bom que não possam te ignorar.” — Steve Martin
925# Bolha.AI? – 30/06/25

A bolha da inteligência artificial não está no futuro. Está em curso. E talvez o maior sintoma seja a OpenAI. Ela virou o coração de um ecossistema que não respira lucro — respira fé. Com um faturamento estimado entre 13 e 20 bilhões de dólares, a empresa já assumiu compromissos que beiram 1,4 trilhão. É como se um camelô com loja lotada dissesse que vai construir um shopping em Marte — sem projeto, sem fluxo e sem contador.
Quando confrontado sobre isso, Sam Altman — CEO da OpenAI — respondeu com ironia: “Se quiser vender suas ações, encontramos comprador.” Um blefe travestido de confiança. A mesma retórica que Eike Batista usava quando vendia sonhos em série com nomes terminados em “X”. As empresas do Eike também eram promessas escaláveis com valuations bilionários. Até o dia em que se percebeu que não havia petróleo, só PowerPoint.
A analogia não é exagero. A OpenAI se tornou a “empresa X” da era digital. Apoiada por big techs, alimentada por usuários gratuitos e sustentada por uma narrativa de disrupção que ignora a pergunta básica: quem está pagando essa conta? Hoje, estima-se que apenas 5% dos usuários do ChatGPT sejam assinantes. O restante é fumaça — ou melhor, custo.
Enquanto isso, o Capex das gigantes da tecnologia disparou. Microsoft, Meta, Google, Amazon e Oracle já colocaram mais de 350 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, quase todos direcionados à infraestrutura de IA. A Nvidia fatura como nunca. Mas por trás desse crescimento está um único motor: a crença de que a OpenAI vai gerar uma demanda infinita. O problema? Crença não fecha balanço.
Michael Burry, o homem que previu a crise de 2008, já avisou: a bolha está aí. E o pino é a OpenAI. A pergunta não é “vai estourar?”. A pergunta é: quem será o último a perceber?
“As bolhas não estouram por falta de ar. Estouram por excesso de ilusão.” — Danilo Barba
“Você só descobre quem está nadando pelado quando a maré baixa.” — Warren Buffett
“A arrogância é o anestésico que impede de sentir o fracasso se aproximando.” — Jim Rohn
“O sucesso é um péssimo professor. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que não podem perder.” — Bill Gates
“Empresas sólidas não precisam de discurso. Precisam de números.” — Henry Ford
926# Se em Fukushima foi assim...

O que explodiu em Fukushima não foi só hidrogênio. Foi a ilusão de controle. Foi a cultura de silêncio. Foi o modelo mental que troca engenharia por obediência. Aquela usina estava fadada ao colapso desde o momento em que foi projetada. Só precisava do gatilho. Ele veio em forma de tsunami. Mas o desastre foi anterior. Foi a escolha deliberada de fingir que risco não existe quando não se quer pagar o custo de enfrentá-lo (link).
Durante anos, os técnicos sabiam. Os mapas sabiam. Os registros sísmicos gritavam. Mas os relatórios continuavam afirmando que o muro de contenção era suficiente, que os geradores de emergência funcionariam, que os sistemas de backup dariam conta (link). É o tipo de otimismo técnico que só existe em planilha — e que costuma matar quando vai pro mundo real. Porque em Fukushima, a redundância foi só uma desculpa para manter tudo como estava. Backup posicionado no mesmo nível dos sistemas primários? Isso não é segurança. É roteiro de tragédia (link).
Não foi falta de recurso. Foi falta de coragem. A usina foi construída ignorando alertas históricos (link). E foi operada por uma empresa — a TEPCO — que preferia reputação à revisão, previsibilidade à prevenção (link).
Durante os testes, tudo funcionava. Durante o terremoto, tudo parou. A energia acabou. Os geradores falharam (link). As baterias duraram 8 horas. E depois disso, o que sobrou foi reator fervendo, núcleo fundindo, prédio explodindo, e gente tentando descobrir o que fazer com meia dúzia de sensores desligados. Aquilo não foi crise. Foi a fatura de anos de autossabotagem técnica (link).
O relatório oficial foi direto: “desastre criado pelo homem” (link). Não foi erro. Foi escolha. Escolheram não subir o muro. Escolheram não revisar os riscos sísmicos. Escolheram não realocar geradores. Escolheram não treinar operadores para o pior. E quando tudo falhou, escolheram demorar para contar (link). O Japão, referência em disciplina e engenharia, ficou paralisado pela própria hierarquia. A decisão de liberar pressão nos reatores levou horas. Horas que custaram vidas, território e confiança internacional. Porque ninguém queria ser o primeiro a admitir que a usina estava fora de controle.
O que é mais revelador — e mais incômodo — é que essa falha não foi técnica. Foi institucional. Os sistemas estavam obsoletos porque ninguém queria enfrentar o impacto de atualizá-los (link). Porque admitir o risco implicava reestruturar o negócio. E todo engenheiro que apontava as fragilidades era convidado a revisar seu tom. A técnica foi sufocada pela governança. A verdade virou ruído. E a segurança foi reduzida a ritual de autoengano.
É isso que Fukushima ensina: que sistemas complexos não falham por acaso. Eles falham em câmera lenta. Começam com a cultura que premia o silêncio (link). Com o gestor que prefere estabilidade a desconforto. Com a empresa que terceiriza responsabilidade para o protocolo. E com o protocolo que só funciona enquanto nada dá errado. Depois disso, ninguém sabe o que fazer. Porque nunca foi permitido simular o colapso.
E aqui está o ponto mais brutal: a engenharia sabia. Mas não podia falar. Não havia espaço para dissenso. E toda organização que suprime o dissenso técnico cria uma bolha de certeza burra. A pior de todas. Porque ela não resiste ao improvável. E o improvável, como aprendemos, não pede licença. O tsunami não foi surpresa. Foi a variável ignorada (link). E a planta, que se vendia como símbolo de tecnologia limpa e segura, virou um buraco radioativo que vai custar gerações.
Explodiram os reatores. Mas o que realmente colapsou foi a ideia de que protocolos são suficientes quando a cultura é fraca (link). Fukushima foi o retrato do que acontece quando ninguém quer bancar a pergunta incômoda: “e se tudo der errado?” Porque a resposta exige mais do que plano de contingência. Exige caráter institucional. E isso não se constrói com organograma. Se constrói com desconforto — aquele que ninguém quis ouvir.
Frases para Refletir
- “O maior inimigo da segurança é o conforto institucional.” — Mario Henrique Meireles
- “Redundância não é solução quando todas as cópias falham igual.” — RXO
- “A arrogância precede a explosão.” — Richard Feynman
- “Toda falha anunciada só precisa de um empurrão.” — Henry Petroski
- “O silêncio técnico é ruído de gestão.” — Charles Perrow
927# Qual a maior arma de Guerra dos EUA?

Não é o porta-aviões. Nem o bombardeiro B2. Tampouco os mísseis nucleares, ou mesmo o Pentágono. A maior arma de guerra dos Estados Unidos não tem blindagem, não ruge, não sobrevoa territórios. Ela não causa impacto físico imediato, mas domina o mundo todos os dias — com silêncio, com contratos, com algoritmos e com juros. A maior arma dos EUA está impressa em papel e chama-se dólar.
E o mais impressionante? O planeta inteiro aceitou essa arma não somente pela força, mas por conveniência.
O dólar não se impôs. Foi oferecido como solução. Em 1944, Bretton Woods selou o pacto: o dólar seria lastreado em ouro, e todas as outras moedas do mundo teriam ele como referência. Era um sistema de confiança tangível. Um dólar valia 35 g de ouro. O mundo respirou aliviado: finalmente, estabilidade. Mas estabilidade para quem?
Logo ficou claro: só os Estados Unidos podiam imprimir essa moeda. E mais: podiam comprar com ela o que quisessem, de qualquer país, a qualquer hora. O ouro dava o suporte. Mas o privilégio... estava na impressora.
A armadilha estava montada.
Ao longo das décadas seguintes, os EUA fizeram o que qualquer império faria com essa vantagem: abusaram. Financiaram guerras, déficit fiscal, expansão militar e consumo doméstico em escala inédita. Tudo com papel pintado. O resto do mundo? Trocava suor, petróleo, carros, eletrônicos e matéria-prima por promessas verdes com rosto de ex-presidente.
Até que em 1971, Nixon acabou com o teatrinho: rompeu o lastro com o ouro. O dólar virou, oficialmente, um pedaço de papel fiduciário — sustentado não por metal, mas por poder. Por força militar, controle de rotas comerciais, influência diplomática e, principalmente, por dívida aceita globalmente.
E aí mora a Sagacidade.
Ao transformar o dólar em padrão global, os EUA criaram uma dependência invisível. Quem exporta quer dólar. Quem importa, também. Quem empresta, compra, investe ou financia... idem. O dólar virou o oxigênio da economia mundial. Bancos centrais, empresas, fundos soberanos: todos precisam dessa moeda. E por isso, aceitam as regras de quem a imprime. O que parecia apenas um arranjo financeiro virou um instrumento de poder absoluto.
Se um país desobedece os interesses americanos? Ele é desconectado do SWIFT. Sofre sanções. Fica sem crédito. As reservas evaporam. E os EUA nem precisam disparar um tiro. Basta apertar um botão no Tesouro, no FED ou em Wall Street.
É guerra. Mas uma guerra limpa. Silenciosa. Legalizada. Uma guerra de liquidez.
E os soldados dessa guerra não usam uniforme. Vestem terno. Trabalham no FED, no FMI, no Banco Mundial. Espalham narrativas. Protegem o sistema. Definem quem pode imprimir dinheiro sem punição e quem vai pagar juros eternamente.
Não se trata apenas de economia. Trata-se de projeção de poder.
O livro SoftWar, de Jason Lowery, define um novo conceito de guerra baseada não mais em tanques, mas em bits e algoritmos. Ele fala de softwar — uma forma de imposição de custos físicos através de meios cibernéticos. E mesmo sem citar o dólar diretamente, seu raciocínio se encaixa perfeitamente: o dólar é o protocolo-mãe dessa guerra não convencional.
Com ele, os EUA protegem seu estilo de vida à custa de todos os outros.
O poder de comprar o mundo inteiro com a própria moeda é o tipo de vantagem que nenhuma potência jamais teve. Nem Roma, nem o Império Britânico, nem a China imperial. Só os Estados Unidos. E o fazem há mais de 80 anos.
Enquanto isso, o mundo gira em torno dessa ficção coletiva chamada confiança.
Confiança de que o dólar vale algo. Confiança de que os EUA vão honrar dívidas. Confiança de que a inflação não sairá do controle. Confiança de que a próxima bolha será contida com mais impressão, mais crédito, mais resgate.
E por isso, bancos centrais seguem acumulando dólar. Fundos seguem comprando Treasuries. Multinacionais seguem precificando em dólar. É um ciclo vicioso que só favorece quem está no topo.
A força do dólar está justamente no fato de que todos precisam dele — até para combater o próprio sistema que ele sustenta.
Se amanhã, um país resolve se livrar do dólar? Terá que trocar contratos, enfrentar turbulência cambial, sofrer fuga de capital, encarar sabotagem midiática, talvez um embargo — e se tudo falhar, talvez até uma “primavera democrática”.
Isso não é teoria da conspiração. É prática da geopolítica.
O dólar é mais que uma moeda. É uma arma de dominação global. Um cavalo de Troia elegante. Um software geopolítico instalado no sistema nervoso do mundo.
O que espanta é que quase ninguém vê isso como agressão. Porque não há bomba. Não há sangue. Só boletos. Spread cambial. Dívida indexada. E uma falsa sensação de liberdade financeira.
No final, o que os EUA construíram não foi apenas uma moeda forte. Foi um sistema onde imprimir papel virou sinônimo de poder. E o mundo... assinou embaixo.
Frases para Refletir
- “A moeda é um símbolo de confiança. Quem imprime, governa.” — Napoleon Hill
- “Você não fica rico ganhando mais, e sim perdendo menos valor.” — Jim Rohn
- “A inflação é o confisco silencioso.” — Ludwig von Mises
- “Não existe moeda forte sem uma nação que inspire confiança.” — Warren Buffett
- “Quem não entende de dinheiro, trabalha para quem entende.” — Dave Ramsey
928# Mude de Árvore

Algumas das maiores perdas de energia da vida acontecem em silêncio, camufladas de boas intenções. Tentamos convencer quem não quer ser convencido, explicar o óbvio para quem já decidiu não enxergar, dialogar com quem veio armado, abrir os olhos de quem escolheu a escuridão. E fazemos tudo isso com uma espécie de urgência disfarçada de empatia — mas que, no fundo, é só vaidade. Porque, se formos honestos, não tentamos convencer o outro pelo bem dele. Tentamos porque não suportamos que ele continue errado sem consequências. Tentamos porque, no fundo, acreditamos que estar certo só vale quando o outro admite isso. É uma forma sofisticada de insegurança: precisamos que o outro reconheça nossa razão para que ela se torne real.
Robert Greene, em sua Lei 9 das 48 Leis do Poder, é implacável: “Vença por suas ações, nunca por argumentos.” A insistência em tentar vencer pelo discurso, pela repetição, pela retórica, revela o que nos falta de concreto. Quando há realização, não há necessidade de convencimento. Quando há consistência, a palavra se torna desnecessária. Mas quando tudo o que temos é opinião, fazemos dela um espetáculo — e o palco vira uma arena onde o objetivo não é esclarecer, mas dominar. E nessa arena, o primeiro a sangrar é quem precisa ser ouvido para se sentir inteiro.
A lógica do convencimento é, muitas vezes, uma armadilha do ego. Porque ela parte da premissa equivocada de que nossa lucidez é transferível. Mas lucidez não é ensinada — é conquistada. E só quem está disposto a desaprender o que acredita já saber consegue absorver o novo. O resto escuta com filtro. E responde com escudo. Por isso, Greene alerta na Lei 4: “Diga sempre menos do que o necessário.” Falar demais não convence. Explicar demais gera desconfiança. O excesso de palavras revela ansiedade, necessidade, urgência. E urgência é a antítese do poder.
O mais trágico — e talvez mais irônico — é que, enquanto desperdiçamos energia tentando convencer quem não nos ouve, deixamos de lado aqueles que nos escutam com olhos atentos. Tem sempre alguém do nosso lado disposto a construir, a crescer, a pensar junto. Mas a gente não vê. Não porque essas pessoas estejam ausentes — mas porque elas não fazem barulho. Estamos tão ocupados tentando quebrar muralhas que ignoramos as portas abertas. E aí, no fim do dia, cometemos um erro grotesco: viramos as costas para quem nos acolhe e estendemos a mão para quem nos repele. Mendigamos atenção de quem nos rejeita enquanto desprezamos quem nos valoriza. E ainda chamamos isso de resiliência. Não é. É vaidade com disfarce de missão. É carência fantasiada de propósito. É burrice emocional com etiqueta de empatia.
Insistir é, quase sempre, perder. Porque cada tentativa de convencimento reforça o poder do outro sobre você. Você se rebaixa ao ponto de mendigar aceitação. Você entrega sua paz em troca de uma escuta artificial. Você troca sua energia mais valiosa por migalhas de atenção. Greene sintetiza isso de forma cruel e perfeita na Lei 36: “Despreze o que não puder ter: ignorar é a melhor vingança.” O desprezo elegante, frio e silencioso é o que mais desestabiliza quem esperava seu esforço. Porque ele é a prova de que você não precisa vencer — só precisa sair.
Muita gente confunde desistência com fraqueza. Mas, na prática, recuar pode ser o ato mais estratégico de poder. É sobre isso que trata a Lei 16: “Use a ausência para aumentar o respeito.” A presença constante desgasta. A disponibilidade incondicional reduz o valor percebido. Você explica demais, aparece demais, fala demais — e de repente, sua voz vira ruído. Você não é mais uma referência. É só mais um que tenta demais. Sumir, nesses casos, é uma tática de restauração. Você não se retira porque perdeu. Você se retira porque percebeu que o jogo era inútil.
E quando o jogo é inútil, a inteligência não está em vencer — está em sair.
A metáfora do macaco e da árvore deveria estar num MBA de inteligência emocional. O macaco não tenta replantar a floresta, nem mudar a natureza da árvore. Quando o galho não sustenta mais, ele pula. Simples assim. E continua a vida. Sem drama, sem discurso, sem despedida. Mas nós, arrogantes em nossa “missão de despertar consciências”, permanecemos em árvores secas, estéreis, inférteis. Continuamos ali, pendurados, tentando convencer, implorar, argumentar — tudo por um eco que nunca vem. E quando vem, já não importa. Porque a energia que foi embora não volta. E o que poderia ter sido construído em outro lugar já se perdeu.
Existe ainda um ponto mais cruel nesse jogo: quando insistimos demais, nos tornamos previsíveis. E previsibilidade é o fim do respeito. Ninguém ouve quem está sempre tentando. Ninguém considera quem está sempre presente. Ninguém respeita quem nunca se retira. Como diz Greene na Lei 5: “Tão importante quanto parecer confiável é ser imprevisível.” E quem vive tentando convencer é exatamente o oposto: previsível, controlável, domesticado.
Há também um certo conforto em tentar mudar o outro — porque isso nos distrai de mudar a nós mesmos. Ao focarmos no erro alheio, desviamos o olhar das nossas próprias contradições. É uma fuga sofisticada, socialmente aceita, mas que revela um desespero íntimo: a necessidade de controlar o externo para evitar o confronto interno. Mas o preço dessa fuga é alto. Porque, enquanto você se ocupa em mudar o outro, o tempo muda você — e nem sempre para melhor.
Pior ainda, convencer quem não quer ser convencido é uma forma de violência. Porque impõe. Porque invade. Porque desrespeita o tempo do outro. Há uma diferença brutal entre convidar ao pensamento e empurrar uma ideia. O primeiro inspira. O segundo oprime. E ninguém muda quando se sente oprimido. Greene deixa claro isso na Lei 3: “Oculte suas intenções.” Quando você revela sua estratégia de convencimento, o outro se fecha. Quando você é sutil, a reflexão nasce. Quando você é direto demais, a resistência cresce.
A grande virada vem quando entendemos, de fato, que convencer não é nosso trabalho. Seu papel é viver com coerência. Agir com consistência. Inspirar pelo exemplo. E deixar que o tempo, o silêncio, a ausência e os resultados façam o resto. Porque, no fim das contas, o argumento mais poderoso é aquele que não precisa ser dito.
Como um velho sábio me disse certa vez: “Gente que precisa ser convencida com muito esforço quase nunca vale o esforço.” E desde então, entendi: o macaco não precisa mudar a árvore. Ele só precisa saber a hora certa de mudar de galho.
Frases de Impacto
- “Despreze o que não puder ter: ignorar é a melhor vingança.” — Robert Greene
- “Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
- “Vença por suas ações, nunca por argumentos.” — Robert Greene
- “Ninguém muda porque foi convencido. Muda porque cansou.” — RXO
- “Silêncio é o argumento dos fortes.” — Josh Billings
929# Eterna Guerra das Gerações

A primeira vez que ouvi a frase "essa juventude vai acabar com o mundo", eu ainda era parte dela. E confesso: doeu. Não pela frase em si, mas pela certeza com que ela foi dita. Um senhor, terno alinhado, currículo brilhante, autoridade respeitável — descrevendo, com precisão cirúrgica, como a nova geração era folgada, apressada e incapaz de suportar o peso do mundo real. Eu estava na plateia. O alvo, sem saber, era eu.
Mais de três décadas se passaram. E agora eu ouço a mesma frase. Com a mesma entonação. Com os mesmos argumentos. Só que dita por pessoas da minha idade — sobre os filhos que eu criei. Isso me desconcerta. Porque revela algo muito mais sério do que um simples embate de gerações. Revela que existe uma narrativa cíclica, entranhada em nossa cultura, que repete o mesmo diagnóstico... independentemente do paciente.
E o pior: a repetição do discurso não o torna mais verdadeiro. Torna-o apenas mais confortável.
O Discurso da Superioridade Temporal
Vamos ser honestos: toda geração acredita que foi a última a fazer as coisas “certas”. A última a estudar de verdade. A última a respeitar os mais velhos. A última a saber trabalhar sem reclamar. A última a amar o país. A última a ter limites. É como se, a partir dali, tudo tivesse começado a desandar.
É um raciocínio elegante na aparência, mas podre na estrutura. Porque parte do pressuposto de que o passado — o nosso passado — foi moralmente superior ao presente. E isso, além de egocêntrico, é estatisticamente falso.
Quer uma prova?
Meus avós, nascidos entre 1910 e 1930, tiveram ao menos dez filhos — metade deles morreu antes dos dois anos. Viviam da terra, matavam animais para comer, morriam por falta de vacina. Seus pais, meus bisavós, raramente alcançavam os cinquenta. A alfabetização era um privilégio. Faculdade? Algo que não se sonhava.
Meus pais, já na cidade, trabalharam em fábrica, compraram casa financiada, viram a chegada da televisão, tiveram menos filhos, mas ainda viveram sob ditadura, hiperinflação e medo político. Estudaram até onde puderam. E sonharam que seus filhos fariam mais.
Eu fui esse filho. Nasci nos anos 70. Fui o primeiro da família a ter diploma universitário. Trabalhei em indústria. Vi a internet nascer. Acompanhei três crises econômicas. Criei dois filhos. E agora ouço, em jantares de família e rodas de colegas, a crítica que também já recebi: “essa juventude está perdida”.
Mas não está.
Da Arma ao Algoritmo
Meus filhos não sabem amarrar um nó de gravata — mas sabem empreender digitalmente aos 15 anos. Não pedem bênção na chegada — mas sabem conversar com alguém de outro continente sem tradutor. Não respeitam hierarquias cegamente — porque aprenderam que o respeito precisa ser mútuo. Não querem passar 30 anos na mesma empresa — e estão certos.
Nós, que romantizamos boletos pagos, carteira assinada e chefes carrancudos, esquecemos o quanto isso nos custou: ansiedade, gastrite, depressão mascarada de produtividade. Nós sacrificamos saúde em nome de estabilidade. Eles buscam sentido, mesmo que isso pareça instável.
E o que recebemos em troca? A pecha de resilientes. E a obrigação de julgar quem ousa escolher outro caminho.
Quando o Rancor Vira Tradição
Aqui é onde a análise se torna desconfortável: existe um prazer quase silencioso em desacreditar a geração seguinte. Um prazer disfarçado de preocupação. Um prazer que mascara inveja. Não da juventude — mas da liberdade que ela se permitiu.
É mais fácil chamá-los de frágeis do que admitir que nós fomos domesticados. É mais fácil acusá-los de preguiça do que reconhecer que talvez tenhamos desperdiçado anos fazendo o que não amávamos, por medo de parecer irresponsáveis.
A crítica à juventude é uma forma sofisticada de vingança geracional. Não suportamos que eles façam agora, com 20 anos, o que só descobrimos aos 50: que viver não é sobreviver com crachá. É construir um caminho onde trabalho e sentido não sejam opostos.
O Ponto de Fratura
Mas o mais grave não é a crítica. É o fato de que ela não é nova. Não é moderna. Não é nossa. Ela é uma herança.
Veja se reconhece essas frases:
- “Nossa juventude adora o luxo, é mal-educada e desrespeita os mais velhos.”
- “Não tenho mais esperança no país se a juventude assumir o poder.”
- “O mundo chegou ao fim. Os filhos já não ouvem os pais.”
- “Essa juventude está estragada até o fundo do coração.”
Você poderia jurar que saiu do último podcast de um coach conservador. Mas não. A primeira foi dita por Sócrates, 470 a.C. A segunda é de Hesíodo, 720 a.C. A terceira foi registrada por um sacerdote egípcio em 2.000 a.C. A última está escrita em um vaso babilônico de mais de 4.000 anos.
Sim. Há quatro milênios, o mundo está acabando... por causa da juventude.
Se isso fosse verdade, já estaríamos em ruínas.
Mas estamos aqui. Com mais acesso à informação, mais segurança, mais ciência, mais longevidade, mais inclusão. Se todo jovem fosse o fim do mundo, o mundo teria acabado antes de Jesus nascer.
A Geração Mais Injustiçada da História
A juventude atual não é pior. É diferente. Cresceu em outro mundo, com outras demandas, com outras ameaças. Não teme o desemprego — teme o esgotamento emocional. Não luta por casa própria — luta por propósito. Não quer bater ponto — quer fazer sentido. Isso incomoda? Muito. Mas não significa retrocesso. Significa que o eixo moral está mudando de lugar.
E toda mudança de eixo causa vertigem nos que estavam confortáveis com o equilíbrio anterior.
Frases Para Reforço Final
- “A tradição é a personalidade dos imbecis.” — Maurice Ravel
- “Cada geração ri das modas antigas, mas segue religiosamente as novas.” — Henry David Thoreau
- “Os jovens precisam de modelos, não de críticas.” — John Wooden
- “Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e engajados possa mudar o mundo.” — Margaret Mead
- “O mundo pertence àqueles que têm a coragem de ver com olhos novos.” — Osvandré Lech
930# Coreia do Sul x Brasil

Durante décadas, repetimos a ideia de que o Brasil é um país de potencial. Mas talvez o verdadeiro diagnóstico seja mais duro: somos um país de desperdício de potencial. Enquanto isso, a Coreia do Sul — sem território vasto, sem recursos naturais abundantes, sem clima favorável à agricultura e um vizinho ao norte armado até os dentes ameaçando invadir dia e noite — transformou-se em uma das nações mais desenvolvidas do planeta. Não por sorte. Mas por decisão.
Em 1980, o PIB per capita sul-coreano era de apenas kUSD 1,8 — quase 30% menor que o brasileiro, que era kUSD 2,5. Quatro décadas depois, a Coreia saltou para kUSD 36,0, enquanto o Brasil estagnou em meros kUSD 10,0. A pergunta não é “como eles conseguiram?” — mas “por que nós não conseguimos?”.
Educação Como Alicerce de Futuro
A Coreia do Sul fez uma escolha clara: educação seria sua principal política de Estado. Reformou currículos, criou incentivos de excelência, investiu massivamente em professores e estabeleceu meritocracia educacional como pilar do progresso. O resultado é visível: de 87% de alfabetização em 1980, passaram a mais de 98% em 2020. Mais do que isso: sua juventude figura entre as melhores do mundo no PISA — um exame que mede habilidades em leitura, matemática e ciências.
Enquanto isso, o Brasil segue investindo proporcionalmente mais do que a média da OCDE em educação... e colhendo menos. Por quê? Porque investimento sem direcionamento é desperdício com glamour. Nossos resultados no PISA permanecem entre os piores. Reformas vêm e vão, mas sem continuidade, sem base técnica e, principalmente, sem foco em resultado.
Indústria que Inova, Não que Sobrevive
Hyundai, Samsung, LG, Kia. Conglomerados globais. Marcas que não apenas dominam mercados, mas moldam tendências tecnológicas. Isso não surgiu do acaso. Foi fruto de uma política industrial coordenada, com metas claras, incentivos fiscais bem estruturados e, sobretudo, visão de longo prazo.
No Brasil, a indústria ainda é tratada como extensão do consumo interno. Produzimos, sim. Mas para abastecer o varejo, não para competir globalmente. A exceção virou exceção porque não há política industrial com foco em inovação, competitividade e inserção internacional. Nosso setor automotivo é relevante? Sim. Mas dependente de incentivos temporários e travado por gargalos logísticos, tributários e educacionais.
População Não É Destino
Um dos argumentos mais recorrentes quando se fala em desenvolvimento é a dimensão populacional. A Coreia tinha 38 milhões de pessoas em 1980; hoje, são 51,6 milhões. O Brasil saltou de 121 milhões para mais de 213 milhões. Ou seja: somos quatro vezes maiores em população — mas isso não se refletiu em produtividade, renda ou inovação. População sem educação, sem saúde de qualidade, sem infraestrutura e sem oportunidades é só estatística demográfica. Para transformar massa em potência, é preciso estratégia. E o que vimos foi o oposto: décadas de planos mal desenhados, políticas descontinuadas e um Estado que atua mais como cobrador do que como articulador do progresso.
O Preço da Miopia Estratégica
A diferença mais brutal entre Brasil e Coreia do Sul não está nos números, mas na lógica. Lá, cada crise foi usada para acelerar reformas. Aqui, para protelar decisões.
A Coreia do Sul enfrentou a Guerra da Coreia, instabilidade política e escassez natural. Mas apostou em educação, infraestrutura e política industrial coordenada. O Brasil enfrentou crises inflacionárias, mudanças de governo e ciclos de commodities. E, em vez de construir soberania produtiva, preferiu expandir gasto com consumo, ampliar desonerações sem meta e manter uma carga tributária regressiva.
Não se trata de idolatrar modelos asiáticos. Trata-se de reconhecer que a ausência de uma visão nacional clara e técnica custa caro. Enquanto a Coreia se preparava para competir no século XXI, o Brasil ainda estava tentando resolver o século XX.
Educação: Não é Só Orçamento
Cobrimos os maiores volumes de investimento em educação entre os países em desenvolvimento — mas seguimos perdendo em qualidade, em equidade e em resultado. O problema não está apenas nos recursos. Está na falta de foco, de continuidade e de cobrança por desempenho. A Coreia elevou o status social do professor, premiou resultados, estruturou currículo nacional com base em competências e criou um ciclo virtuoso entre escola, família e mercado de trabalho.
Aqui, o magistério segue mal remunerado, mal formado e desprotegido. O aluno não vê conexão entre escola e realidade. E o sistema como um todo premia presença, não aprendizado.
Desenvolvimento Não É Inspiração — É Engenharia
O progresso da Coreia é admirável, mas não deveria ser tratado como fábula de superação. É um case técnico de desenvolvimento coordenado. Um projeto com início, meio e avanço — porque fim, como se sabe, nenhum país tem.
Enquanto isso, o Brasil ainda flerta com populismos, incertezas jurídicas, políticas econômicas contraditórias e um Estado que não sabe se quer ser indutor do crescimento ou mero arrecadador de impostos. O resultado é visível em cada comparação global. Em produtividade. Em inovação. Em renda.
Duas Lições que o Brasil Precisa Ouvir
- O futuro não se improvisa. Países que dão certo têm estratégia. Têm metas. Têm continuidade. O Brasil precisa parar de reinventar a roda a cada governo e começar a construir um projeto de país que sobreviva a ciclos eleitorais.
- Crescimento exige coragem. Coragem para reformar, para enfrentar privilégios, para quebrar cartórios mentais e institucionais. Coragem para colocar a educação acima do discurso. Coragem para planejar o Brasil que queremos — e não apenas administrar o que temos.
- “Onde não há visão, o povo perece.” — Provérbios Bíblicos
- “Uma boa ideia vale zero sem um bom contrato.” — Ray Kroc
- “Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
- “Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros.” — Benjamin Franklin
- “A estratégia sem execução é ilusão.” — Anthony Robbins
931# A URSS aumentou o CO₂ - 24/11/25
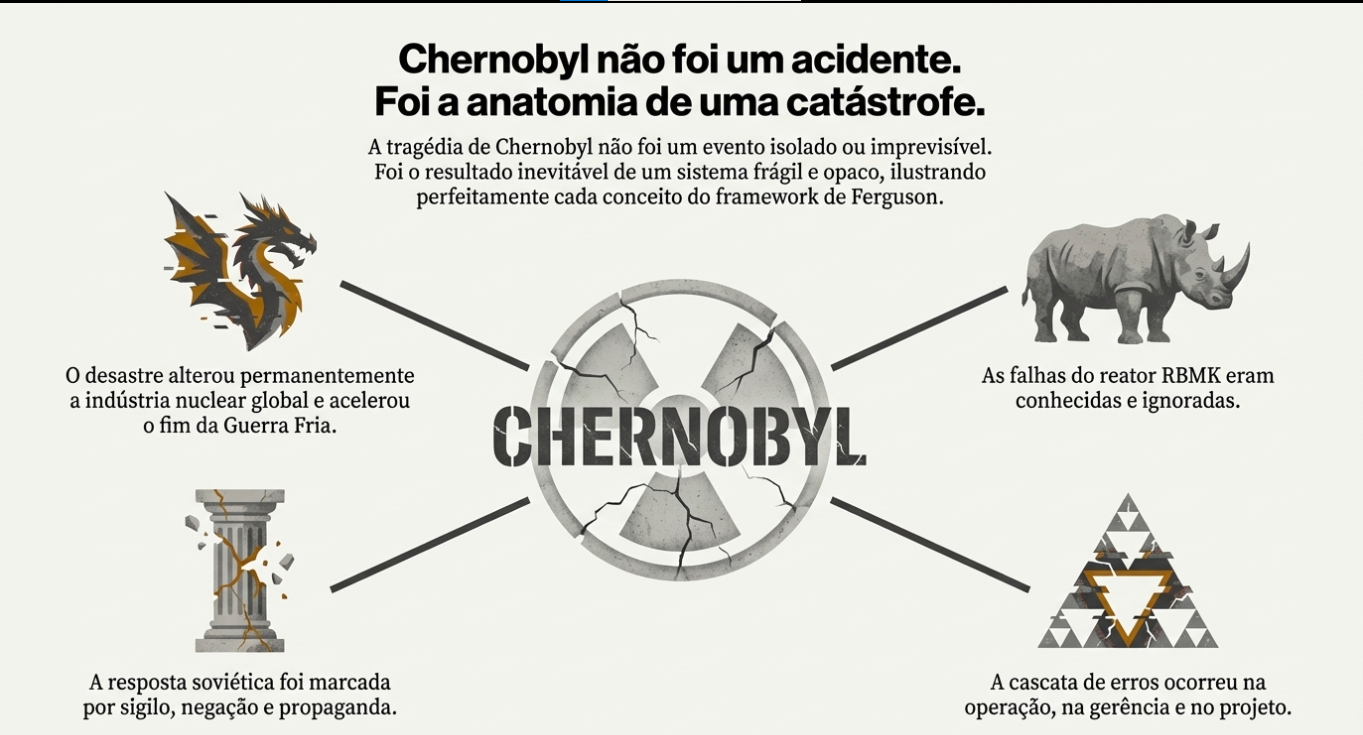
A explosão de Chernobyl não foi só um erro técnico. Foi a consequência direta de um regime que odiava transparência, temia responsabilidade e desprezava a ciência quando ela ameaçava o discurso oficial. O reator não explodiu sozinho — foi detonado pela arrogância soviética, pelas metas de produção impensadas e por uma cultura institucional que tratava a verdade como sabotagem interna.
O projeto RBMK já era falho de origem. Só existia porque era barato — e era barato porque ignorava protocolos básicos de segurança. Enquanto o Ocidente construía usinas com contenção de concreto para o pior cenário, a URSS construía propaganda com grafite e silêncio. O custo para admitir vulnerabilidades era visto como inadmissível — e, por isso, ocultaram tudo: os alertas técnicos, os pequenos acidentes anteriores, os relatórios internos. Cada funcionário que apontava falhas virava traidor. O sistema soviético, com sua estética de força, era na prática uma roleta russa institucionalizada. E em 1986, a bala veio.
A tragédia de Chernobyl não parou na radiação. Ela espalhou desconfiança, cancelou projetos nucleares no mundo inteiro e entregou, de bandeja, décadas de dependência fóssil. É isso que pouca gente vê: o comunismo soviético não apenas causou um desastre — ele empurrou o mundo para um caminho que elevou as emissões de CO₂ por gerações. O acidente matou a confiança na energia nuclear. E o vácuo foi preenchido com carvão, diesel, gás. Onde poderia ter havido reatores limpos, houve fumaça. Onde poderia haver neutralidade, houve estufas. O medo radioativo virou política energética. E o resultado se mede em partes por milhão.
Os dados não mentem: os anos seguintes ao acidente viram uma queda abrupta em novos projetos nucleares. Os países ricos que poderiam liderar uma transição limpa, recuaram. O lobby verde — paradoxalmente — ajudou a reforçar essa aversão, criando um tabu que ainda hoje trava a expansão nuclear. Mas o ponto cego é esse: ao recusar o nuclear, abraçamos o fóssil. E fizemos isso com bandeiras ecológicas nas mãos. Ironia ou ignorância?
Niall Ferguson acerta ao dizer que desastres não são naturais — são decisões. Chernobyl não foi obra do acaso, mas produto de uma estrutura totalitária que fingia controle enquanto cultivava falhas. E a consequência extrapolou fronteiras, calendários e ideologias. O desastre soviético virou uma herança global. E não foi apenas o vento que espalhou seus efeitos — foi o medo. E esse medo não foi só técnico. Foi político.
Até hoje, quando se fala em nuclear, a imagem é Chernobyl. O símbolo é a nuvem. O rastro é o silêncio. E a ignorância calculada do regime soviético ainda pesa no presente. Cada tonelada de CO₂ emitida por termoelétricas que substituíram usinas nucleares planejadas nos anos 80 é uma assinatura póstuma do sistema que prometia igualdade e entregou catástrofe.
Chernobyl não é só um caso técnico. É um caso político. E o custo do comunismo soviético não foi só humano, ambiental e social. Foi climático. E continua.
“O totalitarismo começa quando a verdade vira ameaça.” — Václav Havel
“A ignorância é a noite da mente, mas uma noite sem luar nem estrelas.” — Confúcio
“Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa.” — Martin Luther King Jr.
“O preço da liberdade é a eterna vigilância.” — Thomas Jefferson
“A história é o resultado do que evitamos aprender.” — Niall Ferguson
932# Não é a laranja que é espremida! - 04/08/25

O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Planta, colhe, processa, embarca e entrega o melhor suco do planeta — e depois faz o consumidor local pagar como se estivesse cometendo um crime por querer beber o que produz. A lógica é cruel, mas não surpreendente. Enquanto o suco brasileiro chega nos Estados Unidos com isenção total de tarifas de importação e paga, no máximo, 1% de imposto estadual sobre vendas, aqui dentro ele é enforcado por uma carga tributária que beira os 31,5%. Isso não é erro. É método.
O estadunidense, a galerinha que se diz do lado certo adora usar esse termo, compra o suco por US$ 100, paga um imposto simbólico de US$ 1 e leva pra casa um produto de alta qualidade, processado no interior de São Paulo, embalado com tecnologia brasileira e entregue com eficiência. O brasileiro compra o mesmo suco, feito com a mesma fruta, nos mesmos moldes — e paga R$ 131,50 por algo que custava R$ 100 na origem. A diferença é o que chamam, por aqui, de “participação do Estado”.
Participação essa que não planta, não aduba, não colhe, não pasteuriza, não embala e nem sequer entrega. Mas que cobra como se fosse sócia majoritária da cadeia produtiva. Cobra antes de vender, durante o transporte, na nota fiscal e no código de barras. Cobra como se o cidadão fosse o culpado por preferir um suco natural a um refrigerante cor-de-caramelo. E o pior: em muitos estados, o refrigerante paga menos imposto que o suco de laranja. Isso diz mais sobre o Brasil do que qualquer pesquisa de IDH.
O suco, aqui, virou símbolo. Um emblema de como o país premia a exportação e pune o consumo interno. De como a indústria é incentivada a crescer pra fora, mas desestimulada a abastecer o próprio mercado. De como a política tributária trata o brasileiro como intruso no próprio território. Porque sim — aqui, tomar suco é quase um ato de resistência fiscal. O Estado brasileiro decidiu que alimentos saudáveis devem ser caros. E se forem naturais, então devem ser penalizados com mais rigor ainda. É como se a política pública partisse do princípio de que saúde gera rombo nas contas — e o consumo consciente é ameaça à arrecadação.
A indústria faz milagre para manter competitividade. O produtor investe, racionaliza, mecaniza. A logística gira em torno da exportação. O marketing busca espaços em mercados internacionais. O planejamento foca em dólar. O consumidor interno? Que se vire. A cada litro vendido aqui, o Fisco morde mais que a usina. A cada garrafinha, o cidadão paga tributo suficiente pra bancar um jantar nos EUA — com o mesmo suco, servido por menos.
O Estado virou atravessador do próprio produto nacional. É como se alguém tomasse posse da sua horta e te vendesse o que você mesmo plantou. E quando você protesta, dizem que é necessário pra equilibrar o sistema. Sistema de quem? Pra quem? Com que lógica se justifica tributar mais um suco natural do que um energético importado de nome inglês e rótulo fluorescente? Com que racionalidade um país tropical — que depende da agricultura pra quase tudo — impõe 31,5% de imposto sobre um copo de fruta espremida?
Isso não é problema técnico. É covardia institucional. É a soma de décadas de omissão, aparelhamento e preguiça legislativa. O Brasil criou um sistema tributário que confunde arrecadação com castigo. Que vê no alimento uma oportunidade de compensar a incompetência estrutural do gasto público. E que joga a conta no colo do consumidor com cara de normalidade. Tudo documentado, protocolado e com selo da Receita.
Não se trata de pedir isenção. Trata-se de parar de fingir que isso é razoável. Um país que pune quem consome o que ele próprio produz está invertendo a lógica da soberania. E não é questão de esquerda ou direita. É questão de sanidade fiscal. Exportar com eficiência não deveria significar sacrificar o mercado interno. E manter equilíbrio orçamentário não deveria passar por fazer do suco um item de luxo.
Os dados são claros. As fontes são públicas. A comparação é objetiva. O suco brasileiro é mais barato para o americano do que para o brasileiro. Isso diz tudo. Diz que o problema não é o agronegócio. Nem a indústria. Nem o custo logístico. O problema é o modelo de Estado. É a ideia de que arrecadar muito compensa entregar pouco. E que cobrar do cidadão é mais fácil do que reorganizar a máquina.
Se há um símbolo da nossa estrutura disfuncional, é ele: o copo de suco de laranja, espremido até a última gota de renda. Se o Brasil quiser mudar, precisa começar por ele. Porque enquanto o estadunidense brinda com nosso suco pagando 1% de imposto, o brasileiro continua tomando o próprio prejuízo — com gelo, sem açúcar e com gosto amargo de injustiça tributária.
“Nenhuma boa intenção resiste a uma má estrutura.” — RXO
“O Estado não gera riqueza — só pode atrapalhar ou permitir.” — Henry Ford
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
“A burocracia realiza o oposto do que promete.” — Mario Henrique Meireles
“Tributar o essencial é o atestado da incompetência estatal.” — Parafraseando Milton Friedman
933# O Robô Venceu - 24/11/25

A substituição do humano pela máquina não é um projeto do futuro. É um projeto nosso — e está em pleno andamento. Não foi um robô que pediu vaga. Fomos nós que, ao longo de décadas, tornamos o humano um recurso cada vez mais caro, instável e arriscado. A automação não caiu do céu: foi empurrada para dentro das empresas por uma lógica que nós mesmos alimentamos.
Forjamos atestados. Criamos leis que encarecem a contratação formal. Transformamos o vínculo empregatício numa equação de risco jurídico permanente. Governos elevaram o custo da mão de obra a níveis incompatíveis com produtividade. Empresas foram sobrecarregadas com impostos, obrigações acessórias, fiscalizações punitivas. Em troca, recebem processos, licenças, afastamentos, acidentes, instabilidade. O ser humano — que deveria ser o ativo mais importante de uma organização — virou uma ameaça contábil.
E o que o robô oferece? Exatamente o oposto: previsibilidade, disponibilidade e silêncio.
Robô não forja atestado. Robô não sofre acidente. Robô não entra em burnout, não adoece de depressão, não reclama do chefe. Robô não se sindicaliza. Robô não pede demissão porque “achou algo melhor”. Robô não processa a empresa, nem some depois de três meses de treinamento. Robô não morre — ele é trocado.
A conta é brutal. E, para a empresa, lógica: entre o humano caro e instável, e a máquina cara porém confiável, a escolha é óbvia. E se antes o limite da automação era técnico, agora ele é psicológico. A máquina já faz. A questão é: você ainda consegue justificar não usá-la?
Quem acha que a substituição do trabalho é uma catástrofe repentina está ignorando a história. O tear mecânico, no século XIX, já era robô — só que com outro nome. A diferença é que hoje o "tear" tem sensor, câmera, algoritmo e uptime de 99,9%. E mais: ele não te pede férias, nem exige café de boas-vindas.
Estamos colhendo o que plantamos. O robô só entrou porque o humano saiu — por escolha, por custo ou por excesso de direitos que não vieram com deveres. Criamos uma cultura de trabalho onde o risco é todo do contratante e a estabilidade, toda do contratado. Isso virou incentivo à automação. E agora fingimos surpresa?
Não se trata de defender o robô. Mas de entender que a máquina não é o vilão. O vilão é o sistema que tornou o humano incompatível com a própria lógica da produção. Um sistema que obriga a empresa a operar no fio da navalha — e pune quem ainda aposta no vínculo humano.
Assista o vídeo que inspirou essa reflexão: Planeta em Perigo – Robôs humanoides desafiam o futuro do trabalho humano (Domingo Espetacular)
No fim, o futuro não é feito de aço. É feito das escolhas que fizemos sobre nós mesmos. O robô é apenas o espelho que não reclama — mas reflete com perfeição o abandono da racionalidade na relação entre trabalho e produtividade.
“Você não pode ensinar nada a um homem; você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo.” — Galileu Galilei
“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.” — Frederick Herzberg
“Quem abre mão de liberdade em troca de segurança, acaba sem as duas.” — Benjamin Franklin
“As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam.” — George Bernard Shaw
“A eficiência é inteligente, mas a inteligência não basta se for cara demais.” — Peter Drucker
934# Hipocrisia climática. - 24/11/25
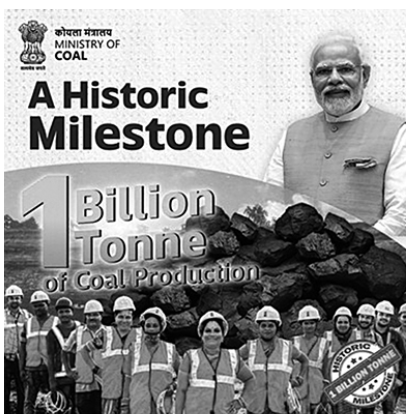
Não tenho absolutamente nada contra a Índia produzir 1 bilhão de toneladas de carvão. Nenhuma ironia aqui.
É um país de mais de 1,4 bilhão de pessoas, com gargalos energéticos gigantescos, que busca seu próprio caminho de desenvolvimento. É legítimo. É estratégico. É até necessário. O que me incomoda — e muito — não é a produção.
É o discursinho ambiental vazio, barato, moralista e fingido que vem junto com esse carvão.
A mesma Índia que posa como defensora do meio ambiente em eventos internacionais, que exige fundos verdes, que assina compromissos climáticos de longo prazo… comemora publicamente o seu “recorde” de carvão no mesmo mês em que participa da COP. Aplaudida, por sinal.
O que irrita não é o que fazem. É o que fingem.
O problema da discussão ambiental global é que ela virou um palco para vomitar virtude enquanto se executa exatamente o contrário.
A Índia bateu no peito a produção de 1 bilhão de toneladas como se fosse um feito civilizatório — e talvez seja, sob a ótica da segurança energética. Mas se é pra fazer isso, então que se tenha a decência de não fingir que se está salvando o planeta ao mesmo tempo.
Aliás, isso vale pra muita gente. Inclusive pro governo brasileiro, que também adora pregar contra combustíveis fósseis nos palanques internacionais, mas, felizmente, está avançando com a exploração de petróleo na Margem Equatorial.
Glória a Deus por isso.
Só que não dá pra aguentar o malabarismo moral de quem extrai petróleo de manhã e prega contra ele à tarde.
O discurso ESG virou performance
Tem gente que produz, emite, fatura — e ainda quer sair por cima no tapete vermelho verde da ONU.
Esse é o novo teatro: países e empresas se posicionam como “agentes da mudança climática” enquanto operam modelos que fazem exatamente o oposto. O jogo virou branding ambiental, e não compromisso real.
Discurso bonito. Ação suja. Mas com filtro sustentável no Instagram.
A Índia é só o exemplo mais gritante. Mas está longe de ser o único.
A COP como festival da contradição
Durante as COPs, vemos uma romaria climática recheada de discursos vazios. A Índia, ano após ano, repete sua ladainha ambiental: “transição justa”, “descarbonização gradual”, “responsabilidades históricas”. Tudo isso enquanto expande sua dependência do carvão sem qualquer vergonha.
E a comunidade internacional engole calada.
Pior: bate palma. Afinal, a hipocrisia climática está tão institucionalizada que criticar virou deselegante. Chamar a verdade pelo nome virou ofensa diplomática.
E no fim, o que sobra é a fumaça — literal e simbólica.
O Brasil também ama um discurso verde... mas só de boca
O Brasil, diga-se, está na mesma fila.
Enquanto autoridades brasileiras falam em "transição ecológica", "neutralidade de carbono" e "novo modelo de desenvolvimento sustentável", seguem aprovando novos poços de petróleo no litoral, financiando combustíveis fósseis e ampliando o uso de termelétricas.
Ainda bem.
Porque o país precisa gerar receita, reduzir dependência externa e garantir soberania energética. Mas então que se fale a verdade. Que se tenha coragem de dizer: “Vamos continuar produzindo petróleo porque isso é estratégico para o Brasil.”
E não: “Vamos investir em petróleo enquanto lideramos o discurso contra ele.”
Essa é a contradição que ofende. Não o petróleo. Mas a covardia moral de não bancá-lo com clareza.
A coragem de assumir o pragmatismo
É perfeitamente possível defender o uso inteligente de recursos fósseis sem negar o desafio climático. O que falta é coerência.
Se a Índia quer queimar carvão: tudo certo.
Se o Brasil quer explorar petróleo: apoio total.
Mas que ninguém venha vestir a capa de herói climático enquanto lucra com hidrocarbonetos.
Você pode escolher seu caminho. Só não pode escolher a narrativa conveniente e esperar não ser chamado no palco da realidade.
Precisamos de menos mentiras verdes
O mundo não precisa de mais cúpulas, compromissos, metas irreais ou fotos com legendas inspiradoras sobre "ações climáticas urgentes". O que falta, de verdade, é gente com coragem de falar com clareza:
“Vamos usar o que temos, do jeito que dá, para sustentar nosso povo e nossa economia. E vamos buscar soluções reais — sem fantasias.”
É esse tipo de discurso que constrói confiança. Não os slogans recicláveis que viraram padrão em eventos internacionais.
Cinco frases para refletir
- “A maior das corrupções é fingir virtude.” — Mario Henrique Meireles
- “Falar bonito é fácil. Difícil é ser honesto com a prática.” — RXO
- “O mundo não será salvo por discursos.” — Elon Musk
- “Nada é mais tóxico que uma boa mentira contada com cara de verdade.” — Margaret Thatcher
- “Pior que o erro é a pose de acerto.” — Osvandré Lech
935# 10 minutos com um Venezuelano - 24/11/25

Para os que se dizem “do lado certo da história”, com seus diplomas, podcasts e um punhado de virtudes recicladas do Twitter, fica aqui um convite: pare por dez minutos e converse com um venezuelano. Não com os “exilados gourmet” que fazem lives sobre expropriação enquanto tomam café orgânico na Europa. Mas com os anônimos. Os que estão agora mesmo vendendo balas no semáforo de Medellín, fugidos do inferno socialista que vocês ainda têm coragem de defender.
Sim, o termo é esse: inferno. A Venezuela, que já foi destino de colombianos em busca de prosperidade, hoje exporta miséria humana em massa. Não é exagero: é geopolítica suja, travestida de populismo barato. Um país que tinha uma das maiores reservas de petróleo do mundo hoje se arrasta de tanque vazio — porque a elite decidiu que distribuir gasolina a 1 centavo de dólar era “justiça social”. Resultado? Hoje nem pão tem pra colocar na mesa. E o que sobra é prostituição forçada, crime e fome institucionalizada.
O mais trágico não é o colapso — é o script. Porque ele se repete com uma previsibilidade cínica. Hugo Chávez entregou o manual: estatiza tudo, esmague quem produz, crie um Estado paizão que prometa o céu... e entregue um esgoto. E quando o fracasso vier, culpe o “imperialismo”, os “neoliberais”, a “elite golpista” ou qualquer outro espantalho conveniente. Sempre tem idiota útil para repetir o discurso. Inclusive, no Brasil.
O problema? Nicolás Maduro leu o manual e usou como constituição. Um tirano de paletó suado que mantém generais alimentados enquanto o povo chupa osso. Em 2018, quase caiu. Mas quem segurou ele não foi povo nem urna — foi pólvora russa, fuzil em punho, tanque na rua. E quem manda no povo com fuzil, não precisa de voto.
Sabe o que é a verdadeira Venezuela? É uma mãe com três filhos dormindo na calçada de Bogotá porque fugiu de um país onde pão é artigo de luxo. É um pai que vende doces no sinal enquanto esconde o diploma de engenheiro porque não serve pra mais nada. É um jovem que perdeu o sotaque, a esperança e o futuro. Essa é a realidade que os defensores do regime escondem sob a hashtag “justiça social”.
E agora, Maduro treme. O império que ele achou que dominava virou cela. Os EUA avisaram: vão atrás dele. E o palácio de Miraflores, antes símbolo de poder, virou banheiro de ditador desesperado. E o mais triste? Ainda tem brasileiro que vai dizer que isso é “imperialismo americano”. Não, meu caro. Isso é justiça atrasada.
Se você ainda defende o chavismo, o bolivarianismo ou qualquer ismo que idolatra a fome institucionalizada, saiba: você não está apenas errado. Você é cúmplice. E a sua consciência — se é que existe — deveria se envergonhar.
“Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança.” — Benjamin Franklin
“Onde a ignorância é um bem, ser inteligente é uma ameaça.” — George Orwell
“A pior forma de injustiça é a justiça simulada.” — Platão
“A liberdade é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir.” — George Orwell
“Se você quer saber quem manda em você, é só descobrir quem você não pode criticar.” — Voltaire
936# O erro da liderança industrial - 01/12/25
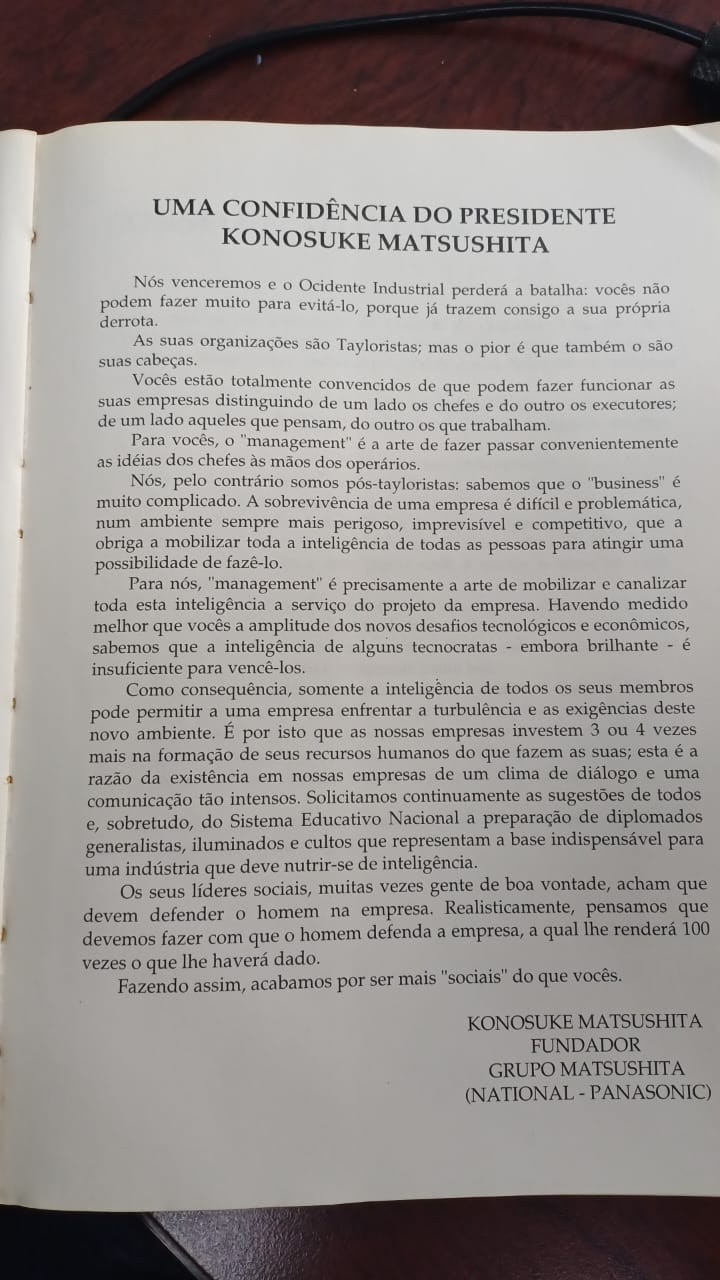
Em plena década de 1950, Konosuke Matsushita — fundador da Panasonic — deixou uma advertência que ainda soa como um soco no estômago da gestão industrial moderna. Enquanto o Ocidente apostava em estruturas tayloristas, compartimentadas e hierárquicas, ele dizia com todas as letras: “Vocês perderão. Porque já carregam em suas organizações a própria derrota.”
Setenta anos depois, o alerta ecoa como um diagnóstico. Continuamos confundindo eficiência com controle, confundindo comando com liderança. O modelo que separa “quem pensa” de “quem executa” ainda rege as estruturas industriais como se estivéssemos numa linha de montagem da década de 40. Chamamos isso de gestão, mas é só atraso em traje formal.
Na visão de Matsushita, management não é a arte de mandar — é a capacidade de mobilizar inteligência coletiva. Enquanto o Ocidente treinava tecnocratas para controlar processos, o Japão ensinava generalistas a compreender o todo. Lá, o operário era um agente do sistema; aqui, um executor descartável. A pergunta que fica é direta: você está liderando como um gestor de planilha ou como um construtor de propósito?
Quando o ambiente é previsível, o modelo cartesiano até funciona. Mas num mundo instável, incerto e competitivo, ele implode. O que as empresas precisam é de gente que pense em todos os níveis, de fluxos abertos de comunicação e de uma cultura que valorize a inteligência prática tanto quanto a teórica. Mas isso exige coragem: para escutar, para descentralizar, para abrir mão do comando pelo comando.
Matsushita não falava apenas de negócios. Ele falava de um projeto de sociedade. Um projeto em que a empresa serve ao ser humano — e não o contrário. Onde a performance nasce da cultura, e não da punição. Onde o diálogo não é um bônus, mas a única forma possível de atravessar o caos.
Hoje, quando vemos líderes ainda presos ao modelo mental da autoridade vertical, vale reler aquele trecho brutal: “As suas organizações são tayloristas. Mas o pior é que também o são suas cabeças.”
“O respeito pelo ser humano é o princípio mais importante da administração.” — Konosuke Matsushita
“A cultura devora a estratégia no café da manhã.” — Peter Drucker
“Você pode conseguir qualquer coisa se ajudar bastante gente a conseguir o que deseja.” — Zig Ziglar
“Se você cuida das pessoas, elas cuidarão dos números.” — Herb Kelleher
“Trate seus funcionários como eles fazem seus clientes serem tratados.” — Sam Walton
937# Só eu posso! - 01/12/25

A indústria de apostas virou o novo mercado bilionário do planeta. Com US$ 550 bilhões em receita global em 2024 — sendo mais de US$ 100 bi apenas em apostas esportivas — o setor já movimenta mais dinheiro que a aviação mundial. Ainda assim, é tratado como ameaça moral por governos que há décadas exploram o mesmo vício, só que com logotipo oficial.
No Brasil, isso tem nome: Loterias CAIXA. Em 2024, a arrecadação das loterias federais ultrapassou R$ 25,9 bilhões, com parte dos recursos convertidos em verba para saúde, educação, cultura e esportes. Parece nobre. Mas o mecanismo é idêntico ao das “bets” que hoje são demonizadas: vende-se uma chance mínima de ganho como promessa de transformação. A diferença? Quando o cassino é do governo, o jogo é chamado de política pública.
A pergunta é direta e desconfortável: se o Estado pode lucrar com o vício popular, por que as casas de apostas privadas não podem?
A resposta não está na ética — está no monopólio. A reação à explosão das “bets” não nasce de uma preocupação real com o cidadão, mas do incômodo com a perda de controle. O que antes era vício centralizado virou ecossistema descentralizado. E isso ameaça o caixa, não a moral. Por isso, a regulação vem menos como freio do que como boleto. Querem tributar o cassino concorrente. O jogo, em si, nunca foi problema.
Nos Estados Unidos, o mercado de jogos comerciais chegou a US$ 75 bilhões em 2025. Na Austrália, o gasto médio por pessoa ultrapassa US$ 900 anuais — recorde mundial. No Brasil, os números ainda são incertos, mas o apetite é evidente: camisas de futebol, estádios, influencers, jornalistas — todos já foram capturados pelas odds. E o Estado? Corre atrás, não para impedir o jogo, mas para entrar nele com porcentagem garantida.
É preciso nomear a hipocrisia. Quando alguém perde dinheiro numa bet, dizem que é irresponsável. Mas quando perde na loteria federal, é “cidadão contribuinte”. Quando o jogo é privado, gera alerta. Quando é estatal, vira arrecadação solidária. A diferença entre pecado e política está no destino do dinheiro.
Mais grave ainda é o discurso de que a legalização das apostas vai financiar programas sociais. Essa é a lógica que transforma vício em virtude, desde que o imposto venha junto. Um desvio ético travestido de orçamento. O jogo é o mesmo — só muda o dono da ficha.
E há quem ainda chame isso de “liberdade de escolha”. Mas escolha de verdade exige informação, não vício algoritmizado. O modelo de aposta moderna é feito para capturar o comportamento antes da consciência. O app pisca, premia, vibra. Gatilho neural. Jogo em tempo real. Cashback. QR Code. Não é só entretenimento — é engenharia de impulsos. E o Estado não apenas assiste: agora ele quer um percentual.
Se a loteria do governo é legítima, então a crítica às bets é farsa.
Se a crítica às bets é real, então o governo está operando um cassino com CNPJ.
O jogo, enfim, está armado. Mas quem gira a roleta já tem conta pública garantida.
“O governo é bom em tirar dinheiro do povo sob o pretexto de ajudá-lo.” — Ronald Reagan
“A verdadeira hipocrisia é quando o sistema explora o erro que finge combater.” — Danilo Barba
“Se não quer que alguém jogue, não coloque a roleta no centro da sala.” — T. Harv Eker
“A maioria das políticas públicas falha por ignorar o que realmente move o comportamento humano.” — Stephen Covey
“Quando o lucro se disfarça de política, a ética sai de cena.” — Jim Rohn
938# O Falso Progresso - 02/12/25

Existe uma crença crescente de que qualquer admiração pelo passado é um sintoma de ignorância histórica, saudosismo cego ou, pior ainda, flerte com autoritarismos. Esse argumento, porém, escorrega na sua própria contradição: idealiza o presente como se ele fosse neutro, justo e plenamente funcional — quando o que temos, muitas vezes, é caos em HD, miséria em tempo real e liberdade acompanhada de pânico diário. O estudo global da Ipsos de 2024 prova isso: 44% das pessoas em 30 países afirmam que prefeririam ter nascido em 1975, não em 2025 — segue estudo neste link oficial da Ipsos. Isso não é ignorância — é lucidez. É diagnóstico coletivo de um tempo que prometeu tudo e entregou um vazio decorado com ícones de Wi-Fi.
Sim, 1975 era uma ditadura. Mas era também um país com norte, infraestrutura crescendo, segurança pública minimamente funcional e um projeto de Estado que, certo ou errado, existia. O presente oferece liberdade — mas é uma liberdade acompanhada de medo, incerteza e uma avalanche de informações fragmentadas. Estamos livres para trabalhar em três empregos, para morrer esperando atendimento médico e para estudar em escolas sem professor. O Brasil atual é a utopia do progresso técnico com colapso institucional. E aí está o ponto: progresso tecnológico sem progresso humano é apenas aceleração do desespero.
Criticar esse presente não é flertar com o passado — é se recusar a aceitar a narrativa de que tudo melhorou só porque temos aplicativos e diversidade de streaming. As ruas estão mais perigosas, os empregos mais instáveis, a saúde mais distante e o ensino mais superficial. E mesmo assim, o discurso dominante insiste em nos dizer que somos privilegiados por estarmos “no futuro”. Mas futuro de quem? Para quem?
Os que zombam de qualquer nostalgia por 1975 ignoram uma evidência crucial: o passado pode ter sido duro, mas era estável. As regras eram claras, o Estado era compreensível, as instituições funcionavam — ainda que sob a sombra da repressão. Hoje, vivemos em um cenário onde tudo é permitido, mas nada é confiável. O presente é uma overdose de liberdade líquida, sem estrutura sólida para sustentar sequer a saúde mental coletiva.
Não se trata de querer voltar no tempo — mas de ter coragem para recuperar o que funcionava. Ordem, disciplina, autoridade legítima, clareza de papéis. Não precisamos da censura, mas precisamos de hierarquia. Não precisamos do AI-5, mas precisamos de estrutura. Não queremos o silêncio das rádios, mas sim o fim do ruído total.
A nostalgia não é fuga. É resposta racional a um presente que falhou.
“Uma geração que ignora a história não tem passado — nem futuro.” — Robert Heinlein
“A liberdade é inútil se não tivermos segurança para vivê-la.” — Margaret Thatcher
“O progresso é apenas uma palavra bonita se não elevar a dignidade humana.” — Henry Ford
“As épocas mais felizes da humanidade são as páginas em branco da história.” — Georg Hegel
“Nada é mais perigoso do que uma sociedade que acredita ter vencido seus próprios fantasmas.” — Friedrich Nietzsche
939# A Queda da Pan Am - 03/08/25

Durante décadas, a Pan Am não era só uma companhia aérea. Era uma bandeira de poder. Um selo de elegância diplomática. Uma vitrine flutuante da hegemonia americana. Nenhuma empresa cruzava oceanos com tanto prestígio — nem vendia, com tanta naturalidade, a ideia de que voar era privilégio, não produto. A Pan Am era mais que frota: era influência com turbina. Mas exatamente aí começou a queda.
Toda grandeza que se sustenta apenas na aura está a um choque do colapso. E o primeiro baque veio nos anos 70, com o petróleo virando armadilha geopolítica e a desregulamentação do setor aéreo norte-americano expondo a fragilidade estrutural da Pan Am. Fragilidade essa que nunca foi técnica. Foi estratégica. Enquanto suas concorrentes formavam raízes no mercado doméstico, ela voava acima do problema. Até que o problema veio de baixo: sem rede interna, dependia da boa vontade dos outros para encher seus voos.
É o tipo de erro que não aparece no manual, mas estoura no balanço. E o balanço da Pan Am foi sangrando aos poucos, até não aguentar mais.
Mas o que selou a reputação da Pan Am não foram apenas os custos altos ou a concorrência. Foram os acidentes. E, mais do que os acidentes, a narrativa que eles criaram. Três tragédias — Tenerife, New Orleans e Lockerbie — destruíram em poucos anos o que décadas de inovação haviam construído. Quando o nome da sua empresa aparece repetidamente associado à morte, nenhum uniforme de grife ou champagne na cabine apaga o dano. O luxo virou peso. E peso em aviação custa caro.
O erro da Pan Am foi insistir num modelo que não conversava mais com o passageiro real. Ela vendia sonho num mercado que já buscava eficiência. E quando precisou se reinventar, não tinha base, não tinha caixa e, pior, não tinha mais confiança.
Tentou vender pedaços de si mesma — da escola de treinamento às rotas internacionais. No fim, leiloou o próprio nome. Um ato que simboliza mais que falência: simboliza a desistência de existir. Foi como vender a assinatura antes do contrato acabar.
O último pouso, em 1991, não teve bandeira, nem fanfarra. Foi só mais um avião chegando, enquanto o mundo seguia em frente. A imagem do logo azul, já gasto, pousando em Miami, é mais que nostálgica — é pedagógica. Nenhuma marca é grande demais para cair. Nenhuma história é longa o suficiente para dispensar adaptação. Nenhuma empresa sobrevive ao luxo de ignorar o que o cliente já mudou.
Pan Am virou epígrafe de si mesma. Um monumento ao que foi — e ao que se recusou a deixar de ser.
“O sucesso é um péssimo professor. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que não podem perder.” — Bill Gates
“Você pode enganar o mercado por um tempo. Mas não para sempre.” — Warren Buffett
“Quem não se adapta, desaparece. Mesmo que tenha feito história.” — Stephen Covey
“A reputação leva 20 anos para ser construída e 5 minutos para ser destruída.” — Warren Buffett
“O passado é uma referência. Nunca uma âncora.” — Osvandré Lech
940# Jetsons acertaram quase tudo - 02/12/25

Os Jetsons nos prometeram o futuro. Carros voadores, cidades suspensas, entregas por tubo e uma empregada robô chamada Rosey — prestativa, sagaz, leal. O problema? Quase nada disso chegou. E o que chegou... veio capenga. Carros elétricos ainda enfrentam filas. Drones entregam pizza, mas com limite de CEP. E Rosey? Nem sinal. A IA até avançou. Mas não no que mais importa: consciência. Emoção. Julgamento humano. A verdade nua é essa: estamos cercados de “inteligência” que não entende o que sente, nem sabe por que age.
Todo avanço tecnológico tem seu teto. E esse teto raramente é técnico — é conceitual. Rosey não existe porque, para existir, ela teria que entender o outro. Teria que perceber quando não deve limpar, quando um gesto é mais importante que a função. Teria que agir não por comando, mas por contexto. E isso, hoje, continua exclusivo da espécie humana. Um ChatGPT pode escrever Shakespeare. Um robô pode dançar valsa. Mas nenhum deles olha nos olhos, sente empatia ou detecta ironia sem treino. Porque a inteligência que nos torna humanos não se programa. Se desenvolve.
É aí que a ficção tropeça. Quando George Jetson pedia café, Rosey trazia. Quando Elroy chorava, Rosey sabia consolar. O roteiro pressupunha algo que nem mesmo os melhores laboratórios conseguiram replicar: julgamento moral em tempo real. E o mais irônico? As empresas de IA hoje nem tentam. O foco virou planilha, cronograma e funil de conversão — tudo que uma máquina entende, mas um coração ignora.
Por isso a pergunta certa não é: “quando Rosey vai chegar?”. A pergunta é: “o que falta pra que ela possa, de fato, existir?”. E a resposta é desconfortável. Falta humanidade. Falta aquilo que não se copia: ambiguidade, dúvida, compaixão. Rosey não foi um erro de previsão. Foi uma superestimação da tecnologia e uma subestimação do humano. O sonho da robô perfeita esbarrou no nosso próprio reflexo: nem nós sabemos, com clareza, o que nos torna tão complexos. Como esperar que uma máquina saiba?
Essa frustração tecnológica nos ensina algo poderoso: nem todo futuro é programável. Porque há coisas que exigem maturação, não apenas inovação. Nossas maiores potências ainda nascem do imponderável: um toque, um silêncio, um olhar que diz tudo. A IA pode aprender a simular. Mas sentir, de verdade, continua sendo nossa vantagem competitiva mais escassa.
Portanto, da próxima vez que alguém te vender o futuro em slides coloridos e previsões otimistas, pergunte: “esse robô saberia quando calar?”. Porque é aí — no silêncio inteligente — que mora a diferença entre agir... e compreender.
“O verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação.” — Albert Einstein
“Não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou.” — Victor Hugo
“A tecnologia move o mundo, mas as emoções o sustentam.” — Steve Jobs
“Os robôs podem fazer muitas coisas. Mas ainda não aprenderam a amar.” — Elon Musk
“Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança.” — Stephen Hawking
941# Cabral e o Naufrágio - 06/12/25

Em 9 de março de 1500, treze naus e cerca de 1.500 homens zarparam de Lisboa sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Oficialmente, a missão era estabelecer uma rota segura para as Índias, seguindo os rastros deixados por Vasco da Gama. Extraoficialmente, era uma corrida por especiarias — cravo, canela, noz-moscada e pimenta —, bens tão valiosos à época que podiam custar mais do que ouro nas feiras de Bruges ou Gênova. Mas o que os livros escolares chamam de “navegação heróica” foi, na prática, uma jornada marcada por fome, doença, naufrágios e desaparecimentos que tornavam cada dia no mar uma sentença adiada.
A escala no litoral brasileiro — batizado em abril como "Terra de Vera Cruz" — foi um improviso, mas essencial. Cabral permaneceu 10 dias em terra firme. A parada serviu para reabastecimento, troca de mantimentos com os nativos e descanso de parte da tripulação. No entanto, o plano não previa descanso. Em 2 de maio, a frota partiu rumo ao Cabo da Boa Esperança. E foi ali, no sul do continente africano, que a viagem começou a virar estatística fúnebre: quatro embarcações foram engolidas por uma tempestade, inclusive a nau de Bartolomeu Dias, o próprio navegador que havia desbravado aquele trecho do Atlântico 12 anos antes. Com ele, mais de 380 homens desapareceram.
O mar, contudo, era só um dos obstáculos. A viagem era logisticamente dispendiosa: cada nau custava caro para ser aparelhada, exigia meses de suprimentos, centenas de tripulantes, toneladas de lastro, armas, carpinteiros, padres, escribas e soldados. Os custos da expedição de Cabral foram estimados, à época, em dezenas de milhares de cruzados, bancados quase integralmente pela Coroa portuguesa. Mas havia retorno: o comércio de especiarias era tão lucrativo que um único carregamento de pimenta podia pagar toda a viagem e ainda gerar lucros de até 6.000% na revenda em solo europeu.
Essas especiarias, todas de uso culinário e medicinal, formavam o que hoje chamaríamos de commodities de luxo: a noz-moscada era usada para conservar alimentos e fabricar bálsamos; a canela, para perfumar ambientes e remédios; o cravo, como anestésico; e a pimenta, como moeda. Eram raras, perecíveis e escassas. Controlar sua origem era uma forma de controle de mercado — e de poder imperial.
Após meses de navegação e com parte da frota perdida, Cabral aportou em Calicute, na costa da Índia. Mas o que deveria ser uma missão diplomática rapidamente descambou para conflito. Portugueses foram mortos, um entreposto foi incendiado, e Cabral respondeu com bombardeios navais. O saldo foi mais sangue e mais corpos para a já trágica contabilidade da jornada.
O retorno começou em janeiro de 1501. E não seria menos violento. Tempestades no Índico, surtos de escorbuto, mortes por sede e peste. No total, das 13 embarcações que deixaram Lisboa, apenas 4 retornaram ao Tejo. Menos de 700 homens chegaram vivos. Entre os mortos, estava Pero Vaz de Caminha, autor da mais célebre carta da história do Brasil. O cronista não morreu durante o combate em Calicute, nem no naufrágio no Cabo. Morreu pouco depois, segundo registros, vítima de febres enquanto ainda estava na Índia. Sua carta — documento que informaria o rei sobre a existência da nova terra descoberta — foi salva e entregue por outro navegador.
Essa sobrevivência do papel, mas não do autor, é uma das ironias mais agudas da história. Caminha não viu seu nome entrar para os livros. Morreu longe de casa, num porto tropical, consumido por doenças que hoje seriam tratadas com antibióticos.
A viagem de Cabral foi, ao mesmo tempo, uma façanha náutica e uma tragédia humana. A Coroa celebrou os lucros — pimenta suficiente para lotar os armazéns de Lisboa — mas ignorou os túmulos sem lápide espalhados pelo oceano. O império se consolidava ao custo de vidas que jamais teriam nome gravado em pedra. Cada nau era uma aposta cara, mas aceitável, porque o lucro justificava a morte.
Hoje, revisitar essa jornada exige mais do que rever mapas. Exige revisar discursos. A história que nos contaram é épica — mas a que os documentos mostram é brutal. O “descobrimento do Brasil” foi um desvio de rota. A ida à Índia, um conflito comercial. O retorno, um cemitério a céu aberto. O que chamam de heroísmo era logística desesperada. E o que vendem como glória era especulação com vidas humanas.
O mar devolve poucos — e nunca os mesmos. E Pedro Álvares Cabral, que saiu como comandante, voltou como sobrevivente. Não há glória em atravessar oceanos se tudo o que resta são corpos flutuando e especiarias empilhadas nos porões.
“Só os mortos viram o fim da guerra.” — Platão
“As riquezas vêm dos mares, mas seu preço é pago em sangue.” — Baruch Spinoza
“Grandes lucros nascem de grandes riscos. Mas quem arca com o risco raramente colhe o lucro.” — Napoleon Hill
“Viajar é mudar o corpo de lugar. Explorar é mudar o olhar.” — Carl Sagan
“Não há progresso sem perda. A questão é: quem está perdendo?” — Stephen Covey
942# Humanos criam a natureza - 06/12/25

Não foi a biotecnologia que nos transformou em deuses. Foi o contrário. Fomos deuses muito antes de sabermos disso. E a prova está na couve, no milho e no cão que dorme na sua sala. O que chamamos de “natureza” já é, há 50 mil anos, uma criação coletiva da espécie mais ousada que este planeta já produziu: o Homo sapiens.
Enquanto outros animais adaptavam-se ao clima, nós adaptávamos o clima a nós. Onde a caça era escassa, redesenhávamos o ecossistema com fogo e agricultura. Onde havia perigo, domávamos os predadores. Onde havia planta amarga, criávamos pipoca. É isso que Beth Shapiro mostra em Brincando de Deus: o ser humano não é um visitante da natureza — é seu principal arquiteto.
Transformamos o lobo em chihuahua. O teosinto em milho. O repolho selvagem em mais de cinco vegetais diferentes. Alteramos o ciclo do bisão com armadilhas geniais de caça. Espalhamos sementes, cruzamos genes, domesticamos continentes. Nada disso exige CRISPR. Exige imaginação. E ela sempre foi nossa principal ferramenta de engenharia.
Essa é a verdade incômoda para os nostálgicos da “natureza intocada”: ela nunca existiu. A Terra foi moldada por terremotos, vulcões, choques de placas — e por humanos. Fomos mais que predadores. Fomos editores de DNA por tentativa e erro. Coautores silenciosos de uma natureza que já carrega, em cada folha e cada traço animal, o nosso toque. E negar isso é infantilizar a história.
O que impressiona, na leitura de Shapiro, não é a denúncia — é a revelação de grandeza. A mesma espécie que exterminou mamutes também inventou formas de proteger o bisão. A mesma mão que domesticou o cavalo também criou mitos para celebrá-lo. A humanidade falha, sim — mas é também a única criatura que tenta corrigir seus próprios erros ecológicos. Isso é raro. E isso é evolução consciente.
Reduzir o humano à categoria de praga é moda em certos círculos. Mas é má-fé histórica. Fomos os primeiros a transformar comportamento em projeto, instinto em engenharia, adaptação em escolha. O porco que excreta menos fósforo não é aberração genética. É o símbolo de uma civilização tentando ser mais eficiente, mais limpa, mais racional. Um porco com ética embutida no genoma.
Claro, ainda erramos. Mas o erro não é a biotecnologia. O erro é a arrogância sem método. E o antídoto não é nostalgia, mas responsabilidade. Porque sim, editamos espécies. Mas também criamos ciência, regulamentação, bioética. O mesmo cérebro que corta também costura. O mesmo sapiens que invade pode aprender a restaurar.
No fim, é isso que o livro de Beth Shapiro deixa claro: o ser humano não é uma ameaça à natureza — é parte inseparável dela. E mais do que parte: é a espécie que ousou reescrever as regras da vida, e agora tenta entender as consequências. Nossa história não é de dominação — é de construção. A única espécie que pode criar um bisão com genes antigos e um porco com saliva depuradora é também a única que se pergunta se deve fazê-lo. Isso, por si só, é evolução moral.
Negar o nosso papel é um erro estratégico. Precisamos assumir: somos, sim, os grandes editores da vida. Não por vaidade — por capacidade. E o que faremos com essa capacidade define se seremos deuses destrutivos ou jardineiros de um mundo novo.
“A imaginação é mais importante que o conhecimento.” — Albert Einstein
“O mundo natural é, em grande parte, uma construção humana.” — Beth Shapiro
“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein
“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito.” — Aristóteles
“A natureza molda o corpo, mas o ser humano molda o mundo.” — Ortega y Gasset
[797 palavras]
943# Brasil: Liderança Infernal - 06/12/25

Temos orgulho de liderar rankings irrelevantes e nos ofendemos com os que realmente importam. Vibramos com posições em competições esportivas, desfiles culturais, audiências de novela e participação em redes sociais. Mas ignoramos que ocupamos o pódio global em estatísticas que só revelam o tamanho do nosso fracasso civilizatório.
Sim, somos líderes.
Líderes em homicídios.
Líderes em mortes no trânsito.
Líderes em judicialização das relações trabalhistas.
Líderes em litígios empresariais.
Líderes em burocracia para abrir ou manter um negócio.
Esses rankings não são medidos por consultorias de marketing, nem se prestam a narrativas políticas. São indicadores técnicos, objetivos e reiterados por organizações multilaterais há anos. E, o que mais assusta, não mudam — apenas os ignoramos com mais sofisticação a cada ano.
A violência letal é um exemplo brutal. O Brasil registrou mais de 45 mil homicídios em 2024. Isso equivale a uma guerra civil que se desenrola sob a fachada da normalidade institucional. E não adianta repetir o bordão de sempre — “é culpa da desigualdade”, “é reflexo da falta de educação”, “é um problema complexo”. Isso é distração. O que há é um Estado que perdeu o monopólio da força, que simula políticas públicas e que terceiriza o controle territorial para o crime organizado. A segurança virou uma ficção vendida em campanha eleitoral.
No trânsito, os números são tão trágicos quanto ignorados. O Brasil mata mais de 30 mil pessoas por ano em acidentes viários. Isso sem contar os milhares de mutilados e os custos bilionários para o sistema de saúde e previdência. E qual a reação institucional? Campanhas publicitárias com jingles mal ensaiados, placas em rodovias mal conservadas e operações pontuais para inglês ver. A fiscalização é escassa, a infraestrutura é precária e a impunidade é regra. Ninguém teme as consequências porque não há consequência real para quase nada no Brasil.
Outro caso simbólico é o volume de processos trabalhistas. Não existe país no mundo com tanto litígio entre patrão e empregado quanto o Brasil. São milhões de ações por ano. Isso deveria gerar um debate sério sobre o modelo jurídico-laboral, mas virou lugar-comum. Muitos comemoram isso como “maturidade institucional”, quando na verdade trata-se de um ambiente tóxico onde a confiança entre as partes foi substituída por assessoria jurídica preventiva. Trabalha-se com medo. Contrata-se com receio. Demite-se com cautela extrema. E a justiça, lenta e sobrecarregada, alimenta o ciclo.
A cultura do litígio se estende para o ambiente empresarial. O Brasil figura entre os países mais hostis ao empreendedorismo formal. Abrir uma empresa aqui é entrar em um campo minado regulatório. Cada município tem uma lógica, cada Estado tem um sistema próprio, e o governo federal muda as regras conforme o humor de quem está no Planalto. Um simples erro formal pode gerar autuações, multas e, não raramente, o fechamento do negócio. Não por má-fé — mas por desorganização.
Esses fatores juntos explicam porque o Brasil patina no crescimento, vive ciclos econômicos instáveis e falha em atrair investimentos duradouros. Os problemas não são só macroeconômicos. São estruturais, operacionais e — principalmente — culturais. E isso exige coragem institucional para mudar. Mas o que temos, via de regra, é conveniência. Políticos que usam a burocracia para nomeações, empresários que lucram com brechas, juristas que transformaram o caos legal em fonte de renda. Ninguém quer perder — mesmo que o país não ganhe.
A educação, que deveria ser o vetor de mudança, segue entregue à estagnação. Em vez de formar cidadãos com base cívica e competência técnica, formamos jovens que decoram leis e esquecem a lógica. Criamos uma escola que ensina como "evitar processo", mas não como entregar resultado. Em uma sociedade onde quase tudo é judicializável, o medo substituiu o bom senso.
O mais grave, porém, não são os números. É a maneira como os normalizamos. Morre-se muito no Brasil, mas a reação é baixa. Mata-se com frequência, mas com justificativas em série. Processa-se de forma banal, mas com discurso de cidadania. Criamos uma cultura onde o erro é aceito, onde o improviso é rotina, e onde a ineficiência virou um traço nacional.
O brasileiro médio vive cercado por regras que não entende, normas que se contradizem e instituições que falham — mas que se apresentam como garantidoras da ordem. Na prática, o cidadão vive tentando evitar ser punido por algo que nem sabia que era proibido. E quando precisa do Estado, ele vem tarde, mal e com protocolos que mais atrapalham do que ajudam.
Não estamos diante de um país pobre. Estamos diante de um país mal organizado, mal gerido e, em muitos casos, mal-intencionado. E é isso que precisa ser dito com todas as letras. O Brasil não fracassa por falta de talento, nem por falta de recursos. Fracassa porque construiu um modelo institucional que recompensa o desvio e pune quem tenta fazer certo.
É isso que nos coloca no topo dos piores rankings. E enquanto tratarmos essa tragédia como estatística, ela seguirá nos tratando como rotina.
“A decadência de uma nação começa quando ela passa a aceitar o que antes repudiava.” — John Stuart Mill
“Onde a punição falha, a impunidade governa.” — Friedrich Schiller
“Mais do que governos ruins, o que destrói um país são sistemas que os sustentam.” — Alexis de Tocqueville
“Corrigir um erro é sempre mais caro que evitá-lo.” — Peter Drucker
“Se nada for feito, tudo continuará igual.” — Thomas Sowell
944# Nem o VAR salva! - 06/12/25

Se preparem, pois daqui alguns dias inicia o ano de 2026. Um ano muito esperado pelos brasileiros por duas coisas que ultimamente só estão trazendo tristeza: Copa do Mundo, que tem um impacto zero na vida de 99,999999% da população, e Eleições, que tem impacto em 100%, onde 1% é positivo e 99% é negativo, pois não espere que sua vida vai melhorar independente do resultado... se você não estudar, aprender bem seu idioma, aprender matemática, ter intimidade com IA, falar um segundo idioma, saber lógica, dominar excel... você estará f*dido.
É isso mesmo. E nem venha com a velha desculpa de que “o povo é guerreiro”. Guerreiro, sim — mas só no discurso. Porque na prática, o que temos é um país inteiro esperando que um técnico e um político façam milagre ao mesmo tempo. Um pra levantar a taça. Outro pra resolver tudo que ninguém quer estudar pra entender. Futebol e política: as duas religiões nacionais. Mas nenhuma exige sacrifício pessoal. Só torcida.
Enquanto o mundo discute algoritmos, transformação digital e soberania tecnológica, o brasileiro médio está debatendo convocação de atacante e plano de governo de deputado estadual. O brasileiro quer ganhar a Copa, pagar menos imposto e viver tranquilo — mas sem abrir mão do TikTok, do churrasco, da Black Friday e da próxima novela. Quer solução, mas terceiriza o esforço. Espera resultado, mas não se move. E aí 2026 chega como promessa, quando na verdade é mais um lembrete: o jogo é o mesmo. O juiz mudou, os times mudaram, mas a regra é a mesma — quem não sabe jogar, é engolido.
A Copa será um espetáculo para anestesiar. O ciclo perfeito: 90 minutos de exaltação, 4 semanas de fuga, e uma vida inteira de realidade ignorada. E se o Brasil ganhar? Nada muda. Se perder? Também não. O PIB não cresce com gol. A educação não melhora com pênalti. A inflação não cede com posse de bola. Mas o brasileiro assiste, chora, vibra — e volta a pagar boleto no dia seguinte. O sistema agradece.
Já nas eleições, a farsa se repete com script ainda mais cínico. Promessas sem lastro, discursos ensaiados, fake news industrializadas e um mar de analfabetismo funcional disfarçado de opinião. A cada ciclo eleitoral, novos salvadores surgem — e desaparecem com a mesma rapidez. Porque a verdade, dita às claras, é dura demais: nenhum político resolve o que sua ignorância produz. E nem deve. Política é reflexo, não remédio.
Se você não dominar lógica básica, não souber escrever um e-mail decente, não compreender o que é uma função exponencial, não souber diferenciar juro simples de composto — você será um escravo digital de luxo. Tatuagem no braço, iPhone no bolso e currículo vazio. Bonito por fora, inofensivo por dentro.
2026 não será um ano de virada. Será só mais um ano em que os desavisados torcem, os alienados votam, e os lúcidos trabalham em silêncio.
A real é essa: ou você vira especialista na sua própria sobrevivência, ou será apenas mais um dado estatístico no Brasil do replay eterno. Sem VAR. E sem futuro.
“O mundo não lhe deve nada. Ele estava aqui antes de você.” — Mark Twain
“Se você quer algo novo, pare de fazer o velho.” — Peter Drucker
“O futuro pertence àqueles que se preparam para ele hoje.” — Malcolm X
“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” — Nelson Mandela
“O preço da ignorância é sempre maior do que o da informação.” — Robert Kiyosaki
945# Babaçu: ONG Rica, Povo Pobre - 07/12/25

Estou lendo o livro de Leandro Narloch "GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DO MEIO AMBIENTE", e muita coisa que eu desconfiava, se mostra muito pior...Olhem esse texto que fiz baseado na obra.
A bioeconomia amazônica é um espetáculo. Só que não daqueles que você paga ingresso. É gratuito. Como o desastre.
Durante décadas, venderam a ideia de que dá pra preservar floresta e enriquecer ao mesmo tempo. A narrativa era linda: manter a árvore em pé, o morador por baixo e o repasse no meio. E o símbolo máximo dessa equação? O babaçu.
O coco que virou ouro. Mas só no PowerPoint.
De 2018 pra cá, quase R$ 40 milhões foram investidos em projetos de babaçu. Nomes poéticos, vídeos com musiquinha de violão, muitas palmas em auditórios climatizados. Resultado prático? A produção despencou. Mais de 80% de queda em valor real. Isso mesmo: quanto mais dinheiro colocaram no sistema, menos coco saiu dele.
Não é piada. É projeto.
Porque o babaçu não é negócio. Virou enredo. Roteiro de documentário europeu. Justificativa de edital. Um produto que ninguém mais compra... mas que todo mundo quer “defender”. E quanto mais falam dele, mais pobre fica quem o coleta.
É uma lógica cruel — e eficiente: a riqueza está no projeto, não no produto.
As quebradeiras hoje ganham mais sorrindo para câmera do que extraindo óleo. Mais gravando podcast do que ralando no mato. E você pode até achar isso ótimo. Mas se a única forma de fazer o babaçu dar certo é parando de trabalhar com babaçu... talvez tenha alguma coisa errada aí, não?
Errado pra quem vive daquilo, claro. Porque, para os gestores de ONG, analistas de impacto e consultores ESG, tá tudo maravilhoso. A pobreza continua lá, firme, sustentável — e cada vez mais elegante.
Com a estética certa, até a miséria fica chique.
É como se o Brasil tivesse criado uma nova commodity: a pobreza certificada. Você coleta, embala, apresenta no exterior... e monetiza. Só não melhora a vida de quem vive na floresta. Mas isso não entra no relatório.
Tem gente que ainda acredita nessa farsa com fé cega. O tipo que diz que “a bioeconomia vai transformar a Amazônia” enquanto posta stories do Leblon. Gente que ama a floresta, mas odeia estrada. Ama o extrativismo... desde que ele não envolva caminhão, asfalto ou lucro.
A verdade? A floresta em pé não sustenta ninguém — sozinha.
Sem logística, sem mercado, sem escala, sem tecnologia... o que você tem é só uma paisagem. Bonita, claro. Mas vazia. E o babaçu virou exatamente isso: uma paisagem com discurso.
Enquanto isso, o povo lá — o povo de verdade — quer 4x4, energia, faculdade, renda. Quer parar de catar coquinho e começar a viver. Mas isso é ofensivo. Porque não rende material de divulgação.
E não adianta citar exceções. O açaí é um sucesso? Sim. Mas porque fugiu da lógica do subsídio. Cresceu por demanda, mercado, eficiência. Não teve edital com nome fofo nem ONG com camisa de algodão orgânico.
O babaçu poderia seguir o mesmo caminho. Mas isso implicaria abrir mão de um sistema onde o fracasso é lucrativo — para quem não depende dele.
No fim das contas, o babaçu serve, sim. Mas não para alimentar famílias. Serve para alimentar reputações.
E nisso, convenhamos... ele é um sucesso absoluto.
“O maior inimigo do progresso é a ilusão da segurança.” — Robert Kiyosaki
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
“Sucesso real não se mede em reais. Mede-se em acesso, liberdade, capacidade de escolha.” — Jim Rohn
“É bom que o povo da nação não entenda o nosso sistema bancário e monetário, porque se entendesse, haveria uma revolução amanhã de manhã.” — Henry Ford
“Você não precisa derrubar um sistema. Basta sair dele.” — Danilo Barba
946# Falar é Domínio - 07/12/25

Entre todas as tecnologias que moldaram a humanidade — fogo, roda, escrita, motores, circuitos — existe uma que surgiu antes de todas elas. E, talvez, seja a única que ainda nos diferencia de forma real: a fala.
Sim, falar. Emitir sons coordenados, construir sentido, modular intenções, acessar o outro pelo timbre e ritmo. Antes de qualquer chip, houve uma boca. Antes de qualquer robô, uma história contada. E antes de qualquer algoritmo, uma pergunta feita em voz alta. A fala é o código-fonte da civilização. E negligenciar seu impacto é um dos maiores erros que a indústria comete hoje.
Porque a fala não é só comunicação — é coordenação. É através dela que convencemos, que comandamos, que conectamos. Toda liderança nasce da fala. E todo fracasso começa quando ela falha. Num mundo que idolatra dashboards e esquece conversas, estamos terceirizando o que nos tornou humanos: o verbo. O verbo que não apenas descreve, mas transforma.
Nenhum animal fala como nós. Nem por limitação física, mas por complexidade cognitiva. Enquanto o gorila ensina ao filhote onde encontrar comida, nós explicamos por que ela acabou. Enquanto o cão late para alertar, nós descrevemos a causa, o cenário e o impacto. A fala humana é narrativa, causa, consequência, hipótese, ironia, metáfora, absurdo. É excesso. É estética. E é, acima de tudo, intenção consciente de influenciar outro cérebro.
O que nos fez dominar o mundo não foi o músculo, mas a articulação fonêmica. O Homo sapiens venceu porque aprendeu a falar de coisas que não existem: deuses, contratos, futuro. Só quem fala o inexistente pode construir o impossível. O contrato é fala congelada em papel. A empresa é um amontoado de palavras com CNPJ. A marca, uma história que alguém contou bem. Tudo começa no som.
Hoje, em pleno 2025, é comum ver líderes que dominam relatórios mas gaguejam em reuniões. Profissionais que desenham fluxogramas, mas não sabem pedir ajuda. Times que se atolam em ruídos porque ninguém consegue dizer o que realmente pensa. Empresas que preferem “protocolar e-mails” a resolver no olho. Um mundo que grita por comunicação clara... e recebe slides frios e ruídos mornos.
A fala é performance. É arma. É escudo. E, como toda tecnologia poderosa, exige treinamento. Quem fala bem pensa melhor. Porque estruturar o pensamento para o outro exige organizar o pensamento para si. Falar bem não é talento: é competência. Técnica. Método. E, em muitos casos, sobrevivência.
Uma empresa sem fala clara é uma empresa sem inteligência coletiva. Um gestor que não ouve é um risco. Um profissional que não sabe se expressar é um talento engavetado. E uma liderança que evita conversas difíceis é uma bomba relógio com relógio quebrado. Porque o silêncio — no mundo do trabalho — é quase sempre a prévia do erro.
Se quisermos um mercado mais eficiente, precisamos de mais voz. Se desejamos menos ruído, precisamos de mais escuta ativa. Se buscamos inovação, precisamos de ambientes onde a fala seja valorizada como ativo estratégico — não como “soft skill” de LinkedIn. A fala não é acessório. É infraestrutura.
Num mundo cada vez mais dominado por texto, comandos e modelos de linguagem, talvez o mais revolucionário seja reaprender a conversar. De verdade. Com coragem. Com propósito. Com clareza. Porque se o futuro depender apenas de comandos de linguagem, quem souber estruturá-los com clareza e intenção — seja com colegas ou com sistemas — terá vantagem decisiva. E, nesse caso, falar bem não será opção. Será critério de seleção.
“O que se diz pode ser esquecido. Mas o que se cala, apodrece.” — Jean-Paul Sartre
“A palavra é metade de quem convence. A outra metade é o silêncio de quem escuta.” — Baruch Spinoza
“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.” — Michael Jordan
“Liderança é a capacidade de transformar visão em realidade.” — Warren Bennis
“Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.” — Albert Einstein
947# Continue cumprimentando o ChatGPT! – 13/12/25

Se você acredita que o ChatGPT vai causar colapso hídrico global, parabéns: você é a nova geração de analfabetos técnicos com diploma de influencer climático. Não entende engenharia, não lê pesquisa, mas espalha terrorismo hídrico com base em números mal lidos e gráficos sem unidade. Porque hoje, ser ignorante com convicção rende mais do que saber do que está falando.
Manchete é vazão. Inteligência é perda.
A internet surtou com a ideia de que a IA “evapora” milhões de litros de água. Espalharam que o ChatGPT consome 148 milhões de litros por dia, o equivalente ao abastecimento de Salvador, e que isso só tende a piorar.
Mas sabe o que ninguém faz? Pega uma fonte técnica. E faz conta.
Vamos ao que os alarmistas nunca citam: o estudo do KTH Royal Institute of Technology (Suécia), um dos melhores centros de engenharia da Europa, publicou um relatório detalhado chamado Cooling Tower Water and Energy Efficiencies — leia aqui.
Esse documento explica, com gráficos e fórmulas, como torres de resfriamento funcionam, onde há perda de água e quanto disso é reposição real. Não são opiniões. São cálculos. E são públicos.
A equação que eles ignoram (porque atrapalha o pânico)
A perda por evaporação segue uma fórmula básica, validada há décadas:
Evaporação (m³/h) = 0,001 × Vazão de recirculação (m³/h) × ΔT (°C)
Adicione a isso:
- Arraste (ou "drift"): 0,1% a 0,3% da vazão
- Purga (ou "blowdown"): perda controlada para evitar concentração de sais, definida por:
Purga (%) = Evaporação / (Ciclos de concentração - 1)
E você tem o balanço hídrico completo de uma torre.
Nada disso é segredo. Está em livros, normas e manuais. Mas exige saber ler — o que, aparentemente, é pedir demais para quem acredita que data center bebe água de canudinho.
O exemplo que desmonta a farsa
Vamos falar de uma torre de resfriamento com 500 m³/h de recirculação — típica em plantas médias de processo ou em um data center parrudo. Com uma diferença de temperatura de 6 °C entre entrada e saída, temos:
- Evaporação:
0,001 × 500 × 6 = 3 m³/h - Arraste estimado: 0,5 m³/h
- Purga com 5 ciclos de concentração: ~0,75 m³/h
- Total de reposição: 4,25 m³/h
Em 24h, isso dá 102 m³/dia de consumo real de água.
Mas segundo os profetas do apocalipse hídrico, essa torre consome 12.000 m³/dia — porque confundem vazão com consumo, o que nos dias de hoje é muito compreensível.
A matemática é pública. A burrice, também.
Se você olha para uma torre de 500 m³/h e acha que isso representa 500 m³/h de “água perdida”, talvez esteja qualificado para operar um balde — com supervisão. O circuito de resfriamento é fechado. A água não some. Ela recircula, resfria, retorna. O que se perde é pouco. E monitorado.
Querem dramatizar como se a IA estivesse esvaziando aquíferos — quando o consumo de água vem de processos muito mais relevantes (e ignorados):
- Agricultura sem controle de irrigação
- Vazamentos urbanos
- Indústrias sem recirculação
- Vazamento de lógica em rede social
Data center sério não é fonte. É circuito.
Data centers modernos não são caixas pretas malucas. São sistemas gerenciados, com sensores, controle de ciclos, reaproveitamento de condensado, resfriamento adiabático, torres híbridas e, em muitos casos, operação em circuito quase fechado.
Sabe por quê? Porque custo de água pesa no OPEX. Porque escala de operação exige eficiência. Porque data center não é ONG: é negócio.
Mas vamos voltar aos burrinhos do pânico
Sim, o ChatGPT consome energia. Sim, usa sistemas de resfriamento. Mas pegar o número bruto de mensagens e multiplicar por uma média de evaporação inventada para gerar pânico ambiental é o tipo de coisa que só funciona quando ninguém tem coragem de levantar a mão e perguntar: “isso faz sentido?”
Spoiler: não faz.
O drama não é a IA. É o cérebro desligado.
Pessoas que ficam chocadas com "milhões de litros de água por dia" geralmente não têm ideia de quanto isso representa no contexto global. Nem querem ter. O objetivo é causar alarme, não informar. Gente que nunca operou uma bomba de recalque agora virou referência em consumo hídrico mundial.
Se a burrice evaporasse como água, aí sim a IA seria um risco ambiental real.
A verdade: a IA não é o problema. O problema são os influencers que acham que torre de resfriamento é mangueira no esgoto.
“A ignorância não é um problema técnico. É uma escolha.” — Danilo Barba
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
“A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição.” — Adam Smith
“É mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que foi enganada.” — Mark Twain
“Se os fatos não se encaixam na teoria, mude os fatos.” — Albert Einstein
948# Não fique bravo comigo! - 15/12/25

Se você hoje não acha que aos 18 anos era um idiota, tenho o dever de te informar que você provalmente continua um idiota.
Antes que a frase seja lida como ofensa gratuita, vale um esclarecimento essencial. Aqui, “idiota” não se refere a capacidade intelectual, formação acadêmica ou valor moral. Trata-se de um recurso provocativo para nomear um traço específico do comportamento humano: a incapacidade de revisar criticamente o próprio passado. Em psicologia, isso é um sinal claro de estagnação cognitiva. O desconforto causado pela frase não é um efeito colateral — é parte do método. Onde não há incômodo, raramente há transformação.
Aos 18 anos, o indivíduo opera com um repertório inevitavelmente limitado. A visão de mundo ainda é rasa, excessivamente moralizada e sustentada mais por convicção emocional do que por análise da realidade. Essa fase é marcada por certezas fortes e pouca consciência das consequências. Isso não é um defeito pessoal, mas uma etapa natural do desenvolvimento humano. O problema começa quando, muitos anos depois, essa mesma pessoa olha para trás e não identifica nenhuma falha relevante em como pensava, julgava ou decidia. Nesse caso, não estamos diante de maturidade, mas de cristalização psicológica.
Amadurecer não é acumular tempo de vida, cargos ou experiências isoladas. Amadurecer é revisar os próprios modelos mentais. É reconhecer que opiniões antigas foram construídas com pouca informação, baixa responsabilidade e quase nenhuma exposição ao custo real das escolhas. Pessoas que evoluem de verdade conseguem nomear erros passados com clareza. Pessoas que não evoluem chamam seus erros antigos de “princípios” e os defendem como se fossem virtudes.
Existe uma confusão recorrente entre firmeza e rigidez. A firmeza nasce da reflexão contínua e da adaptação inteligente à realidade. A rigidez nasce do medo de admitir que se estava errado. O indivíduo rígido protege o ego, mas paga caro por isso: torna-se defensivo, pouco aprendente e emocionalmente dependente de narrativas antigas sobre si mesmo. Já a maturidade exige uma habilidade rara — suportar a própria revisão interna sem entrar em colapso identitário.
No ambiente profissional, essa diferença é visível. Adultos que não toleram questionamentos, reagem mal a feedbacks e confundem discordância com desrespeito geralmente não estão defendendo ideias, mas protegendo a versão jovem de si mesmos. Isso compromete decisões, relações e liderança. O passado vira âncora, não aprendizado. E quanto mais tempo essa âncora permanece intacta, mais difícil se torna evoluir.
Há um indicador simples — e profundamente incômodo — de desenvolvimento psicológico saudável: a vergonha intelectual moderada. Não aquela que paralisa, mas a que esclarece. É a percepção de que o “eu” do passado era mais simplório, mais apressado e mais arrogante do que se imaginava. Quando alguém afirma com orgulho que “sempre pensou assim”, o que normalmente está dizendo é que nunca se permitiu pensar melhor. O tempo passa, mas a mente permanece no mesmo lugar.
Reconhecer que aos 18 anos fomos limitados, ingênuos e, sim, idiotas em muitas convicções não diminui ninguém. Pelo contrário. Esse reconhecimento é um marco de lucidez adulta. Quem não consegue enxergar o idiota que foi corre um risco evidente: continuar repetindo o mesmo papel ao longo da vida, apenas com mais idade, mais responsabilidade e consequências mais caras.
“Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião.” — John Maynard Keynes
“A ignorância afirma com convicção; o conhecimento começa pela dúvida.” — Voltaire
“O homem é a única criatura que resiste a ser aquilo que é.” — Albert Camus
“O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão de saber.” — Stephen Hawking
“Não evoluir é optar conscientemente pelo conforto do erro.” — Danilo Barba
949# Somos unicamente únicos! - 15/12/25

O ser humano é celebrado como extraordinário, mas quase sempre pelo ângulo errado. Não somos grandiosos por aquilo que dominamos, mas por aquilo que jamais controlaremos. Somos a única espécie condenada a pensar sabendo que pensar não resolve tudo. Carregamos a lucidez como um fardo, não como um troféu. A consciência não veio acompanhada de manual, nem de promessa de paz. Ela apenas nos foi entregue, crua, exigindo interpretação constante, como um problema que não aceita solução definitiva. É nesse ponto que começa nossa singularidade: não no otimismo, mas na tragédia de saber demais para descansar e de saber de menos para concluir.
Nenhum outro ser vive essa contradição estrutural. Perseguimos ideais que sabemos inalcançáveis, defendemos verdades que aceitamos serem provisórias e criamos explicações para o mundo enquanto sabemos que elas serão superadas. A consciência não elimina a ilusão; apenas a torna sofisticada. Criamos sistemas, crenças e narrativas para suportar o peso de existir, mesmo entendendo que ignorar a realidade não cancela suas consequências. O humano não foge da angústia: ele a administra. E nessa administração, constrói ciência, arte, moral e também autoengano.
A pergunta é o nosso verdadeiro marco evolutivo. Animais não perguntam porque vivem no agora. Máquinas não perguntam porque operam dentro de parâmetros. Até uma divindade, se existir, não pergunta porque já saberia. Perguntar é o privilégio de quem sabe que não sabe. É o gesto inaugural da inquietação. Perguntar abre feridas, mas também abre caminhos. Toda pergunta carrega um risco: o de não gostar da resposta ou de nunca recebê-la. Ainda assim, insistimos. Essa insistência explica nossa ansiedade, nossa melancolia, nossa euforia e nossas mentiras elaboradas. Perguntar nos fragmenta, mas também nos projeta para frente.
É curioso observar que chamamos de inteligência aquilo que responde rápido, mas ignoramos que o verdadeiro salto cognitivo está na formulação da pergunta certa. Talvez um dia chamemos a inteligência artificial de inteligente apenas quando ela for capaz de perguntar algo que não foi programada para perguntar. Até lá, ela será apenas uma estrutura eficiente de respostas. O humano, ao contrário, vive em permanente estado de interrogação. Não somos especiais por responder corretamente, mas por continuar perguntando mesmo quando a resposta não vem, ou quando vem e decepciona.
Ser unicamente único não é uma vantagem competitiva da espécie. É um destino. Um destino que nos obriga a conviver com dúvidas insolúveis, escolhas imperfeitas e sentidos provisórios. A grandeza humana não está em alcançar certezas, mas em suportar a ausência delas sem paralisar. Continuamos andando mesmo com o chão instável, construindo mesmo com mapas incompletos. Essa é nossa tragédia e, paradoxalmente, nossa força. Somos unicamente únicos porque insistimos em perguntar — mesmo sabendo que muitas respostas jamais existirão.
“O importante é não parar de questionar.” — Albert Einstein
“O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é.” — Albert Camus
“Tentar se definir é como tentar morder os próprios dentes.” — Alan Watts
“A vida não examinada não vale a pena ser vivida.” — Sócrates
“A disciplina de fazer as perguntas certas é o início de toda mudança.” — Jim Rohn
950# Chamar pelo nome certo - 16/12/25

Confúcio, há mais de dois milênios, deixou um ensinamento que hoje soa quase ofensivo em ambientes de decisão, liderança e gestão:
“If names be not correct, language is not in accordance with the truth of things. If language is not in accordance with the truth of things, affairs cannot be carried on to success.” — Confúcio
Essa é a base do que ficou conhecido como a retificação dos nomes, frequentemente resumida na frase: “O início da sabedoria é chamar as coisas pelo seu devido nome”. Não é uma reflexão poética. É um alerta operacional.
Quando o nome está errado, o diagnóstico nasce torto. E diagnóstico torto leva a decisão ruim, que leva a execução fraca, que termina em resultado medíocre. Não existe liderança sólida construída sobre palavras frouxas. Linguagem não é detalhe estético — é infraestrutura invisível de qualquer sistema que pretenda funcionar.
Observe o cotidiano profissional. Erro vira “aprendizado”. Fracasso vira “desalinhamento momentâneo”. Improviso vira “agilidade”. Falta de preparo vira “contexto desafiador”. O problema não está em suavizar o tom, mas em dissolver a verdade. Quando isso acontece, ninguém aprende, ninguém corrige e ninguém melhora. Apenas se protege.
Confúcio foi direto: se a linguagem não reflete a verdade das coisas, os assuntos não chegam ao sucesso. Isso não é filosofia abstrata. É lógica aplicada. Um gestor que não chama erro de erro não corrige — administra consequências. Um time que não chama meta de meta negocia expectativa. Um projeto que não chama custo de custo vira fé.
A escolha das palavras molda o comportamento. Quando tudo é “complexo”, nada é resolvido. Quando tudo é “relativo”, ninguém assume responsabilidade. Quando tudo é “processo”, o problema nunca é de alguém. A confusão semântica cria conforto psicológico imediato e destruição prática no médio prazo.
Chamar as coisas pelo nome certo exige coragem. Exige aceitar desconforto, ruído e, muitas vezes, conflito. Mas também é o único caminho para a ação efetiva. Um problema bem nomeado já está meio resolvido porque agora ele existe de verdade. Está visível. Está delimitado. Pode ser enfrentado.
Isso vale para empresas, para lideranças e para a vida pessoal. Um feedback honesto dói mais no começo, mas economiza meses de frustração. Um diagnóstico claro incomoda mais do que um discurso bonito, mas abre espaço para mudança real. A linguagem precisa parar de proteger o ego e começar a servir à realidade.
No fim, Confúcio não estava ensinando retórica. Estava ensinando responsabilidade. Nomear corretamente é um ato de respeito à verdade. E sem verdade, não existe decisão boa, não existe execução sólida, não existe resultado sustentável.
Quem foge do nome foge da solução. Quem encara o nome certo, mesmo quando é incômodo, já começou a andar.
“Quando a linguagem não está de acordo com a verdade das coisas, nada pode ser bem-feito.” — Confúcio
“A definição correta do problema já é metade da solução.” — John D. Rockefeller
“Encare a realidade como ela é, não como você deseja que ela seja.” — Jack Welch
“A verdade é filha do tempo, não da autoridade.” — Francis Bacon
“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech
951# A China confunde o Brasil - 16/12/25

Existe uma confusão intelectual deliberada no debate brasileiro sobre pobreza, crescimento e justiça social. Confunde-se ajudar com sustentar, amparar com eternizar, proteger com aprisionar. O discurso é sempre bem-intencionado, cheio de palavras suaves e promessas morais elevadas. Mas a realidade não opera por intenção. Opera por incentivos. E quando o incentivo principal de um sistema é não produzir, não assumir risco e não competir, o resultado não é dignidade. É dependência crônica. A pobreza deixa de ser um problema a ser resolvido e vira um ativo político e moral a ser preservado.
O curioso é que uma das críticas mais duras a esse modelo não veio de um liberal ocidental, nem de um economista de mercado. Veio da China. Em 2021, Xi Jinping afirmou que o assistencialismo excessivo cria um grupo que vive do trabalho alheio, torna as contas públicas insustentáveis e aprisiona países na chamada armadilha da renda média. Não é um elogio ao capitalismo. É uma constatação fria: distribuir renda sem criar produtividade não constrói prosperidade. Apenas redistribui escassez por mais tempo.
A China cresceu fazendo exatamente o oposto do que o Brasil romantiza. Não vendeu conforto. Vendeu esforço. Não prometeu proteção permanente. Exigiu entrega. Criou um ambiente brutalmente competitivo, com jornadas exaustivas, poucos benefícios sociais e um Estado forte na economia, mas fraco na defesa individual. O custo humano foi alto, desigualdades cresceram e o desgaste social é visível. Mas o ponto incômodo permanece: eles enriqueceram antes de distribuir. Aqui, tentamos distribuir antes de enriquecer — e falhamos nos dois.
Enquanto o Brasil gasta perto de 20% do PIB com benefícios sociais, a China gastava cerca de 8%. A diferença não é moral. É estrutural. O sistema chinês empurrou milhões para o trabalho produtivo, mesmo em condições duras, e canalizou poupança forçada para industrialização. O brasileiro, ao contrário, construiu um modelo onde sobreviver sem produzir virou política pública estável. Não é coincidência termos baixo crescimento, baixa produtividade e uma indústria em retração contínua.
O assistencialismo não quebra um país no primeiro mandato. Ele cria rigidez. Benefícios concedidos não recuam. Tornam-se direitos adquiridos, blindados por discurso ético. Qualquer tentativa de ajuste vira ataque aos pobres. O problema é que o pobre continua pobre, só que agora institucionalizado. A miséria passa a ter orçamento, secretaria, ONG, campanha e slogan. Resolve-se o fluxo de dinheiro, não a causa da estagnação.
Não se trata de defender jornadas desumanas ou importar o modelo chinês. Trata-se de reconhecer que prosperidade exige desconforto inicial, esforço acumulado, investimento produtivo e recompensa ao mérito. País nenhum enriqueceu protegendo indefinidamente sua população do esforço. Crescimento não nasce de transferência contínua, nasce de trabalho produtivo, escala, eficiência e risco. O resto é anestesia social.
Se quisermos reduzir pobreza de verdade, precisamos parar de tratá-la como algo a ser administrado e voltar a tratá-la como algo a ser superado. Isso exige coragem política e maturidade social. Assistência deve ser ponte, não moradia permanente. Quando vira moradia, o futuro desaba.
Ou o país escolhe crescer, ou escolhe cuidar da própria estagnação com discursos cada vez mais caros. As duas coisas ao mesmo tempo não existem.
“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith
“A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou.” — Adam Smith
“A prosperidade não é resultado de sorte, mas de decisões repetidas corretamente.” — Jim Rohn
“O que é fácil agora, torna a vida difícil depois.” — Robert Kiyosaki
“A disciplina é a ponte entre metas e realizações.” — Jim Rohn
952# Adeus Ano Velho - 18/12/25

Todo fim de ano a cena se repete. Gente fazendo retrospectiva, gente prometendo mundos e fundos, gente dizendo que “ano que vem vai”. A maioria trata isso como folclore, ingenuidade coletiva ou autoengano barato. Mas esse desprezo é superficial. O que está em jogo ali não é esperança boba. É sobrevivência mental. Uma das invenções mais poderosas da humanidade não foi a informática, o smartphone, o avião, a matemática ou a bomba nuclear. Tampouco foi o dinheiro. Muito menos o viagra. Foi algo muito mais simples, menos glamouroso e infinitamente mais eficaz: o calendário.
O calendário não resolve problemas técnicos. Ele resolve um problema muito maior: como continuar existindo sem enlouquecer diante do tempo infinito. Yuval Noah Harari explica em Sapiens que o Homo sapiens só se tornou dominante quando passou a viver dentro de realidades imaginadas coletivamente. Não foi o braço, nem o cérebro isolado. Foi a capacidade de criar estruturas simbólicas compartilhadas: mitos, leis, religiões, dinheiro, Estados. O calendário entra exatamente nesse pacote. Ele não é natural. Não existe no mundo físico. É uma ficção acordada em grupo — e justamente por isso funciona.
Na natureza, nada “vira o ano”. O tempo é um fluxo contínuo, indiferente, sem marcos. Um animal não faz balanço. Uma árvore não comemora ciclo encerrado. Só o ser humano precisa disso porque só o ser humano sofre antecipadamente, se arrepende retroativamente e projeta futuros que ainda não existem. O calendário nasce para conter esse excesso cognitivo. Ele pega o infinito e corta em pedaços suportáveis. Ele diz: aqui começa, aqui termina. Aguente até aqui.
Agora imagine o oposto. Uma vida sem calendário. Sem anos, sem meses, sem datas simbólicas. Sem aniversário. Sem “acabou”. Sem “agora começa”. Nada termina oficialmente. Nada começa de verdade. Tudo apenas se arrasta. Isso não é liberdade. Isso é tortura psicológica. Projetos sem prazo não motivam, adoecem. Sofrimentos sem data de fim não fortalecem, destroem. Erros sem fechamento viram identidade. O calendário resolve isso com brutal simplicidade: ele cria fins artificiais — e esses fins salvam.
Harari mostra que a grande virada da história humana não foi tecnológica, foi cognitiva. A Revolução Cognitiva permitiu que milhões de desconhecidos cooperassem acreditando nas mesmas histórias. O calendário é uma dessas histórias. Ele sincroniza pessoas que nunca se viram. Ele permite que sociedades inteiras fechem ciclos ao mesmo tempo. Feriados, mandatos, contratos, safras, ciclos escolares, anos fiscais. Tudo isso depende da mesma mentira funcional: o tempo pode ser dividido, contado e encerrado.
E aqui entra o ponto mais incômodo: o calendário não existe para organizar produção. Ele existe para organizar esperança. O ser humano precisa acreditar que algo termina para suportar o que está vivendo agora. A ideia de “mais um ano” não é cronologia, é anestesia existencial. É o que permite continuar mesmo quando o cenário é ruim. O calendário não promete que o próximo ciclo será melhor. Ele promete apenas que este acaba. E isso já é o suficiente para manter a maioria em movimento.
Por isso o “Adeus Ano Velho” é mais sério do que parece. Não é música, não é ritual vazio, não é frase pronta. É uma declaração coletiva de encerramento. É a autorização simbólica para largar o peso acumulado. O cérebro humano funciona assim: ele precisa de encerramentos formais para liberar energia psíquica. Sem isso, tudo fica pendurado. Nada se resolve. Nada se fecha. O calendário faz esse serviço sujo com elegância: ele encerra sem pedir explicação.
Harari lembra que somos a única espécie capaz de sofrer por coisas que só existem na imaginação. O calendário também é isso: uma imaginação que cura outra imaginação. Ele cria uma linha divisória onde biologicamente não há nada. Mas essa linha muda comportamentos, decisões e estados mentais. Pessoas suportam empregos ruins até “virar o ano”. Aguentam crises até “fechar o ciclo”. Persistem porque existe uma data imaginária onde algo muda — mesmo que objetivamente nada mude.
O mais curioso é que, numa era obcecada por velocidade, tratamos o calendário como ferramenta operacional. Agenda, prazo, cobrança. Perdemos a noção do seu papel real. Ele não acelera nada. Ele limita. E limitar é o que nos mantém sãos. Um mundo sem limites temporais seria insuportável. O calendário coloca bordas no tempo. Ele diz: daqui não passa. E isso gera paz.
Sem calendário não existe responsabilidade futura. Não existe “daqui a um ano”. Não existe planejamento real. Harari mostra que a capacidade de sacrificar o presente em nome de um futuro imaginado foi decisiva para agricultura, cidades, ciência e organização social. O calendário é o alicerce invisível dessa capacidade. Ele permite postergar recompensa sem colapsar. Ele transforma espera em estratégia.
E não se engane: o calendário também é uma tecnologia de poder. Quem controla os ciclos controla expectativas. Mandatos, calendários econômicos, prazos legais. Nada disso é neutro. Mas mesmo essa face dura não invalida o essencial: sem calendário, não há civilização funcional. Há apenas sobrevivência errática. O calendário não é um detalhe da história humana. Ele é uma das engrenagens centrais: uma ficção coletiva tão forte que organiza bilhões de vidas sem precisar existir fisicamente.
Por isso o fim de ano tem aquele silêncio estranho. Não é festa ainda. Não é luto. É transição. É o cérebro humano respirando porque um capítulo foi fechado. Mesmo que o próximo seja igual. Mesmo que nada mude. A mente precisa acreditar que mudou. E isso basta para continuar.
No fundo, o calendário não nos dá tempo. Ele nos dá coragem. Coragem para atravessar o tempo sabendo que ele está dividido, contido, organizado. Coragem para suportar o agora porque existe um depois nomeado. O calendário não cria sentido absoluto, mas cria pausas onde o sentido pode ser reconstruído.
Da próxima vez que cantar “Adeus Ano Velho”, entenda o que está fazendo de verdade. Você não está celebrando o passado nem garantindo o futuro. Está apenas usando a mais antiga tecnologia psicológica da humanidade para continuar de pé. E, convenhamos, isso já é muita coisa.
“A história começou quando os humanos inventaram deuses.” — Yuval Noah Harari
“Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito.” — Sêneca
“A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás.” — Søren Kierkegaard
“Planejar é trazer o futuro para o presente.” — Peter Drucker
“O homem é feito de tempo.” — Martin Heidegger
953# Sabichão! - 20/12/25

O Brasil não é um país carente de informação. É um país intoxicado por convicção. Aqui, a ignorância não anda de cabeça baixa; anda de peito estufado. Ela não pede licença, não demonstra dúvida, não se constrange. Ela fala alto, interrompe, aponta o dedo e explica o mundo com a tranquilidade de quem jamais foi confrontado por um livro difícil, um dado incômodo ou uma conta que não fecha.
Existe uma crença nacional profundamente arraigada: se eu vivi, eu sei. Se eu comprei, eu entendo. Se eu senti, eu domino. Estudar vira detalhe. Método vira frescura. Especialista vira suspeito. O brasileiro médio não desconfia da própria opinião — ele se orgulha dela. E é exatamente aí que mora o problema.
Esse comportamento não é só cultural, é psicológico. Tem nome, artigo científico e caso clássico associado. Chama-se efeito Dunning-Kruger, descrito em 1999 pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger. A conclusão do estudo é quase ofensiva para o ego coletivo: quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, maior tende a ser sua confiança ao falar dele. Não porque ela seja má, mas porque lhe faltam ferramentas cognitivas para perceber o próprio erro.
Estudo original:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10626367/
O efeito não diz que todo ignorante é arrogante. Diz algo pior: que o ignorante não consegue perceber que é ignorante. Logo, não tem motivo algum para duvidar. A dúvida exige repertório. A certeza rasa é barata.
A história que inspirou o estudo deveria ser ensinada nas escolas, não como curiosidade, mas como alerta. Em 1995, um sujeito chamado McArthur Wheeler decidiu assaltar bancos nos Estados Unidos sem esconder o rosto. Foi preso rapidamente. O detalhe surreal veio depois: Wheeler acreditava sinceramente que estava invisível às câmeras porque havia passado suco de limão no rosto. Na sua lógica torta, se o limão servia como tinta invisível para papel, também funcionaria na pele.
Ele chegou a testar a “teoria” tirando fotos Polaroid — mal tiradas, obviamente — e concluiu que a falha era da câmera, não da ideia. O ponto não é rir da estupidez. É entender a convicção. Wheeler não hesitou. Não desconfiou. Não ponderou. Ele tinha certeza. E foi essa certeza — não o limão — que o levou direto para a cadeia.
Relato documentado:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning–Kruger_effect#Lemon_juice_robbery
Agora substitua o banco por qualquer debate brasileiro contemporâneo. Economia, política, ciência, saúde, energia, educação. O padrão se repete com fidelidade assustadora. Pessoas que não dominam aritmética básica discutem política monetária. Pessoas que não leem um parágrafo inteiro discutem Constituição. Pessoas que nunca abriram um livro técnico explicam sistemas complexos com frases de efeito.
Aqui, comprar um pirulito vira credencial para entender economia. Assistir a um vídeo curto vira formação científica. Repetir frase pronta vira prova de inteligência. A convicção passa a valer mais que o argumento. O tom de voz pesa mais que o dado. A agressividade substitui a lógica.
Dizer “não sei” é visto como fraqueza. Já errar com segurança é tratado como virtude. A dúvida é ridicularizada. A cautela é confundida com covardia intelectual. Quem fala em absolutos, simplifica o complexo e despreza nuance vira referência. O resultado é um debate público infantilizado, polarizado e estéril, onde ninguém quer aprender — todos querem vencer.
O contraste é gritante, mas raramente percebido. Quem realmente sabe fala com cuidado. Usa probabilidades, cenários, condicionais. Reconhece limites. Sabe que sistemas complexos não obedecem slogans nem soluções mágicas. Já o palpiteiro fala em verdades finais, ignora variáveis e trata qualquer ressalva como enrolação.
Essa dinâmica explica por que o brasileiro é tão facilmente manipulado. Quem não sabe que não sabe aceita qualquer narrativa simples, emocional e confortável. A convicção vira identidade. Questionar vira ataque pessoal. Discordar vira ofensa. E o país se transforma em um ringue de certezas ocas, onde o barulho vale mais que o conteúdo.
Buscar conhecimento dói. Exige tempo, leitura, disciplina e, sobretudo, a disposição de destruir certezas antigas. Repetir slogan é fácil, rápido e socialmente recompensado. Mas o preço vem depois: decisões ruins, escolhas emocionais e uma sociedade incapaz de aprender com o próprio erro.
Se existe uma linha clara separando gente lúcida de gente apenas barulhenta, ela começa com uma frase que o brasileiro médio evita como se fosse humilhação pública: “eu não sei”. Quem não consegue pronunciá-la já está no topo da própria ignorância — olhando para baixo com desprezo e explicando o mundo com limão no rosto.
“A ignorância gera confiança mais frequentemente do que o conhecimento.” — Charles Darwin
“O importante é não parar de questionar.” — Albert Einstein
“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith
“Você se torna aquilo que tolera.” — Danilo Barba
“Pensar dói, por isso a maioria prefere opinar.” — Henry Ford
954# Tiro pela Culatra - 23/12/25

Em dezembro de 2005, o Brasil anunciou a quitação antecipada da sua dívida com o FMI. O valor pago foi de aproximadamente US$ 15,5 bilhões, encerrando um ciclo iniciado nos anos 80. À época, essa dívida tinha custo médio próximo de 4% ao ano, prazos longos e regras claras. O anúncio foi tratado como um marco de soberania econômica. O que ficou fora do discurso foi simples — e decisivo: o país não eliminou a dívida; apenas trocou o tipo de endividamento.
Naquele momento, a dívida bruta do governo geral estava em torno de 51% a 52% do PIB, segundo dados do Tesouro Nacional (https://www.tesourotransparente.gov.br). A decisão estratégica foi reduzir drasticamente a exposição externa e financiar o Estado quase integralmente no mercado doméstico. Havia, por trás disso, uma aposta política clara: ao “trazer a dívida para dentro”, o governo acreditava que reduziria a pressão externa e ganharia margem para influenciar a política monetária, permitindo juros estruturalmente mais baixos.
Foi um tiro pela culatra.
O que ocorreu não foi ganho de controle, mas perda de graus de liberdade. A dívida interna cresceu rápido, encurtou prazos e se tornou altamente sensível à inflação. Isso obrigou o Banco Central a operar de forma cada vez mais defensiva. Quanto maior a dívida, maior o risco fiscal. Quanto maior o risco, maior a necessidade de juros elevados para manter a confiança. Juros deixaram de ser instrumento de estímulo e passaram a ser mecanismo de sobrevivência do sistema.
Avançando para 2024–2025, a fotografia é dura. A dívida bruta brasileira já se aproxima de 80% do PIB, sendo cerca de 96% composta por dívida interna, com custo médio acima de 12% ao ano e prazo médio inferior a 4 anos, segundo dados do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br) e da Instituição Fiscal Independente (https://www12.senado.leg.br/ifi).
O impacto disso é direto: o Brasil gasta entre 7% e 8% do PIB apenas com juros nominais. Esse dinheiro não vira escola, hospital, estrada ou investimento produtivo. Ele apenas mantém a engrenagem girando. É custo puro de carregamento de decisões passadas.
A promessa de que a dívida interna permitiria “domar” os juros nunca se materializou. Pelo contrário: a política monetária ficou refém da própria dívida. Qualquer tentativa de redução mais agressiva da taxa básica pressiona imediatamente a rolagem, a curva de juros e a percepção de risco. O Banco Central não ganhou autonomia. Herdou um problema estrutural.
Relatórios recentes da Instituição Fiscal Independente e do FMI convergem em um ponto central: mantida a atual dinâmica de crescimento baixo, juros elevados e expansão estrutural de gastos, a dívida brasileira tende a se aproximar de 100% do PIB até 2030, colocando o país em uma zona típica de estresse fiscal crônico (https://www12.senado.leg.br/ifi | https://www.imf.org).
Esse patamar não é um detalhe técnico. Ele reduz drasticamente a capacidade de reação do Estado, encarece o crédito, amplia a vulnerabilidade a choques e transforma qualquer crise em ameaça sistêmica. A dívida deixa de ser instrumento e passa a ser limite.
A ironia histórica é evidente. Para fugir da dependência de um credor externo com juros baixos, o Brasil construiu um sistema onde todo o orçamento passou a depender da taxa básica de juros doméstica. A pá do coveiro foi substituída por uma retroescavadeira. Não se evitou o enterro — apenas se acelerou o processo e se deu escala ao problema.
O erro não foi quitar a dívida externa. O erro foi acreditar que trocar dívida barata por dívida cara daria controle político sobre a economia. Dívida elevada não gera poder. Gera medo. E medo, em economia, sempre cobra juros.
“Não existe solução política para problemas matemáticos.” — Milton Friedman
“Juros são o preço da desconfiança.” — Warren Buffett
“A dívida cresce quando o custo do erro é adiado.” — Nassim Nicholas Taleb
“Você não controla aquilo que precisa refinanciar o tempo todo.” — Thomas Sowell
“O futuro cobra juros compostos das más decisões.” — Danilo Barba
955# F*da-se as Havaianas! - 23/12/25

O Brasil acordou indignado com um comercial de sandália. Não com o rombo do INSS, não com a falência fiscal anunciada, não com um Judiciário que legisla, executa e opina ao mesmo tempo. Não. O escândalo nacional foi um roteiro publicitário. Um chinelo.
A direita gritou boicote. A esquerda riu. Influencers se posicionaram. Parlamentares gravaram vídeos jogando Havaianas no lixo. Manchetes falaram em “perda de valor de mercado”, como se isso fosse uma hecatombe econômica. E por algumas horas… parecia que o país tinha encontrado seu grande inimigo: a Alpargatas.
Só esqueceram de combinar com o mercado.
Enquanto militante digital comemorava a “derrocada do capitalismo woke”, as ações da Alpargatas se recuperaram no pregão seguinte, hoje, 23/12, apagando praticamente toda a queda. Dinheiro não vota. Capital não faz textão. Investidor não compra briga ideológica — compra fluxo de caixa. O resto é barulho.
O “boicote histórico” durou menos que promoção de Natal.
Isso escancara o óbvio que ninguém quer admitir: esse episódio nunca foi sobre Havaianas. Foi só mais uma cortina de fumaça — barata, eficiente e perfeitamente sincronizada — para desviar atenção de problemas que doem de verdade.
Enquanto o povo discute sandália, o INSS segue tecnicamente insolvente. A matemática não fecha, mas ninguém quer fazer a conta. A crise fiscal avança, com dívida crescente, gasto obrigatório engessado e nenhuma disposição política para cortar onde dói. As eleições estão na porta, prometendo mais populismo, mais promessa vazia e mais irresponsabilidade travestida de “sensibilidade social”.
No plano internacional, o governo passa pano para ditaduras amigas, relativiza a Venezuela e afasta capital sério. Internamente, o STF governa por decisão monocrática, enquanto o Congresso terceiriza responsabilidade e finge surpresa. E, como bônus, temos filho de presidente envolvido em escândalos — algo que já virou ruído de fundo, normalizado, digerido, esquecido.
Nada disso vira trending topic como um chinelo.
Porque discutir estrutura dói. Discutir propaganda diverte.
A verdade nua é que o Brasil virou um país viciado em distrações simbólicas. Toda semana surge um novo espantalho moral para evitar o debate real: produtividade baixa, Estado caro, elite política incompetente e um modelo que consome o futuro para financiar o presente.
A polêmica das Havaianas serviu exatamente para isso: ocupar o espaço mental de quem deveria estar perguntando quem paga a conta. E enquanto a militância se engalfinha, o mercado faz o que sempre fez: ajusta, precifica e segue em frente — indiferente à histeria.
No fim do dia, ninguém ficou mais pobre por causa de um comercial. Mas todo mundo continua mais pobre porque o país insiste em discutir o irrelevante.
Então sim: f*da-se as Havaianas.
O problema nunca foi o chinelo.
O problema é um país inteiro andando em círculos — e achando que isso é caminhada.
“Você nunca deve confundir movimento com progresso.” — Ernest Hemingway
“A política é a arte de desviar o povo do que realmente importa.” — Ezra Pound
“Quando a discussão vira espetáculo, a verdade já saiu da sala.” — George Orwell
“O preço da desatenção é sempre pago no futuro.” — Peter Drucker
“Capital não tem ideologia. Tem memória.” — Danilo Barba
956# Estupidez Precificada - 23/12/25

Explicar os juros altos no Brasil dizendo que “o grande capital quer” já ultrapassou a fronteira da ignorância e entrou no território da má-fé intelectual. Não é erro conceitual inocente. É narrativa conveniente para quem prefere gritar contra um inimigo imaginário a encarar as escolhas reais que quebraram o país. Funciona como anestesia coletiva: alivia a culpa, preserva crenças e mantém tudo exatamente como está — caro, ineficiente e disfuncional.
Juros não têm ideologia, não militam, não fazem post indignado. Juros são preço. E preço é risco convertido em número. Quanto maior a chance de não receber, de ter regra mudada no meio do jogo ou de ver contrato virar piada judicial, maior será a taxa. Isso não é “visão de mercado”. É matemática de quinta série. Quem nega isso não está discordando — está se recusando a pensar.
O Brasil é um ambiente hostil ao crédito. A recuperação de crédito é pífia, a execução de garantias é lenta e frequentemente sabotada, e o inadimplente é tratado como vítima estrutural. O recado é cristalino: errar compensa, cobrar é feio. Nesse cenário, quem empresta só tem duas opções — sair do jogo ou cobrar caro. Chamar isso de ganância é coisa de quem nunca emprestou um centavo na vida.
O segundo fator é ainda mais patético: o fiscal. O Brasil vive num eterno delírio contábil. Gasta como se fosse desenvolvido, arrecada como emergente e promete como populista em campanha eterna. A dívida cresce, mas o que assusta não é o tamanho — é a trajetória. Ela piora ano após ano. Países com dívida maior pagam menos juros porque têm histórico de ajuste. Nós temos discurso, improviso e negação. E o mercado não financia negação.
O terceiro ponto é onde a hipocrisia atinge nível industrial. Quase metade do crédito no país é subsidiada para grupos escolhidos. Taxas artificiais para poucos significam juros brutais para o resto. Não existe mágica. Quando uma parte do sistema ignora a taxa básica, a outra precisa absorver todo o ajuste. Resultado: política monetária perde eficácia e o juro explode. Reclamar disso sem atacar o privilégio é cinismo puro.
E antes que alguém grite “ideologia”, vale avisar: isso não é opinião, é diagnóstico oficial. Está documentado, publicado e disponível para qualquer adulto funcional que saiba ler um PDF. O próprio Banco Central explica, com todas as letras, por que os juros são estruturalmente altos no Brasil:
Apresentação institucional ao Senado (slide 31):
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Senado_10.8.23.pdf
Apresentação técnica sobre juros e risco no Brasil:
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_RCN_%20LIDE_VPUB1.pdf
Está tudo lá: recuperação de crédito miserável, dívida com dinâmica ruim e distorções grotescas no mercado de crédito. Não é segredo. Nunca foi. Só não viraliza porque não cabe em bordão nem rende aplauso emocionado.
Culpar banqueiro é terapêutico. Dá sensação de justiça. Mas não reduz juros, não corrige risco e não conserta país nenhum. Enquanto o debate econômico brasileiro continuar tratando matemática como opinião e regra como detalhe, os juros seguirão altos — não por maldade, mas por consequência.
A economia não negocia com fantasia.
Ela cobra.
E cobra com juros compostos.
“A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.” — Albert Einstein
“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith
“Encare a realidade como ela é, não como você deseja que ela seja.” — Jack Welch
“Você se torna aquilo que tolera.” — Jim Rohn
“Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião.” — John Maynard Keynes
957# A Armadilha da China: quando tudo é barato demais para sobreviver - 23/12/25

Durante anos, o mundo inteiro se acostumou com uma sensação perigosa: a de que a China era uma fonte infinita e inesgotável de abundância barata. Não era só preço baixo. Era previsibilidade. Era escala. Era a impressão de que existia uma engrenagem que nunca cansava, nunca errava, nunca desacelerava. E, como todo conforto prolongado, isso virou vício global: empresas ocidentais terceirizaram sua base produtiva, consumidores recalibraram expectativas (tudo “tem que” ser barato), e governos passaram a tratar cadeias de suprimento como se fossem um serviço público automático: invisível, sempre disponível, sempre pontual. Só que não existe milagre gratuito. Quando o preço cai por tempo demais, alguém, em algum lugar, está pagando a diferença. E a tese central aqui é simples, desconfortável e prática: a maior virtude da China — transformar custo em arma e eficiência em espetáculo — começou a produzir um efeito colateral corrosivo dentro do próprio sistema, porque eficiência sem freio não é virtude; é compulsão.
Para entender como essa armadilha foi montada, é preciso voltar ao final dos anos 1970, quando a China decide redesenhar sua própria lógica econômica sem abandonar o controle político. A abertura associada a Deng Xiaoping muda o jogo: o país passa a convidar capital estrangeiro, testa zonas econômicas especiais, cria uma avenida de exportação e faz do trabalho barato um “recurso estratégico” tão valioso quanto petróleo. O caso de Shenzhen, que vira símbolo de transformação acelerada, não é só urbanismo; é um modelo mental: construir primeiro, produzir depois, exportar sempre. E funcionou porque o mundo queria exatamente isso: custo menor, produção maior, velocidade mais alta. O Ocidente não “perdeu” fábricas apenas por ingenuidade; perdeu porque o incentivo era irresistível. Se o concorrente entrega mais barato, você ou acompanha, ou fecha. O “Made in China” não dominou por poesia; dominou por contabilidade.
Só que, no desenho chinês, a competição não era apenas entre empresas: era, principalmente, entre governos locais. Províncias disputavam indústrias como quem disputa troféu, oferecendo terra, crédito, isenções e infraestrutura para atrair plantas e gerar empregos. O problema é que, quando o motor de crescimento vira uma corrida para ser o mais barato, a inovação vira detalhe e a sustentabilidade vira luxo. O sistema começa a premiar volume, não margem. Capacidade, não rentabilidade. Movimento, não direção. E aí nasce um fenômeno que o mundo costuma subestimar: quando uma economia gigante é treinada para crescer por reflexo, ela se torna incapaz de parar sem entrar em pânico. Localmente, dívida precisa de crescimento para ser rolada; crescimento exige mais obras; mais obras exigem mais produção; mais produção derruba preço; e, para compensar preço menor, produz-se ainda mais. Isso não é estratégia. É inércia institucional.
É nesse ponto que o conceito de “involução” (neijuan) deixa de ser um meme social e vira diagnóstico econômico: competição intensa, homogeneização de produtos, guerra de preços, perdas generalizadas e um “progresso” que, no fundo, é apenas mais esforço para colher menos. A própria discussão pública na China passou a usar o termo para criticar esse ciclo de corrida ao fundo do poço.
E, quando você olha para setores específicos, a fotografia fica ainda mais nítida. Na indústria solar, por exemplo, a superoferta empurrou preços a níveis de esmagamento: o excesso de oferta derrubou os preços de painéis solares na China em 42% em 2023, com fabricantes aceitando margens negativas para manter participação. Em 2025, a própria cobertura voltou ao tema da capacidade instalada ser suficiente para suprir cerca de duas vezes a demanda global — um indicador brutal de excesso estrutural. Quando um país produz “o dobro do mundo”, ele não está apenas sendo eficiente; ele está tensionando a realidade econômica, empurrando o sistema para um ponto onde lucro vira exceção e sobreviver vira o objetivo.
Nos veículos elétricos, a lógica é parecida, com uma camada adicional de simbolismo nacional. A China se consolidou como o grande polo industrial de carros elétricos: respondeu por mais de 70% da produção global em 2024 (12,4 milhões de unidades). Isso é impressionante e, ao mesmo tempo, perigoso quando se combina com mercado interno pressionado, concorrência numerosa e disputa de preço como arma principal. O resultado natural é a guerra de preços: quando há produto demais e “parar” é politicamente custoso (emprego, prestígio local, narrativa), o desconto vira anestesia. No curto prazo, o consumidor comemora. No médio, as margens somem. No longo, sobra concentração, dependência e fragilidade: empresas menos capitalizadas quebram, as mais conectadas sobrevivem, e o sistema aprende a depender de apoio para continuar rodando.
E aqui entra a parte que o Ocidente costuma tratar como “malícia”. Manter setores estratégicos vivos mesmo com rentabilidade ruim pode ser movimento geopolítico. Mas nenhum império sustenta prejuízo indefinidamente sem cobrar isso de alguém, geralmente do próprio futuro. Subsídio recorrente vicia a empresa e deseduca o mercado. Quando o incentivo principal deixa de ser “inovar melhor” e passa a ser “aguentar mais tempo”, o país troca produtividade real por resistência artificial — e resistência artificial é cara.
Os sinais de desgaste aparecem em várias frentes. Os lucros industriais da China caíram 3,3% em 2024 — terceiro ano consecutivo de queda. Em paralelo, cresce o peso de dívidas e investimentos mal alocados, com governos locais tentando manter projetos e empregos enquanto a economia real perde fôlego. O ponto não é decretar colapso. É reconhecer o dilema: a China construiu uma máquina projetada para correr, e agora enfrenta o custo de desacelerar.
A lição, para quem lidera negócios, é direta: “ser o mais barato” raramente é estratégia sustentável. Se o seu diferencial é apenas preço, você está treinando seu cliente a abandonar você na primeira oferta marginalmente menor. Em escala nacional, o princípio é igual: uma economia que cresce esmagando preço pode ganhar mercado, mas corre o risco de perder o próprio sentido de prosperidade.
No fim, o caso chinês não é só sobre China. É um espelho do socialistmo disfarçado de "Capitalismo de Estado", algo que conhecemos bem dos anos 70 do Milagre Econômico Brasileiro, quando ele trata volume como virtude moral e crescimento como religião. A pergunta incômoda que fica é simples: você está crescendo porque isso cria valor — ou porque parar virou impossível? Porque, quando a única vitória é continuar em movimento, você não está liderando um projeto. Está apenas adiando a conta.
“A moral da história é a seguinte: todo excesso, assim como toda renúncia, traz consigo a sua própria punição.” — Oscar Wilde
“Pela rua do ‘já vou’, vai-se à casa do ‘nunca’.” — Miguel de Cervantes
“Um pequeno vazamento eventualmente afundará um grande navio.” — Jô Soares
“Quando o ritmo de mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo.” — Jack Welch
“O preço é o que você paga; o valor é o que você leva.” — Warren Buffett
958# Planejar é Civilização – 23/12/25
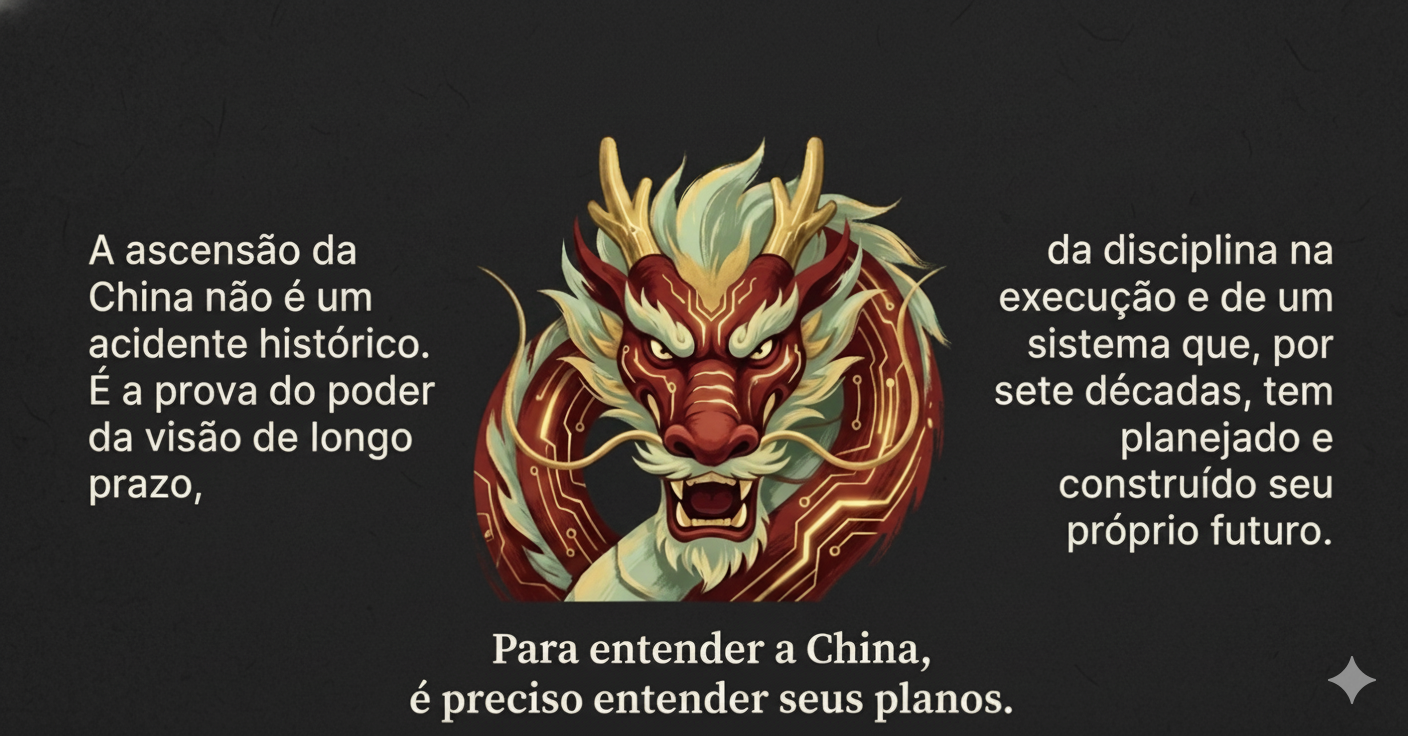
Estive na China esse ano. Foi a segunda vez nos últimos 3 anos e continuo impressionado com o que a China se tornou, e tudo por conta de planejamento, uma palavra proibida para nós. E não falo de planejamento como discurso elegante, mas como prática histórica obsessiva. A China não improvisa o futuro. Ela o fragmenta, organiza e executa. O plano quinquenal é apenas a forma moderna de algo muito mais antigo: a decisão consciente de submeter o tempo a uma lógica de longo prazo.
O plano quinquenal começa oficialmente em 1953, mas sua essência é anterior em séculos. Ele nasce como instrumento de coordenação econômica e social, inspirado no modelo soviético, mas rapidamente ganha identidade própria. Desde então, cada ciclo de cinco anos funciona como uma peça de engenharia encaixada em um projeto civilizacional contínuo. Nada ali é episódico. Nada é feito para agradar o presente. Tudo é desenhado para servir um horizonte muito mais longo, que hoje está claramente definido em 2049.
Os primeiros passos foram de sobrevivência. Entre 1953 e 1957, o foco foi brutalmente básico: construir indústria pesada, energia, aço e infraestrutura primária. O ciclo seguinte tentou acelerar demais e falhou, ensinando os limites do voluntarismo. Veio então a ênfase em defesa, autonomia produtiva e dispersão industrial. Na sequência, estabilização, correção de excessos e preparação silenciosa para uma transição maior.
A partir do fim dos anos 1970, o planejamento muda de natureza. Reformas econômicas graduais, descentralização, incentivos de mercado e abertura controlada. Primeiro a industrialização exportadora, depois as zonas econômicas especiais, depois a consolidação do socialismo de mercado. Infraestrutura se expande, produtividade cresce e estatais estratégicas são fortalecidas, não desmontadas.
No século XXI, a China deixa de tentar se desenvolver e passa a se posicionar. A entrada na OMC acelera exportações, urbanização em escala gigantesca e inovação. O consumo interno ganha peso, a dependência externa diminui e a indústria avança para níveis mais altos de valor agregado. Digitalização, alta tecnologia, energia e segurança passam ao centro do jogo.
Os próximos ciclos já são geopolíticos. Liderança em tecnologia crítica, inteligência artificial, biotecnologia e energia limpa. Supremacia logística, financeira e científica. Definição de padrões técnicos e industriais globais. Até que, em 2049, o projeto centenário se completa: a China como potência central do sistema mundial. Não é profecia. É cronograma.
Essa lógica não é nova. A Grande Muralha levou mais de dois mil anos para ser construída. O Grande Canal conectou norte e sul ao longo de séculos. Não havia pressa, havia propósito. O plano quinquenal moderno é apenas a tradução técnica dessa mentalidade ancestral aplicada ao mundo contemporâneo.
Planejamento ali não é rigidez. É coordenação. O mercado existe, a iniciativa privada opera, mas dentro de trilhos claros. Trilhos não impedem movimento; reduzem atrito. Primeiro vem energia. Depois infraestrutura. Depois formação técnica. Depois escala produtiva. Nunca o contrário.
O que incomoda não é a China ter feito essa escolha. É perceber quantos países escolheram o oposto. Improviso virou virtude. Curto prazo virou método. O resultado aparece em infraestrutura atrasada, indústria frágil e desperdício crônico de energia social.
A China não cresceu porque acertou sempre. Cresceu porque insistiu sempre. Planejou, executou, errou, corrigiu e seguiu. Planejar exige dizer não. Exige priorizar. Exige sustentar decisões impopulares enquanto o resultado ainda não apareceu. Improvisar é mais confortável. Mas cobra juros altos no futuro.
O plano quinquenal é, no fundo, uma declaração de responsabilidade histórica. O futuro não acontece sozinho. Ele é construído por quem aceita organizar o tempo. Quem vive apenas reagindo continuará assistindo à história dos outros.
A pergunta não é se devemos copiar a China. É se algum dia teremos coragem de respeitar a ideia de direção. Porque sem horizonte, toda decisão vira ruído. E sem sequência, todo esforço vira desperdício.
“O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes.” — Peter Drucker
“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.” — Robert Collier
“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” — Lao-Tsé
“Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer mais.” — Abraham Lincoln
“O tempo é o recurso mais valioso de qualquer nação.” — Jim Rohn
959# A beira da extinção - 23/12/25

Existe um erro recorrente quando se discute demografia: tratar tendência como opinião. Fecundidade não é debate cultural, é equação acumulada no tempo. E equações, quando ignoradas, não perdoam — apenas atrasam o choque. O número que hoje domina o mundo desenvolvido é 1,5 filho por mulher. Parece pouco abaixo do “ideal” 2,1. Parece administrável. Não é. Vamos abrir a conta com método, agora usando gerações de 25 anos, até a quarta geração, sem atalhos e sem anestesia.
Comecemos pelo ponto que quase ninguém explicita. A chamada taxa de reposição (2,1) é o nível mínimo para manter a população estável em condições ideais. Se a taxa real é 1,5, a população não diminui um pouco. Ela entra em contração geométrica. A razão é simples e brutal: 1,5 dividido por 2,1 resulta em aproximadamente 0,714. Isso significa que cada geração terá apenas 71,4% do tamanho da geração anterior. Não é projeção pessimista. É aritmética.
Assuma uma população inicial de referência igual a 100%. O número absoluto é irrelevante; o comportamento percentual é o que importa.
Geração 0 — Ano 0 (hoje)
População: 100%. Tudo parece normal. As cidades funcionam, o consumo acontece, o debate segue anestesiado.
Geração 1 — Ano 25
100 × 0,714 = 71,4%. Em apenas 25 anos, quase 30% da população desaparece. Ainda assim, o impacto visual é pequeno. A estrutura herdada do passado sustenta a ilusão de normalidade.
Geração 2 — Ano 50
71,4 × 0,714 ≈ 51,0%. Metade da população original se foi em meio século. Aqui o problema deixa de ser abstrato. Sistemas baseados em massa crítica começam a falhar: previdência, saúde, educação, infraestrutura. O peso do passado recai sobre poucos ombros presentes.
Geração 3 — Ano 75
51,0 × 0,714 ≈ 36,4%. Dois terços da população inicial desapareceram. Não há mais como disfarçar. A pirâmide etária virou funil invertido. Cada adulto sustenta múltiplos idosos.
Geração 4 — Ano 100
36,4 × 0,714 ≈ 26,0%. Em um século, três em cada quatro pessoas deixam de existir em relação à base inicial. Sem guerra. Sem epidemia. Apenas insuficiência de nascimentos.
Este ainda é um cenário otimista. Ele supõe que todo o resto permanece constante. A vida real faz pior. Uma parcela crescente de mulheres não terá filhos. O primeiro filho chega cada vez mais tarde, reduzindo a chance do segundo. A razão sexual ao nascer raramente é perfeitamente equilibrada. Migração seletiva drena exatamente a população em idade produtiva. Cada um desses fatores acelera a queda.
É por isso que estudos científicos recentes apontam algo ainda mais desconfortável: quando a variabilidade estatística é incorporada aos modelos, taxas próximas de 2,7 filhos por mulher passam a ser necessárias apenas para evitar a extinção estatística de linhagens no longo prazo. Repare no detalhe: 2,7 hoje. Agora faça o exercício mental que ninguém quer fazer. Se a tendência de postergação, não reprodução e envelhecimento continuar, quanto será necessário em 25 ou 50 anos apenas para sobreviver?
Aqui entra a noção que políticos odeiam e a matemática respeita: inércia demográfica. Populações não colapsam quando o problema vira manchete. Colapsam décadas depois das decisões que ninguém quis discutir. Incentivos tardios não resolvem. Crianças não surgem por decreto. Não existe recuperação rápida após duas ou três gerações de queda. A demografia opera em câmera lenta, mas com força de rolo compressor. Quando chega, não dá ré.
A pergunta correta não é se a população vai cair com taxa de 1,5. Isso já está respondido. A pergunta é quem vai pagar o custo do silêncio. Porque a matemática é clara: manter 1,5 filho por mulher é escolher, conscientemente ou não, um país com cerca de um quarto da população atual em cem anos — e com exigências cada vez maiores apenas para não desaparecer.
Demografia não grita. Ela sussurra por décadas — e depois executa. E, no fim das contas, quando Deus disse “crescei e multiplicai-vos”, havia matemática nisso, meus queridos.
“A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.” — Albert Einstein
“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein
“O futuro não é decidido por opiniões, mas por números acumulados.” — Carl Friedrich Gauss
“Problemas ignorados não desaparecem; apenas amadurecem.” — Peter Drucker
“O tempo é o juiz mais implacável de todas as escolhas humanas.” — Jim Rohn
960# Funciona Porque Confia - 24/12/25

Vamos falar de algo simples — e exatamente por isso poderoso. Um mercadinho de condomínio, onde meu filho mora, em Mogi Guaçu. Nada de tese mirabolante ou promessa grandiosa. Vinte metros quadrados. Fechado. Bonitinho. Organizado. Um espaço pequeno, mas completo o suficiente para resolver a vida doméstica básica: maionese, doces, salgados, macarrão, refrigerante, sorvete, produtos de limpeza. O essencial. O que realmente gira uma casa comum.
Até aí, nada demais. O detalhe que muda tudo vem depois: não tem ninguém atendendo. Ninguém observando. Ninguém cobrando. Você entra, pega o produto, passa no leitor de código de barras, paga com cartão de crédito e vai embora. Simples assim. Sem vigilante, sem fiscal, sem sermão. E funciona. Funciona de verdade. Não sabe o orgulho que senti ao ver aquilo operando na minha cidade, ainda que dentro do microcosmo de um condomínio. Confesso: fiquei genuinamente feliz.
Não sei a estatística de “sumiço” de produtos. Mas, se o negócio segue aberto, organizado e abastecido, a conclusão é óbvia: deve ser muito baixa. Baixa o suficiente para não inviabilizar o modelo. E aí vem a pergunta que realmente interessa — e que vale mais do que o mercadinho em si: por que funciona?
Funciona porque não é um experimento abstrato sobre a bondade humana. É um sistema encaixado no lugar certo. Um condomínio em uma cidade do interior de São Paulo não é um espaço anônimo. É um ambiente onde as pessoas se reconhecem, se cruzam, se lembram umas das outras. Onde o custo social do desvio é maior do que o ganho material de um chocolate não pago. Não é virtude elevada. É racionalidade básica. E isso basta.
Existe também algo muito particular no interior: a cultura do “não estragar o que está dando certo”. Esse mercadinho não é só um ponto de venda. É uma concessão de confiança. E confiança, quando é concedida de forma clara, costuma ser devolvida. Não por altruísmo, mas por senso de pertencimento. Ninguém quer ser o motivo pelo qual algo bom desaparece. É um freio moral silencioso, muito mais eficiente do que qualquer placa ameaçadora.
O que mais me chama atenção é que ali não há discurso sobre ética ou futuro. Há prática. O sistema não infantiliza o morador. Não presume culpa. Não trata todo mundo como problema em potencial. Ele simplesmente entrega responsabilidade e observa o resultado. E o resultado aparece. Um modelo pequeno, local, sem pretensão de salvar o mundo — mas que ensina muito sobre como o mundo poderia funcionar melhor se fosse menos desconfiado e mais bem desenhado.
Esse mercadinho mostra que o Brasil não falha por falta de tecnologia, nem por excesso de gente ruim. Falha quando insiste em sistemas que partem da desconfiança absoluta. Onde tudo presume trapaça, a trapaça vira linguagem. Onde a regra presume maturidade, a maioria responde à altura. O interior apenas evidencia isso com mais clareza, porque o contexto ajuda.
Talvez a lição seja essa: progresso não precisa ser barulhento. Às vezes, ele cabe em vinte metros quadrados, funciona em silêncio e depende apenas de uma escolha simples — tratar pessoas como adultas até que provem o contrário. Em Mogi Guaçu, pelo menos nesse pequeno recorte, essa aposta deu certo. E isso, convenhamos, já é uma excelente notícia.
“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein
“O homem é um animal que faz barganhas.” — Adam Smith
“Nada é tão maravilhoso quanto a arte de ser livre.” — Alexis de Tocqueville
“A confiança é construída quando as ações encontram as palavras.” — Stephen Covey
“O progresso acontece quando o óbvio começa a funcionar.” — Alfred Nobel
961# O fim da jornada 6x1: quando a boa intenção atropela a realidade - 24/12/25

O fim da jornada 6x1: quando a boa intenção atropela a realidade
Existe uma pauta que soa automaticamente “justa” no debate público brasileiro: acabar com a jornada 6x1. Ela é defendida com convicção moral, linguagem emocional e forte apelo simbólico, inclusive por parlamentares como Erika Hilton. O discurso é simples, direto e sedutor: trabalhar menos, descansar mais, manter o salário e ganhar dignidade.
Quem ousa questionar é imediatamente carimbado como insensível, explorador ou “defensor de patrão”. Só que a economia não responde a rótulos. Ela responde a incentivos, custos, produtividade e risco. E quando esses elementos são ignorados, o resultado costuma ser o oposto do prometido.
Este texto não é um ataque pessoal, nem um manifesto ideológico. É uma tentativa de explicar, com clareza quase infantil, por que reduzir jornada por lei, sem alterar a base produtiva do país, não cria bem-estar estrutural. Apenas desloca custos para lugares menos visíveis.
1. Antes de tudo: o que o 6x1 realmente representa
A escala 6x1 não é uma invenção cruel do capitalismo tardio. Ela é uma resposta operacional a um fato simples: muitos serviços precisam funcionar mais dias do que as pessoas gostariam de trabalhar.
Supermercados, farmácias, indústrias, transportes, hospitais, restaurantes, centros de distribuição e o comércio em geral não podem simplesmente “desligar” porque alguém decretou mais folga. A demanda continua existindo. O cliente continua aparecendo. O paciente continua chegando. O alimento continua precisando ser produzido.
O 6x1 é, goste-se ou não, uma forma de compatibilizar:
- dias de operação longos
- margens apertadas
- mão de obra intensiva
Quando se fala em acabar com essa escala, normalmente a proposta vem acompanhada de:
- redução para 40 horas semanais
- escala 5x2
- manutenção integral do salário
O problema não está no desejo. Está na conta.
2. A ilusão central: confundir lei com realidade
Existe um erro conceitual recorrente no debate público brasileiro: a crença de que basta mudar a lei para que a realidade econômica se adapte automaticamente.
“Se a jornada cair, as empresas se ajustam.”
“Se o custo subir, é só reduzir o lucro.”
“Se faltar gente, é só contratar mais.”
Na prática, a sequência real é outra:
- empresas produzem
- produção gera receita
- receita paga custos
- salários competem com todos os outros custos
Quando você reduz horas sem aumentar produtividade, você encarece cada hora trabalhada. E quando algo fica mais caro, ele é usado com mais parcimônia.
Não existe mágica. Existe ajuste.
3. Um supermercado como espelho do país
Para tirar o debate do campo emocional, vamos colocá-lo no chão da loja.
Imagine um supermercado absolutamente comum:
- abre 6 dias por semana
- fatura R$ 100 mil por dia
- fatura cerca de R$ 2,6 milhões por mês
- emprega 100 pessoas
- paga salário médio de R$ 2.000
Considerando encargos, férias, 13º, FGTS e provisões, cada funcionário custa aproximadamente R$ 3.500 por mês.
A margem líquida do negócio é de 4%, algo relativamente saudável para o varejo alimentar.
Resultado mensal:
Lucro aproximado de R$ 104 mil.
Não é um escândalo de riqueza.
É sobrevivência organizada.
4. O que muda quando a jornada cai para 40 horas
Esse supermercado precisa de um certo volume de horas para funcionar:
100 funcionários × 44 horas = 4.400 horas semanais
Ao reduzir a jornada para 40 horas, sem mudar a operação:
4.400 ÷ 40 = 110 funcionários
Ou seja:
- +10 pessoas
- +10% no quadro
- zero ganho de produtividade
Custo adicional mensal:
10 × R$ 3.500 = R$ 35 mil.
5. O impacto real no lucro
Antes da mudança:
Lucro: R$ 104 mil.
Depois da mudança:
Lucro: R$ 69 mil.
Queda de aproximadamente 34%.
Um terço do lucro some sem que nada tenha dado errado. Não houve crise, erro de gestão ou queda de vendas. Apenas uma mudança legal que alterou a relação entre horas e custo.
Lucro não é prêmio moral, é colchão de sobrevivência.
6. O mito de que “a empresa aguenta”
A resposta mais comum a esse tipo de conta é:
“Mas ainda está lucrando, então aguenta.”
Esse raciocínio ignora completamente a função do lucro em negócios reais:
- absorver prejuízos inesperados
- financiar manutenção e expansão
- suportar crises
- investir em tecnologia
- abrir novas lojas e contratar mais
Reduzir drasticamente o lucro não é punição ao “capital”.
É aumento de risco sistêmico.
O discurso de proteção acaba produzindo paralisia.
7. As reações que não aparecem no panfleto
Diante de um aumento estrutural de custo, o empresário não escolhe entre “ser bonzinho ou malvado”. Ele escolhe entre opções imperfeitas.
- aumento de preços
- automação
- corte de custos invisíveis
- redução de operação
Nenhuma dessas alternativas cria prosperidade.
Todas apenas redistribuem a perda.
8. A comparação preguiçosa com a Europa
“Na Europa funciona.”
Funciona porque a Europa chegou lá por outro caminho.
O Brasil tenta começar pelo final da história, ignorando o começo. O resultado não é justiça social. É informalidade, desemprego e inflação.
9. Quem realmente ganha com essa pauta
Não é o operador de caixa.
Não é o repositor.
Não é o jovem do primeiro emprego.
Ganha quem vive do discurso.
Perde quem vive da folha de pagamento.
10. A verdade que incomoda
Trabalho não desaparece porque a lei mandou.
Horas não viram dinheiro sozinhas.
Salário nasce de produtividade, não de desejo.
Conclusão: progresso não nasce da negação da conta
Isso não rende aplauso fácil.
Mas rende emprego de verdade.
Cinco frases para refletir
“Nenhuma boa intenção sobrevive a uma estrutura ruim.” — Henry Ford
“Economia não responde a slogans.” — Thomas Sowell
“Salário é consequência, não decreto.” — Milton Friedman
“Emprego nasce onde o risco é tolerável.” — Warren Buffett
“A conta sempre chega.” — RXO
962# Mega Sena já tem Ganhador… – 24/12/25

…e não sou eu (nem você, pare de fingir surpresa).
Todo fim de ano é o mesmo teatro mal ensaiado. O país finge pausa, a mídia finge empatia, os apresentadores fingem acreditar em “sonho”, “esperança”, “virada de vida”. A Mega da Virada não é loteria: é liturgia.
Um bilhão líquido prometido.
Um bilhão no telão.
Um bilhão repetido até a anestesia fazer efeito.
E, como todo ritual que depende de fé, ninguém faz conta. Porque quem faz conta estraga a farsa. Matemática é heresia popular.
Então vamos cometer o sacrilégio.
No ano passado, o dado real foi este: R$ 2,5 bilhões arrecadados para pagar um prêmio líquido de R$ 650 milhões. Isso significa um prêmio bruto de aproximadamente R$ 930 milhões — algo perto de 37% da arrecadação total. O restante ficou com o Estado, antes mesmo de qualquer sorteio.
Mantida exatamente a mesma proporção, um prêmio líquido de R$ 1 bilhão exige um prêmio bruto de R$ 1,43 bilhão, o que só é possível com uma arrecadação total de cerca de R$ 3,85 bilhões.
Antes do sorteio.
Antes da bolinha girar.
Antes de você “acreditar”.
Assim, antes de qualquer vencedor existir, o Estado já havia retido algo em torno de R$ 2,4 bilhões.
Sem risco.
Sem palpite.
Sem fé.
O único jogador invencível não joga. Ele arrecada.
Quando alguém vence — esse acidente estatístico de uma chance em 50 milhões — entra o segundo ato do mesmo roteiro: o Leão. Dos R$ 1,43 bilhão brutos, 30% são confiscados automaticamente. Cerca de R$ 430 milhões retornam ao Estado. O ganhador recebe R$ 1 bilhão líquido — e uma sentença perpétua de vigilância, medo e bajuladores.
A conta, sem maquiagem:
– Arrecadação total: ~R$ 3,85 bilhões
– Estado antes do sorteio: ~R$ 2,42 bilhões
– Estado depois do sorteio (IR): ~R$ 0,43 bilhão
– Total Estado: ~R$ 2,85 bilhões
– Ganhadores: R$ 1,0 bilhão
Isso não é loteria. É engenharia fiscal emocional. Um imposto voluntário cobrado de quem prefere sonhar a pensar. O prêmio nunca foi o bilhão. O prêmio é a massa arrecadada. O sorteio é apenas a encenação necessária para legitimar o sistema.
E o mais patético?
Mesmo entendendo tudo isso, você vai jogar…
…e eu também.
– Não por lógica.
– Não por esperança.
– Mas porque a fé é mais confortável que a lucidez.
E porque, quando a bolinha cair, todo mundo prefere rezar a admitir que foi cúmplice.
963# Riqueza Sem Caixa - 25/12/25

Existe uma armadilha montada em silêncio na economia mundial, e ela pode ser medida em números bem concretos. O mundo inteiro soma hoje algo próximo de US$ 1 quatrilhão em ativos financeiros — ações, títulos, contratos futuros, apostas estruturadas e derivados de todo tipo. Parece muito dinheiro. Mas o dinheiro de verdade, aquele que existe fora do papel e da tela, gira em torno de US$ 120 trilhões. Ou seja: para cada dólar real, existem 8 a 9 dólares prometidos. Não é força. É desequilíbrio.
Criamos um sistema onde quase toda a riqueza depende de alguém aceitar comprar do outro amanhã. O problema aparece quando muita gente resolve vender ao mesmo tempo. Aí não tem comprador suficiente. Não por medo, mas por falta de dinheiro mesmo. Esse é o ponto central: a liquidez global não acompanha o tamanho do patrimônio declarado.
A dívida mundial já ultrapassa US$ 300 trilhões, o equivalente a mais de 330% do PIB global. Só para manter essa dívida “em dia”, o planeta paga cerca de US$ 15 trilhões por ano em juros. Isso representa algo perto de 22% de tudo o que o mundo produz anualmente. Não é investimento. Não é crescimento. É custo para manter erros passados funcionando.
Enquanto isso, os derivados — contratos que apostam em preço futuro de juros, moedas, ações e commodities — já somam valores estimados entre US$ 900 trilhões e US$ 1 quatrilhão. Não são bens. Não são fábricas. Não são casas. São apostas cruzadas. Se uma parte relevante disso precisar ser liquidada, simplesmente não existe dinheiro suficiente para fechar a conta.
Em 2008, o problema estava concentrado em bancos e imóveis nos Estados Unidos. Hoje, está espalhado. O sistema financeiro global está totalmente conectado. Um calote de alguns bilhões pode virar um problema de trilhões em cadeia. Não porque alguém seja mal-intencionado, mas porque o sistema foi montado no limite.
A resposta adotada desde então tem sido sempre adiar. Bancos centrais criaram mais de US$ 25 trilhões em estímulos desde 2008. Durante a pandemia, só os Estados Unidos colocaram mais de US$ 5 trilhões na economia em menos de dois anos. Isso evitou colapsos imediatos, mas inflou preços de ativos. Casas, ações e tudo que depende de crédito subiram muito mais rápido do que salários.
O resultado é visível. Quem já tinha patrimônio viu seu valor crescer. Quem depende de renda mensal perdeu poder de compra. Nos últimos cinco anos, o custo de vida subiu muito mais rápido que os salários na maioria dos países. Isso não é acaso. É matemática.
O efeito político também é mensurável. Países com inflação alta, endividamento elevado e crescimento fraco são os mesmos onde a polarização aumenta. Quando o futuro fica mais caro que o presente, a confiança some.
O maior risco não é um país quebrar. É o sistema inteiro travar por falta de dinheiro real para sustentar tanto papel. Ativos que hoje parecem riqueza podem se mostrar difíceis de vender. E quem sempre esteve na base continuará pagando a conta.
A história mostra que sistemas assim não explodem de uma vez. Eles rangem, apertam e, quando quebram, surpreendem quem achava que “agora é diferente”.
1929 não voltou. Mas os números mostram que o caminho é perigosamente parecido.
“É no auge da confiança que surgem os maiores colapsos.” — Mario Henrique Meireles
“A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou.” — Adam Smith
“Insanidade é repetir o mesmo erro esperando resultado diferente.” — Albert Einstein
“O problema não é a dívida, é fingir que ela não cresce.” — Robert Kiyosaki
“Quando os números não fecham, o discurso não salva.” — Jim Rohn
964# Não existe solução fácil - 26/12/25

A Venezuela não é um país à espera de esperança. É um país à espera de verdade desagradável. E isso faz toda a diferença. Sistemas quebrados não se recuperam com discursos reconfortantes. Recuperam-se com decisões que ninguém gosta de ouvir — e quase ninguém quer anunciar em campanha.
Mesmo assim, o debate público insiste em romantizar a reconstrução venezuelana. Troca-se o tom, troca-se o elenco, troca-se o figurino ideológico. Mas o roteiro continua otimista demais para um país que já provou, várias vezes, que otimismo não paga conta estrutural.
É nesse cenário que surgem María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, apresentados como a nova aposta liberal para tirar o país do buraco. O problema não é a intenção. É a promessa. Porque promessa que não deixa claro o custo não é liderança. É propaganda.
O liberalismo que pede aplauso antes do show
O discurso da oposição venezuelana é elegante, palatável e cheio de palavras que agradam auditórios internacionais. Mercado. Democracia. Reintegração. Investimento. Prosperidade. Tudo muito correto. Tudo muito bonito.
Bonito demais, inclusive, para um país cujo Estado foi desmontado peça por peça desde Chávez, cuja infraestrutura apodreceu ao longo de décadas e cuja sociedade foi treinada a sobreviver no improviso. Há hoje uma geração inteira que nunca viveu em um país viável — para ela, o colapso é o normal. Reconstrução real costuma começar com avisos duros, não com frases inspiradoras.
Quando um plano evita desconforto, ele não está protegendo a população. Está protegendo a própria popularidade.
Olavo avisou — e ninguém achou elegante
Olavo de Carvalho já tinha avisado — e, como de costume, quase ninguém achou elegante ouvir. Em alto e bom tom, com sua conhecida delicadeza equína, resumiu o problema numa frase que dispensa nota de rodapé:
“LIBERAL É, NO FUNDO, CAMISINHA DE COMUNISTA.”
A frase é rabugenta, mal educada, provocativa e indigesta. Mas serve como alerta: liberalismo usado apenas como ponte retórica, sem disposição real de romper com estruturas, tende a ser descartado assim que cumpre sua função política.
Quando o liberalismo entra em cena pedindo cuidado, consenso e suavidade excessiva, ele já sinaliza que não veio para cortar. Veio para administrar expectativas. E quem escolhe viver em cima do muro, quando a pressão aumenta, invariavelmente salta para o lado que promete menos atrito político — quase sempre o lado esquerdo desse muro.
Diagnóstico não é execução
O plano venezuelano acerta ao apontar o fracasso do estatismo chavista. Isso é trivial. O erro é parar aí. O problema não é apenas o chavismo — é o Estado grande, inchado e ineficiente, independentemente do rótulo ideológico.
Tratar o chavismo como causa única transforma o diagnóstico em álibi. A solução começa quando se aceita que o tamanho e o desenho do Estado são o problema central. E isso é apenas o início do trabalho pesado.
Reconhecer que a casa caiu é fácil. Difícil é dizer quem vai limpar os escombros, quem vai pagar a obra e quem vai ficar sem teto durante a reforma. E é exatamente aí que o discurso começa a falhar.
Tudo vira “reconstrução liberal”. Pouco vira cronograma de dor.
Um Estado moribundo não lidera reconstrução
O Estado venezuelano não está apenas doente. Está moribundo.
O plano parte de uma suposição perigosa: a de que existe um Estado funcional esperando apenas novas diretrizes. Não existe. O Estado foi corroído por dentro. Instituições perderam legitimidade, quadros técnicos foram expulsos, incentivos foram distorcidos.
Esperar que esse mesmo aparato conduza uma transição limpa é como exigir que o sistema que causou a falha lidere a correção do erro. O discurso ignora esse detalhe estrutural com uma naturalidade quase poética.
E poesia não governa países quebrados.
Liberalismo como amortecedor emocional
A oposição fala em mercado, mas evita conflito. Fala em abertura, mas evita perdedores. Fala em ajuste, mas não quantifica cortes. Tudo vem embalado em linguagem suave, quase terapêutica.
É o liberalismo que pede licença, pede calma e promete que vai dar tudo certo. Um liberalismo mais preocupado em não assustar do que em funcionar.
Na prática, isso não é liberalismo. É gestão de narrativa.
Milei nunca vendeu conforto
Aqui surge um contraste claro. Javier Milei, na Argentina, nunca prometeu conforto. Prometeu custo, conflito e desgaste explícito.
O contraste deixa de ser retórico e passa a ser operacional. Milei não discutiu narrativa. Discutiu método. Falou em ajuste rápido, choque fiscal e aceitação explícita de perdas no curto prazo.
Na Argentina, Milei não vendeu conto de fadas. Vendeu motosserra. Não pediu paciência com promessas vagas. Pediu resistência para um ajuste brutal.
Isso não garante sucesso. Mas estabelece algo raro na política regional: honestidade sobre o custo.
Na Venezuela, o discurso opositor faz o oposto. Promete travessia suave em mar revolto. Isso incomoda porque lembra o velho padrão latino-americano — tecnicamente correto, politicamente confortável e estruturalmente insuficiente.
E mares revoltos não respeitam roteiro.
Dolarização: símbolo sem músculo
A dolarização aparece no plano venezuelano como selo de seriedade. Mas moeda forte não substitui disciplina fiscal nem reforma do Estado. Sem cortes reais, o dólar vira maquiagem cara.
Dolarizar sem ajuste é como trocar o painel do avião em queda. A leitura fica mais bonita. A física continua a mesma.
O plano evita dizer quem perde com isso. E quando ninguém perde no papel, todos perdem depois.
Privatizar sem desenho é repetir erro antigo
Privatização é outro mantra recitado sem detalhes. Fala-se em devolver ativos ao setor privado, mas evita-se o essencial: ordem, regras, proteção jurídica e reguladores funcionais.
Sem isso, privatização vira apenas troca de dono político. A América Latina já testou esse modelo várias vezes. O resultado foi concentração, cartel e saudade do Estado anterior.
O plano fala em privatizar. Não fala em como impedir o próximo desastre.
Os heróis e o silêncio estratégico
Machado e González evitam cuidadosamente temas que definem qualquer liberalismo sério: demissão em massa no setor público, fim de subsídios amplos, corte de benefícios insustentáveis.
Esse silêncio não é ingenuidade. É cálculo. Mas cálculo político não sustenta reconstrução institucional. Apenas posterga o choque.
E choque adiado costuma voltar maior, mais caro e mais violento.
Do chavismo ao corinismo
Sem compromisso explícito com redução real do Estado, o risco não é apenas trocar o chavismo por um chavismo educado. O risco é criar o corinismo: um Estado grande, mais polido, mais fluente no discurso liberal — e igualmente instável na prática.
O discurso muda. A máquina permanece.
O liberalismo entra como ponte e sai como desculpa.
O maior risco não é perder. É ganhar errado.
O pior cenário para a Venezuela não é a derrota da oposição. É a vitória sem coragem. A vitória que troca o discurso, mas preserva a estrutura. A vitória que chama isso de pragmatismo.
Nesse cenário, o liberalismo vira apenas etapa intermediária. Um verniz temporário antes do retorno ao velho modelo, agora com linguagem mais educada.
Cinco frases para encerrar sem anestesia
Olavo de Carvalho: “Liberal é, no fundo, camisinha de comunista.”
Peter Drucker: “Decisões difíceis são o preço das instituições eficazes.”
Warren Buffett: “O risco cresce quando fingimos que ele não existe.”
Henry Ford: “Antes de montar, é preciso cortar.”
Jim Rohn: “Disciplina dói menos que arrependimento.”
965# A arca cheia de burros - 26/12/25

O episódio do suposto dilúvio anunciado para o Natal, em Gana, pelo autointitulado profeta Ebo Noah, não é uma história sobre profecias. É um raio-X social. Profetas sempre existiram. Charlatães também. O que realmente deveria causar constrangimento é a quantidade de adultos plenamente funcionais que, diante de uma afirmação grotescamente absurda, optaram por desligar o cérebro. Não é fé, não é religião, não é espiritualidade. É desistência intelectual voluntária. Gente que trabalha, paga impostos, dirige carros, vota em eleições — e ainda assim achou plausível que o planeta inteiro seria inundado porque alguém anunciou isso na internet.
Quem acreditou não foi enganado. Foi voluntário. Acreditar numa previsão apocalíptica sem qualquer evidência não é ingenuidade: é comodidade mental. Pensar exige esforço, confronto com dados, ciência, probabilidade e, principalmente, com a possibilidade de estar errado. Acreditar é confortável. Basta emoção, pertencimento e alguém falando com convicção. O seguidor não quer entender clima, geologia ou física. Quer a sensação infantil de fazer parte de um grupo especial, que “enxerga além”. É vaidade travestida de devoção e completa renúncia à responsabilidade cognitiva.
O momento mais revelador de toda a história não foi o anúncio do dilúvio. Foi o dia seguinte. O dia em que absolutamente nada aconteceu. Para qualquer adulto minimamente funcional, esse seria o instante da revisão: “eu errei”. Mas não. O constrangimento virou criatividade. A profecia não falhou; ela foi reinterpretada. A visão mudou. Deus adiou. Houve misericórdia de última hora. O roteiro se ajusta com facilidade; o ego, não. Errar é inadmissível. Admitir que acreditou numa história infantil é humilhante demais. Transformar o fracasso em mistério coletivo exige menos coragem do que assumir a própria tolice individual.
Esse padrão mental é perigoso não pelo dilúvio que não veio, mas porque ele se replica com perfeição em decisões reais. É a mesma cabeça que compra milagre financeiro, cura instantânea, teoria conspiratória e solução simples para problema complexo. O sujeito não quer verdade. Quer conforto psicológico. Quer alguém que fale com convicção, mesmo estando errado. Convicção virou o substituto barato da competência — e quanto mais firme o discurso, menos perguntas o seguidor faz.
Vivemos uma infantilização explícita do adulto moderno. Nunca houve tanto acesso à informação, e nunca houve tanta recusa deliberada em usá-la. Não é falta de dados; é preguiça intelectual. O mundo ficou complexo demais para quem não quer estudar, então surgem os “iluminados” com respostas fáceis, datas marcadas e culpados prontos. Pensar cansa. Delegar alivia. O preço vem depois.
E aqui cabe a ironia final que ninguém quer encarar: no mito original, Noé salva os animais. Nesta versão moderna, quando a água não veio, os únicos que permaneceram foram os burros. Não os animais da arca, mas os que insistem em ficar parados, empacados, relinchando explicações cada vez mais criativas para não admitir que erraram. O dilúvio não aconteceu, mas a burrice ficou — firme, resiliente e organizada.
No fim, o caso não é sobre Gana. É sobre o mercado global de seguidores dispostos a terceirizar o pensamento. Sempre haverá quem venda o fim do mundo. O problema é a clientela fiel que compra sem questionar. E não ria dos ganeses. Há muitos brasileiros fazendo exatamente o mesmo — apenas trocaram a arca por um palanque, o profeta por um salvador político e aguardam, com a mesma fé, que alguém resolva tudo por eles.
“A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição.” — Adam Smith
“O homem prefere acreditar no absurdo a admitir a própria ignorância.” — Voltaire
“A imaginação sem razão produz monstros.” — Francisco de Goya
“Pensar dói. Por isso tantos preferem acreditar.” — Arthur Schopenhauer
“O primeiro passo da ignorância é achar que já sabe.” — Sócrates
966# Tempo Não é Dinheiro - 26/12/25

A maior riqueza de um ser humano não cabe em carteira, não aparece em extrato e não dá pra esconder debaixo do colchão. É a mesma para o RXO, para o Bill Gates, para um garoto da rua, para um presidiário e para um recém-nascido: tempo. Todo mundo acorda com a mesma porção diária, como uma ampulheta sem tampa — o que caiu, caiu. E o que torna isso cruel não é a falta de justiça, é a falta de perdão: você erra hoje e paga amanhã com um pedaço que não se recompõe. Só que a maioria age como se o relógio fosse um funcionário submisso, sempre disposto a “dar um jeito”.
Então vamos ao incômodo que separa adulto de adolescente: quanto você acha que um bilionário te daria para comprar um ano seu? E antes que algum chimpanzé digite besteira: eu não estou falando de “força de trabalho”, nem de vender produtividade, nem de trocar horas por dinheiro — estou falando literalmente de anos de vida, anos mesmo, aquela coisa impossível. Se ele pudesse, pagaria para comprar alguns anos, não só um, porque dinheiro nenhum acalma o pânico de ver o calendário encolher. O problema é que você faz de graça o que ninguém deveria entregar barato: dá suas horas para discussões inúteis, para gente que não te enxerga, para distrações que te deixam mais vazio depois, para um “só hoje” que vira uma vida inteira. Aí você chama isso de normalidade e ainda se espanta quando a semana termina sem ter acontecido nada.
A minha ficha caiu do jeito mais humilhante: um bilionário de 86 anos me chamou de jovem. Eu tenho 52. Eu estava reclamando da idade com aquela pose de quem quer receber carinho por estar envelhecendo, como se envelhecer fosse uma ofensa pessoal e não um privilégio estatístico. Ele me cortou com uma bronca limpa, sem tom de palestra: “Jovem é quem ainda pode corrigir. Você está reclamando como se já tivesse acabado.” Não foi motivação; foi puxão de orelha. Quando alguém tem 86, a palavra “amanhã” fica mais cara — e eu estava desperdiçando “amanhã” como se fosse água na pia.
Depois dessa bronca, a pergunta deixou de ser “quanto vale um ano meu?” e virou “quanto eu tô gastando para perder um ano meu?”. A perda não acontece com explosão; acontece por goteira. Você perde quando adia o que precisa ser dito, quando tolera o que te diminui, quando aceita viver no modo automático porque dá menos trabalho do que mudar. Você perde quando vira refém de ressentimento, quando troca presença por tela, quando se dá o direito de se tratar mal porque “já passou da idade”. Reclamar da idade, do jeito que eu reclamei, é uma forma elegante de desistir sem assumir que desistiu.
E a provocação final é simples e desagradável: ninguém está te roubando tempo — você está entregando. Cada dia é um pedaço do seu estoque indo embora, e o relógio não te pede licença, não te dá explicação, não te manda aviso prévio. O bilionário de 86 anos me chamou de jovem, e eu entendi que juventude não é pele; é a coragem de corrigir enquanto ainda dá. Então a pergunta que sobra é a única que presta: o que você vai parar de fazer hoje para não acordar amanhã dizendo que “não sabe onde foi parar o tempo”?
“Disciplina é a ponte entre metas e realizações.” — Jim Rohn
“É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado.” — Anthony Robbins
“Seu tempo é limitado, então não fique vivendo a vida dos outros.” — Steve Jobs
“O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel.” — Platão
“O tempo é um bandido vingativo de roubar a beleza dos seus ‘eus’ anteriores.” — Ralph Waldo Emerson
967# Já sabemos o final da história - 27/12/25

Correios acabam de fechar um empréstimo de 12 bilhões de reais com cinco bancos — Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa — com prazo que vai até 2040.
E aqui está a parte que deveria fazer qualquer pessoa adulta parar de repetir o mantra do “serviço essencial” como se fosse reza — e entender que “essencial”, por aqui, virou só um jeito elegante de dizer “intocável”.
Não é só um empréstimo. É uma certidão de que o modelo ficou viciado. Uma empresa que deveria viver de eficiência, preço e confiança, agora vive de crédito blindado. É como ver um navio furado pedindo mais água para “equilibrar o casco”. O objetivo oficial é “fortalecer o caixa”. Na prática, é alongar a agonia com carimbo oficial e cara de paisagem — e a conta fica no colo de quem não assina nada.
O acordo foi publicado no Diário Oficial e vem com garantia do Poder Executivo. Traduzindo sem rodeios: se os Correios não pagarem, o governo paga. Ou seja, você paga, meu querido amigo gafanhoto — sem ter pedido o empréstimo e sem ter assinado o contrato. E isso não é detalhe técnico. É o coração do problema. Porque quando o risco deixa de ser do tomador e vira do contribuinte, a disciplina some e a vergonha entra em férias coletivas. A empresa pode errar por anos, empilhar prejuízo e trocar chefia como se fosse figurino, porque sempre haverá um colchão estatal para amortecer a queda. E os números já pararam de ser ruído: 2024 fechou no vermelho em cerca de R$ 2,6 bilhões; de janeiro a setembro de 2025, o rombo divulgado passou de R$ 6,1 bilhões.
Semanas antes, o Tesouro havia barrado uma tentativa de R$ 20 bilhões, com juros de 20% ao ano, acima do limite de 18% aceito pelo comitê. Agora, a operação passou dentro do teto. O teto virou critério de qualidade. É o país comemorando que caiu de uma febre de 40 para 39 — como se isso fosse alta médica.
O que me incomoda não é banco emprestar. Banco empresta — esse é o trabalho deles. O indecente é uma empresa que, até ontem, tinha o monopólio das entregas conseguir se enfiar num buraco desse tamanho e ainda aparecer com cara de “preciso de fôlego”. Uma empresa privada que afunda precisa cortar, vender ativo, reconfigurar rota, perder mercado e, se necessário, fechar. Correios não. Correios têm uma proteção que nenhuma gestão do planeta merece ter: a capacidade de passar a consequência adiante, como quem empurra a louça suja para baixo do tapete e chama isso de “organização”. E aí nasce o pior tipo de incentivo: errar não dói — e, quando dói, a dor é sempre do outro. Do jeito que está, alguém acredita mesmo que isso vai mudar? Honestamente: com esse roteiro, só muda o discurso. E, mesmo assim, ainda existe quem defenda essa bosta como se fosse patrimônio afetivo — quando, na prática, virou apenas um privilégio financiado por obrigação.
Antes de defender o carteiro, vale separar as coisas. O problema não é o trabalhador da ponta. O problema é a estrutura que premia lentidão, carimbo, hierarquia e politicagem. E o cliente percebe isso sem precisar de auditoria: no Reclame Aqui, a nota média recente fica em torno de 5,1/10 e as reclamações se acumulam como se atraso fosse produto. Uma logística moderna exige tecnologia, governança, metas claras e transparência radical. O mundo real não tolera um “plano de reestruturação” eterno. Plano eterno é sinônimo de incapacidade crônica. Se uma empresa precisa de um empréstimo garantido até 2040 para continuar respirando, ela não está sendo reestruturada. Ela está sendo sustentada. E quem sustenta não é “a União”. É o pagador de impostos. Alguém percebeu que eles estão em greve? Pois é... quando até a greve passa batida, não é prova de essencialidade. É prova de que o país já aprendeu a se virar.
A pergunta que deveria estar na mesa é simples e brutal. Por que insistimos em chamar de “estratégico” aquilo que só sobrevive porque é protegido da realidade? Estratégia não é slogan. Estratégia é escolha difícil. E escolha difícil, nesse caso, é parar de tratar falha como identidade nacional. Ou os Correios viram uma operação que responde por desempenho, ou viram um monumento ao atraso financiado por obrigação. O país não precisa de símbolos. Precisa de serviço. E serviço de verdade não se protege com garantia: se protege com vergonha na cara e com o velho medo de perder cliente — aquele sentimento que alguns lugares só conhecem por ouvir falar.
Então vamos simplificar: quem defende esse modelo assina embaixo de quais metas públicas? Prazo médio real, nota mínima de satisfação, prejuízo zero em X meses, transparência total de custos? Sem meta, sem cobrança e sem consequência, não é “reestruturação”. É só o mesmo filme — pago pelo mesmo público.
“A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa.” — Karl Marx
“Homens sábios falam quando têm algo a dizer. Idiotas falam porque precisam dizer algo.” — Platão
“É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado.” — Anthony Robbins
“Cada vez que pensamos que o problema não é nosso, essa atitude é o problema.” — Stephen Covey
“Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões.” — Steve Jobs
968# Agua do Comando Prospera - 28/12/25

Por que o crime organizado funciona?
Dá pra entender melhor se você imaginar duas empresas de água mineral disputando o mesmo morro no Rio de Janeiro, o que é uma realidade.
A primeira é legal, registrada, com CNPJ, auditoria, normas sanitárias, alvará, licenças, contador, folha de pagamento, inspeção, laudos, rastreabilidade, atendimento ao consumidor, recall quando dá problema, contrato com distribuidor, seguro, equipe treinada, fiscalização recorrente e um histórico inteiro de obrigações que não aparecem no rótulo, mas aparecem no custo.
A segunda é “empresa” só no produto. A água sai, chega, vende, gira caixa. Não se sabe exatamente de onde vem a água, quem capta, quem trata ou se há qualquer controle sanitário. Sabe-se apenas quem está por trás do negócio. Sem nota, sem imposto, sem licença, sem pagamento formal. E, principalmente, sem o que mais pesa no Brasil: o atrito com o Estado. A diferença não está na qualidade percebida da água; está na arquitetura do ambiente onde cada uma opera.
Vamos chamar a legal de Água Santa.
E a outra de Água do Comando.
A Água Santa vive num mundo onde errar custa caro e acertar custa mais caro ainda. Ela paga para existir, paga para provar que existe, paga para ser inspecionada, paga para se defender, paga para financiar o sistema que a vigia e, quando finalmente entrega um produto competitivo, descobre que parte do preço final é uma coleção de custos indiretos que não melhoram a água, só aumentam a fricção.
A Água do Comando vive num mundo onde a regra é outra: eficiência não é um valor moral; é sobrevivência. Ela não negocia com sindicato, não precisa cumprir uma liturgia burocrática, não tem passivo trabalhista esperando um juiz, não tem risco regulatório, não tem “interpretação variável” de norma, não tem taxa para cada etapa, não tem multa por detalhe formal. Não existe RNC, não existe não conformidade, não há auditorias internas, externas ou da ISO. O custo regulatório é zero. O imposto é zero. E o risco de punição, muitas vezes, é absurdamente baixo diante do retorno.
Na Água Santa, metas existem, mas são atravessadas por camadas de proteção: estabilidade, recurso, rito, formalidade. Quando há falha grave, abre-se processo, apura-se, empurra-se, negocia-se. A correção demora. A ineficiência ganha tempo. O erro vira linha no relatório.
Na Água do Comando, a avaliação é instantânea. Entregou, fica. Não entregou, sai. Não existe espaço para burocracia interna, porque burocracia interna mata fluxo de caixa. Isso não é virtude. É brutalidade. Só que brutalidade, do ponto de vista operacional, costuma ser rápida.
A Água Santa também precisa competir num cenário em que segurança vira item de orçamento. Caminhão precisa de escolta em certas rotas. Motorista precisa de treinamento para risco. Seguro aumenta. Roubo vira provisão. O custo da violência entra na planilha mental do gestor como algo “do ambiente”, como se não fosse um imposto paralelo cobrado pela ausência prática do Estado.
Já a Água do Comando não paga esse imposto por razões óbvias. Em muitos territórios ela opera como se tivesse exclusividade. A distribuição acontece com menos interferência local, porque o ambiente já foi “organizado” por quem manda. A logística não é travada por medo; é destravada por domínio. Não porque seja legítima, mas porque é imposta.
Agora entra o ponto mais desconfortável: o Estado, quando falha em garantir ordem, cria uma assimetria estrutural. Não é só “não ajudar a empresa legal”. É pior: ele pune a legalidade com custo e deixa a ilegalidade prosperar com omissão. A legal é sócia compulsória de um sistema caro e lento. A ilegal opera numa zona onde a fiscalização é rara, a punição é incerta e a concorrência é eliminada na base da intimidação.
E como a Água do Comando cresce? Como qualquer operação que não carrega o peso da formalidade e ainda se beneficia do vácuo institucional: reinveste sem parar. Compra veículos, amplia rotas, melhora comunicação, ajusta distribuição, expande presença, diversifica canais. A decisão é curta e a execução é rápida. Enquanto isso, a Água Santa passa meses para aprovar mudança simples: nova rota, novo fornecedor, novo contrato, nova embalagem, novo procedimento. Não por incompetência individual, mas por desenho do sistema.
A comparação é feia, mas didática: as duas vendem água. Só uma precisa carregar o Estado nas costas.
Isso não é elogio. É diagnóstico.
Porque tem um detalhe que precisa ser dito com a mesma frieza: a Água do Comando “prospera” com um custo que não aparece no preço, mas aparece na rua. Ela troca legalidade por coerção. Troca concorrência por medo. Troca produtividade real por controle territorial. O lucro vem acompanhado de violência, corrupção, degradação social e um imposto invisível pago pela comunidade inteira.
Ainda assim, economicamente, a lógica é simples: quando o ambiente legal se torna hostil à eficiência e permissivo com a ilegalidade, a eficiência migra. Não por ideologia. Não por cultura. Por cálculo.
E aí a pergunta que ninguém gosta de encarar é esta: por que a Água Santa, que cumpre tudo, vive exausta e vulnerável, enquanto a Água do Comando, que viola tudo, escala com velocidade?
A resposta está menos na água e mais no sistema.
Quando o Estado cobra muito de quem cumpre e cobra pouco de quem viola, ele cria um mercado onde a ilegalidade vira vantagem competitiva. E, quando isso acontece, a sociedade inteira aprende uma lição perversa: não vence quem faz melhor — vence quem enfrenta menos atrito.
Essa é a provocação.
Não para defender ilegalidade, nem para pedir que a Água Santa descumpra regras.
Mas para exigir que o Estado a deixe trabalhar: menos imposto, mais segurança, menos peso jurídico, menos tutela sindical e fim da extorsão disfarçada de fiscalização. Porque, do jeito que está, a escolha não é moral — é operacional: ou a Água Santa fecha, ou deixa de ser santa e passa a nadar no mesmo ambiente da Água do Comando, onde a ilegalidade prospera com a ajuda da omissão estatal.
969# A Jaboticaba Mais cara do Mundo - 29/12/25

O Brasil que liga usinas para tomar banho
Existe algo profundamente errado quando um país inteiro aceita, sem questionar, queimar sua energia mais nobre para resolver o problema térmico mais banal possível: aquecer água para banho. Não é inovação. Não é eficiência. Não é progresso. É apenas hábito mal pensado institucionalizado.
O chuveiro elétrico brasileiro não é símbolo de criatividade nacional. É símbolo de improviso perpetuado. Uma solução emergencial dos anos 1930 que virou política energética de fato — não por mérito técnico, mas por omissão estratégica. Criamos uma dependência estrutural de um equipamento que concentra demanda, estressa o sistema elétrico, encarece a energia e sabota qualquer discurso sério sobre eficiência.
A conta está aí. Sempre esteve. Mas preferimos ignorá-la porque o problema acontece em silêncio, escondido atrás de um gesto cotidiano aparentemente inofensivo: abrir o registro e girar uma chave.
O que poucos querem admitir é que o Brasil construiu parte relevante de sua infraestrutura elétrica para garantir conforto térmico instantâneo em horários críticos. Não para produzir mais. Não para gerar riqueza. Não para elevar produtividade. Mas para sustentar um hábito.
Isso não é detalhe técnico. É erro sistêmico.
O gigante escondido dentro do banheiro
O chuveiro elétrico é, na maioria das residências, o equipamento de maior potência instalada. Enquanto geladeiras, televisores e iluminação operam de forma distribuída ao longo do dia, o chuveiro entra em cena concentrado, previsível e simultâneo. Milhões deles, ligados quase no mesmo intervalo de tempo.
Em média, cerca de um quarto de toda a eletricidade residencial no Brasil é consumida apenas para aquecer água de banho. Em termos absolutos, o consumo anual dos chuveiros elétricos brasileiros se aproxima de 25 a 30 TWh, volume comparável ao consumo total de países inteiros.
Mas o problema não é só o “quanto”. É o “quando”.
O hábito nacional de banho no início da noite — justamente no horário de ponta — cria picos artificiais de demanda que forçam o sistema elétrico a operar em sua pior condição possível. É nesse momento que o setor residencial chega a ultrapassar o consumo industrial. E o principal responsável não é a televisão, nem a iluminação. É o chuveiro.
Por alguns minutos do dia, até um quarto de toda a capacidade de geração elétrica do país existe apenas para aquecer água. Nada mais. Nenhuma externalidade produtiva. Nenhum retorno econômico estrutural.
É como manter uma frota de caminhões pesados apenas para levar sacolas do supermercado até a esquina.
O custo invisível da conveniência
Para atender esse pico diário previsível, o sistema é obrigado a fazer três coisas igualmente irracionais.
Primeiro: acionar usinas térmicas caras, ineficientes e poluentes. Mesmo em um país de matriz majoritariamente hídrica, o pico noturno do banho empurra o despacho de fontes fósseis, elevando custo marginal e emissões.
Segundo: superdimensionar toda a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição. Linhas, transformadores, subestações e usinas precisam ser projetadas para um pico que dura pouco e fica ocioso na maior parte do dia. Pagamos por essa folga estrutural na tarifa.
Terceiro: aumentar a vulnerabilidade do sistema. Em períodos de seca, qualquer estresse adicional no horário de ponta amplia o risco de racionamentos, bandeiras tarifárias e apagões.
Tudo isso para quê? Para manter uma tecnologia que só existe porque foi barata no passado e nunca foi questionada no presente.
Como já alertava Osvandré Lech: “Você se torna aquilo que tolera.” E o Brasil tolerou o absurdo por décadas.
A falsa virtude da eletrificação cega
Há um discurso global sedutor que defende a eletrificação de tudo como solução ambiental automática. O problema é que eletrificar sem pensar demanda e eficiência é apenas trocar o tipo de erro.
Mais de 60% da eletricidade mundial ainda é gerada a partir de fontes fósseis. Substituir aquecimento direto por eletricidade em países com matriz suja é, muitas vezes, aumentar emissões. No caso brasileiro, a matriz é relativamente limpa, mas o gargalo não está na fonte — está no uso.
O paradoxo brasileiro é cruel: temos uma das matrizes mais limpas do mundo e uma das piores eficiências no uso da eletricidade residencial.
A lição é simples: eletrificar sem otimizar a demanda é ineficiência travestida de virtude ambiental.
Como disse Peter Drucker: “Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente aquilo que não deveria ser feito.”
A solução óbvia que fingimos não ver
O Brasil é um dos países com maior insolação do planeta. A tecnologia de aquecimento solar térmico é madura, simples, robusta e amplamente testada. Ela resolve exatamente o problema que criamos: desloca o consumo de energia do horário crítico para um período abundante, armazenando calor em vez de exigir potência instantânea.
Um sistema solar térmico reduz drasticamente a demanda no horário de ponta, achata a curva de carga, diminui a necessidade de térmicas, reduz investimentos em rede e libera eletricidade para usos realmente produtivos.
Mesmo com custo inicial maior, o retorno sistêmico é óbvio. A economia não é apenas do consumidor — é do país.
Mas o Brasil preferiu subsidiar o desperdício via tarifa cruzada, em vez de incentivar a correção estrutural.
Como alertava Henry Ford: “Se você sempre fizer o que sempre fez, sempre obterá o que sempre obteve.”
O erro cultural travestido de normalidade
O mais grave não é o chuveiro elétrico em si. É a naturalização de um modelo energeticamente burro.
Criamos um país que discute transição energética sem discutir eficiência de demanda. Falamos em novas usinas, novas linhas, novos investimentos, mas evitamos a conversa desconfortável sobre hábitos e escolhas técnicas ruins.
O sistema elétrico brasileiro virou refém de um comportamento social previsível. Não é a indústria que dita o pico. É o banho.
Isso é inaceitável sob qualquer ótica minimamente racional.
Como dizia Albert Einstein: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.”
O preço da omissão estratégica
Manter o chuveiro elétrico como padrão dominante não é neutralidade. É decisão política por inércia.
Cada nova usina construída para atender picos artificiais é um imposto invisível sobre toda a sociedade. Cada linha superdimensionada é capital imobilizado que poderia estar gerando valor em outro lugar. Cada térmica acionada no horário do banho é um retrocesso ambiental desnecessário.
E o pior: tudo isso acontece sem debate público sério.
Como bem resume Warren Buffett: “O risco vem de não saber o que você está fazendo.”
No caso brasileiro, sabemos exatamente o que estamos fazendo. Apenas escolhemos fingir que não vemos.
Conclusão: não é falta de energia, é excesso de burrice
O Brasil não sofre de escassez energética estrutural. Sofre de escolhas ruins sustentadas por décadas.
Usar eletricidade nobre para aquecer água instantaneamente, no pior horário possível, em escala nacional, não é um detalhe técnico. É um erro de projeto.
Enquanto não encararmos esse tema com a seriedade que merece, continuaremos discutindo expansão de oferta sem resolver o problema central: a demanda mal desenhada.
Transição energética sem eficiência é marketing. E marketing não segura sistema elétrico.
970# Se não limpar o Esgoto... - 01/01/26

Em novembro, o Rio assistiu a uma dessas ações que a cidade aprendeu a consumir como episódio de série. Foram mais de cem mortos. A mídia de direita tratou como festa, o resto como velório, e ambos pareciam satisfeitos. Satisfeitos porque cada lado ganhou seu ritual, sua catarse e sua narrativa pronta. No meio disso, a popularidade do governador subiu, porque barulho costuma ser confundido com comando. Só que comando de verdade aparece quando ninguém está filmando.
Aí chega o D mais 1, o dia em que o delírio perde o efeito e a realidade volta a cobrar aluguel. O território continua sendo território, o medo continua tendo CEP, e a rotina continua refém. Eliminar rato e barata sem limpar o esgoto é uma forma infantil de esperança, quase poética, quase ingênua de que os bichos não voltam mais. Você pode dedetizar a cozinha inteira, registrar o chão brilhando e ensaiar um sorriso de vitória. Mas, se a tubulação segue vazando, a comida exposta e a porta quebrada, o resultado é previsível. Praga é praga, não por acaso, mas por ambiente favorável, por incentivo, por oferta e por método. E tudo que encontra método, demanda e vazio tende a não desaparecer.
Crime organizado não é um personagem; é uma engenharia social de baixa moral e alta eficiência. Opera como rede, com peças substituíveis, disciplina, rotas e caixa. E segue operando sem interferência real do governo, que deveria atuar como agente inibidor, mas frequentemente se comporta como fator de distorção, como ocorre em tantos empreendimentos. Quando se remove o operador visível, a estrutura se ajusta e a reposição ocupa o lugar. A base não está apenas na arma, mas no dinheiro que a compra e no medo que vende silêncio. Quando a sociedade mede impacto apenas pelo número de corpos, ela treina o sistema a se esconder melhor. Se o Estado entrega apenas choque, produz adaptação — e adaptação é evolução acelerada. Evolução acelerada é apenas um nome elegante para voltar pior.
Limpar esgoto é o trabalho feio, técnico e antipático, e por isso mesmo o único que muda o jogo.
É investigar com prova que não derrete no caminho, com cadeia de custódia e inteligência integrada.
É cortar o fluxo de caixa, bloquear lavagem, confiscar patrimônio e tornar o risco econômico insuportável.
É impedir que prisão funcione como escola de facção e que audiência vire porta giratória do caos.
É ocupar o vazio com serviço decente, porque onde o Estado não chega alguém chega antes.
E esse alguém não chega oferecendo futuro, chega oferecendo salário, pertencimento e arma.
O resto é performance, e performance não protege ninguém.
Então a pergunta que interessa não é quantos morreram ontem, é o que impede a reposição amanhã. Em momento algum isso significa defesa deste ou daquele grupo. Se dependesse apenas de vontade, poderiam ter morrido milhares de criminosos nessa operação. O ponto não é moral, é estrutural.
Se ninguém consegue responder com algo além de grito, torcida e bravata, então era só teatro mesmo. Teatro é confortável, porque dá sensação de ação sem exigir responsabilidade por resultado.
Mas cidade não vive de sensação; vive de previsibilidade, de regra, de consequência e de presença real.
Quem comemora o D0 e foge do D mais 1 não quer segurança, quer catarse com aplauso fácil.
O esgoto continua aberto, produzindo o próximo ciclo, e ele não liga para narrativa.
Sem a limpeza do esgoto, a praga volta. E quando volta, volta com força.
Ou você fecha a fonte, ou continuará celebrando, em ciclos, o retorno da praga.
“Se você faz o que sempre fez, você obterá o que você sempre obteve.” — Anthony Robbins
“Não existe fracasso. Existem somente resultados.” — Anthony Robbins
“Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com suas emoções.” — Robert Kiyosaki
“A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida.” — Soren Kierkegaard
“O inferno é a verdade vista tarde demais.” — Thomas Hobbes
971# Eu, Eu, Eu, o Maduro se ... - 05/01/26

Maduro virou manchete de prisão, e o detalhe mais cômico não é o camburão: é a nota fiscal que ele guardou como talismã. Comprou defesa estrangeira, confiou na etiqueta como blindagem, e guardou a promessa como escudo. Bastou uma investida bem feita de 30 min e o homem do discurso duro apareceu escoltado, manso, pálido, com óculos blackout, tampões de ouvido, sem frase pronta. É quando a propaganda encontra a gravidade: discurso não intercepta ninguém e bravata não para algema. O petróleo era real; a proteção chegou como enfeite e falhou na hora crítica.
O roteiro parecia simples: somar radar chinês, míssil, fuzil, bateria antiaérea russas, e dormir tranquilo — tudo comprado em pacote, como kit de cozinha. E completar com guarda-costas cubanos, treinados para vigiar gente, vendidos como muralha humana e fidelidade absoluta. Em troca, barris de petróleo foram saindo a preço camarada, por anos, para pagar dívida e alimentar a parceria. Só que quem troca mercadoria por proteção vira cliente cativo: o fornecedor passa a morar no seu sistema. Quando a fatura vence, você descobre o golpe: pagou por invulnerabilidade e recebeu uma promessa.
Máquina nenhuma protege um regime que apodrece por dentro, e isso não aparece em catálogo nem em desfile.
Você cerca a casa com sensores, mas se a porta trinca e alguém tem a chave, a conta chega sem aviso.
Quem governa pelo medo acha que tudo se resolve com mais medo, só que medo não faz manutenção preventiva.
No dia em que a rua vira ruído e o círculo íntimo mede distância, o arsenal vira cenário, não escudo.
A prisão, nesse contexto, é auditoria tardia de um sistema que falhava fazia tempo, só que ninguém quis encarar.
Isso não é lição geopolítica; é lição de gestão de risco, daquelas que doem porque parecem óbvias depois.
Quando você terceiriza proteção, terceiriza vulnerabilidade, e sempre existe alguém disposto a monetizar seu pânico.
O vendedor lucra mais quando você continua com medo, então a paz nunca está no pacote, só a renovação.
O regime vira assinante vitalício: renova contrato, renova armas, renova guarda, e chama isso de “estabilidade”.
Se você precisa provar que é intocável, é porque já se sente tocável, só não admite em voz alta.
A ironia final é brutal: Maduro vendeu barato o petróleo e comprou muito caro a confiança, e perdeu os dois no mesmo pacote. Quem vendeu “segurança garantida” não perdeu nada; quem comprou perdeu rosto, controle e a narrativa construída a ferro. Antes de assinar, teste; antes de repetir promessa, peça evidência; antes de confiar, olhe para a base. O que sustenta liderança não é míssil nem escolta: é legitimidade, rotina, e gente disposta a ficar. No fim, quem compra segurança de vitrine descobre que vitrine quebra — e quebra no primeiro impacto.
“A natureza nunca nos engana; somos nós que nos enganamos.” — Jean-Jacques Rousseau
“O inferno é a verdade vista tarde demais.” — Thomas Hobbes
“A verdade é filha do tempo, não da autoridade.” — Francis Bacon
“Controle o seu destino ou alguém controlará.” — Jack Welch
“A confiança vem através da disciplina e do treino.” — T. Harv Eker
972# Hat-Trik Político - 06/01/26

Se existe uma coisa que engenheiro respeita, é medição. Não é discurso, não é intenção, não é “narrativa”. É número, causa, efeito e repetição do erro. E quando um político consegue repetir o erro em três funções grandes, a gente não está diante de um acidente. Está diante de algo metódico.
Fernando Haddad fez o hat-trik: pior prefeito de São Paulo. Pior ministro da Educação. E está saindo como o pior ministro da Economia, mesmo tendo Ruy Barbosa como adversário histórico. Não é figura de linguagem. É um padrão de entrega: promete controle, entrega perda.
Na Fazenda, o “controle” começou do jeito clássico: com uma meta bonitinha. Em 2022, o governo central fechou com superávit de R$ 46,4 bilhões. Em 2023, sob Haddad, virou um rombo de R$ 230,5 bilhões. Isso não é “oscilação”. É inversão de sinal com força. É trocar um sistema estável por um sistema que vibra e quebra.
Aí veio a tentativa de vender precisão. Em 2024, anunciaram déficit de 0,1% do PIB, quase nada. Só que “quase nada” foi obtido com exclusões convenientes. Tiraram do cálculo R$ 38,6 bilhões ligados às enchentes no RS e mais gastos emergenciais. Quando você coloca isso na conta, o déficit sobe para algo perto de 0,36% do PIB, na casa de R$ 44 bilhões.
O roteiro é sempre o mesmo: trocar ajuste por contabilidade. E engenheiro sabe o nome disso. É maquiar leitura de sensor para o painel parecer bonito, enquanto o motor está aquecendo por dentro. O problema não some: ele só muda de lugar. E volta depois, maior e mais caro.
Em 2023, o governo precisou tomar emprestado R$ 844 bilhões líquidos. Foi um salto de mais de 100% frente a 2022. E, com déficits voltando e juros altos, a dívida subiu. A projeção citada no anexo aponta a dívida bruta chegando perto de 80% do PIB no fim de 2024. E o valor nominal já rondava R$ 8,8 trilhões em meados de 2024. Não existe milagre: dívida cresce, confiança cai, e o preço do dinheiro fica hostil.
Enquanto isso, a inflação fez o favor de expor a farsa. A meta de 2024 tinha teto de 4,5%. O IPCA em 12 meses até dezembro/2024 fechou em 4,83%. E, quando a inflação não obedece, o juro não perdoa. O resultado prático é simples: crédito caro, investimento tímido, produtividade travada. Em 2023, o investimento caiu 3%, e a taxa ficou em 16,4% do PIB.
Para tapar buraco sem cortar gasto, veio o vício mais previsível: taxar. Até maio de 2025, foram anunciadas 24 medidas de aumento/criação de impostos. Uma novidade a cada 37 dias, como se o país fosse um laboratório de arrecadação. Em 2024, a carga tributária foi a 32,3% do PIB, o maior nível em 15 anos. Não é “justiça”. É a forma mais preguiçosa de financiar erro: cobrar do setor produtivo a conta da improvisação.
E o estrago respinga onde sempre respinga: nas estatais. Os Correios foram do vermelho ao abismo. Em 2024, o prejuízo foi de R$ 2,6 bilhões. No primeiro semestre de 2025, já somavam R$ 4,4 bilhões. E, quando a conta fica impagável, o resgate aparece como se fosse virtude. Não é virtude. É a confirmação de que a gestão falhou até no básico: manter a operação de pé.
O hat-trik do Haddad não é sobre ideologia. É sobre competência. E competência, para quem constrói ponte e não desculpa, se mede em entrega consistente. Se ele foi o pior nos três cargos, não foi azar. Foi reincidência. E reincidência, no mundo real, tem um nome: custo. Mas calma, que ele vai tentar o Senado, e tem chances reais de ganhar pois vai concorrer por São Paulo e tem duas vagas para esse ano.
Se você ainda acha que “não dá para fazer diferente”, experimente fazer uma pergunta simples: quem pagou a conta dessa sequência de “piorias”?
5 frases inspiradoras (com autores)
“Uma nação que tenta prosperar só com impostos é como um homem num balde tentando se erguer puxando a alça.” — Winston Churchill
“No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar; no longo prazo, é uma balança.” — Benjamin Graham
“Não existe almoço grátis.” — Milton Friedman
“Em Deus nós confiamos; todos os outros tragam dados.” — W. Edwards Deming
“A disciplina é a ponte entre metas e realizações.” — Jim Rohn
973# EUA da Europa - 07/01/26

Imagine a ilha mais fria do planeta virar uma proposta de aquisição, como se fosse uma fábrica à venda. Na conta rápida, dá até para parecer elegante: 57 mil pessoas, US$ 500 mil para cada uma, cidadania americana e um cheque para a Dinamarca. Cerca de US$ 28 bilhões é troco para um orçamento federal que passa de US$ 6 trilhões, e a conta mental do investidor fecha em segundos. Território de 2,16 milhões de km², posição no Atlântico Norte, minerais críticos, rotas do Ártico abrindo com o degelo. A história dá munição: Louisiana em 1803, Alasca em 1867, e até o Brasil com o Acre em 1903 (compra da Bolívia); compra de terra sempre foi estratégia de Estado. O problema é que, em 2026, terra não é só terra; é gente com voto, idioma, identidade, belicismo e um conceito simples chamado consentimento. E consentimento é o único ativo que não se compra depois do contrato assinado. O que parece um negócio, na verdade, é uma auditoria moral em praça pública. E nesse tipo de auditoria, o custo oculto costuma ser o que quebra o acordo.
Por isso o barulho recente assusta: a Casa Branca, diga-se Trump, voltou a dizer, em janeiro, que “todas as opções” estão sobre a mesa, inclusive o uso militar. Quando um aliado de OTAN vira alvo de ameaça, a palavra “compra” começa a soar como eufemismo. Dinamarca e Groenlândia responderam do único jeito possível: não está à venda, e ponto. O governo local aceita negócios, mineração, bases, cooperação; o que rejeita é a transformação de um povo em cláusula contratual. E aqui entra a parte que pouca gente discute: a Groenlândia não é o prêmio, é o gatilho. Um movimento mal calculado ali não quebra gelo; quebra confiança, e confiança é o cimento que sustenta alianças, cadeias logísticas e investimentos de décadas. Você não perde apenas prestígio, perde tempo, e tempo não volta, nem para bilionário nem para império. Trump quer entrar para a história aumentando o mapa, mas mapas também têm custo de manutenção: segurança, infraestrutura, cultura, legitimidade. E legitimidade, diferente de minério, não se extrai; se constrói, ou se destrói.
Essa obsessão por comprar uma solução externa tem cheiro de gestão preguiçosa: quando o problema é complexo, tenta-se adquirir o atalho. Em empresa, isso aparece quando o CEO compra uma marca para fugir de inovar, ou compra uma área para esconder a falha de execução interna. No Estado, a tentação é igual: em vez de negociar interesses, tenta-se comprar soberania, porque parece mais rápido e rende manchete. Só que o mundo real não mede sucesso pelo tamanho do território, mede pela capacidade de gerar prosperidade sem destruir a regra do jogo. Se você lidera times, olhe para esse caso como estudo de risco: toda aquisição tem passivo invisível, e o passivo mais caro é reputação. Quando você ameaça antes de conversar, você ensina o mercado a te precificar como imprevisível, e imprevisibilidade encarece tudo. O Ártico é só o palco; a peça é sobre limites, contratos e autocontrole. A pergunta final não é se a Groenlândia vale US$ 28 bilhões, é quanto custa gastar décadas reconstruindo confiança depois de quebrá-la. E, como lembrete prático, ninguém está te roubando tempo — você é quem decide onde o desperdiça.
974# A cegueira confortável | 07/01/26

Tem gente que não duvida, decreta. Não porque estudou mais, mas porque encolheu o mundo até caber no próprio bolso. Tudo o que não aparece no seu repertório vira lenda, exagero, delírio, teoria absurda. É uma forma elegante de permanecer pequeno e ainda posar de adulto racional. Olavo de Carvalho descreveu esse vício com precisão incômoda ao lembrar que, para certos tipos, o desconhecido não é uma fronteira a explorar, é uma ameaça a negar, e a mente se protege reduzindo o real ao tamanho do próprio campo de visão.
O curioso é que isso não nasce de falta de dados. Nasce de um defeito de instrumento. Você pode despejar relatórios, números, experiências e testemunhos na mesa, e mesmo assim a pessoa continuará olhando para tudo como quem usa um radar quebrado: só detecta aquilo que foi calibrado para detectar. No trabalho, esse defeito aparece quando alguém confunde função com realidade, cargo com competência, rotina com verdade. A operação muda, o mercado muda, o cliente muda, e o sujeito continua dizendo que nada mudou porque o painel dele continua igual.
Há uma tecnologia mental por trás dessa cegueira: transformar palavras em muros. Olavo foi brutal ao resumir o mecanismo quando escreveu que “a fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo”. Quando isso acontece, o profissional deixa de enxergar processos e passa a enxergar apenas narrativas. Deixa de testar hipóteses e passa a defender slogans. Troca o método pelo temperamento. E, como acontece em qualquer sistema fechado, tudo que entra precisa ser convertido em combustível para a crença existente, nunca em motivo para revisão.
Na indústria, em gestão, em liderança, isso custa caro porque reduz a inteligência do time à largura do ego de quem manda. Um líder de visão estreita não precisa ser mal intencionado para destruir valor; basta que ele confunda estabilidade com verdade. Ele rejeita dados que contradizem sua intuição, pune quem traz complexidade, premia quem simplifica demais. O resultado é um ambiente onde o risco real fica invisível e só sobra o risco teatral, aquele que rende discurso, reunião e justificativa, mas não muda nada no chão.
Se você quer um teste prático, observe o que acontece quando alguém diz “não sei”. Em equipes maduras, essa frase abre investigação. Em equipes frágeis, essa frase vira ofensa. O problema não é ignorar uma resposta. O problema é proibir a pergunta. Quem decreta que só existe o que ele conhece, transforma o próprio limite em lei universal, e aí não é mais opinião, é administração de cegueira. A pergunta final é simples e incômoda: você está ampliando o seu campo de visão, ou apenas defendendo o seu conforto?
“Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele.” (Henry Ford)
“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.” (Henry Ford)
“Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência.” (Henry Ford)
“É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado.” (Anthony Robbins)
“Quanto mais brilhante o raio, mais rápido ele desaparece.” (Avicena)
975# Tá fácil hoje - 11/01/26

Hoje eu olho para mim e penso que estar vivo em 2026 não é um direito, é o recibo de uma cadeia logística brutal. Meu corpo é um arquivo comprimido de deslocamentos, fome, doença e aposta cega no amanhã. A gente trata identidade como etiqueta, mas ela é engenharia de sobrevivência. Quando eu digo que tenho sangue europeu, negro, indígena e talvez um traço do Oriente Médio, eu não estou falando de diversidade, estou falando de custo humano acumulado.
Para um europeu chegar aqui séculos atrás, foi preciso aceitar que o mar era uma roleta e o mapa, uma superstição. Meses em madeira rangendo, comida estragando, água virando lodo e febre escolhendo quem ficava no convés e quem descia para o porão. Não havia aplicativo de rota, havia vento e desespero. A travessia era tão incerta que o verdadeiro produto da viagem era a possibilidade de continuar respirando.
Mas o núcleo do meu DNA, como o de milhões de brasileiros, carrega uma história ainda mais dura. Alguém foi caçado por outra tribo, amarrado, trocado por mercadoria, empilhado em um navio onde a humanidade era tratada como excesso de peso. Chegar vivo ao litoral já seria um milagre, só que o milagre era seguido de mais violência: trabalho forçado, punição como método de gestão, família como risco, fé como refúgio. Esse sangue gerou filhos em condições que a nossa linguagem de hoje mal consegue descrever, até que a liberdade virou lei, mas não virou reparo.
E no meio disso havia o indígena, muitas vezes empurrado para a escolha impossível entre resistir até morrer ou negociar para existir. Para o DNA indígena atravessar o tempo, precisou passar por alianças, conflitos, catequese, doença, deslocamento e uma matemática cruel de perdas. Foi preciso inteligência social, leitura de território e adaptação, como quem recalibra um motor em plena corrida. O que hoje chamam de miscigenação foi, para muita gente, uma estratégia de continuidade em cenário hostil.
Se existe no meu sangue algum fio do Oriente Médio, judaico ou não, ele também vem carregado de uma longa teimosia histórica. Povos que atravessaram impérios, expulsões, pogroms, guerras e diásporas aprenderam cedo que sobreviver é um projeto de longo prazo, não um evento.
Agora, a parte que não é de um grupo específico, é de todos os grupos que eu já mencionei. Por centenas de anos, o mundo inteiro operou com mortalidade infantil absurda, saneamento inexistente, fome como rotina e uma expectativa de vida que fazia alguém de 50 parecer antigo. Aos 40 já se brindava a chegada da velhice, não por romantismo, mas por estatística.
Quando eu vejo gente tratando o presente como se fosse garantido, eu lembro que ele é uma camada fina de sorte sobre uma pilha de perdas. O conforto moderno não apaga a conta, ele só esconde o cálculo. E isso deveria mudar como a gente lidera, como decide, como cobra e como julga nas empresas, em casa e na política do dia a dia. Porque todo privilégio que eu tenho hoje veio embalado em sacrifícios que eu não vivi, mas herdei. Honrar essa herança não é culpa, é responsabilidade: usar acesso para construir, usar voz para defender o básico, usar ambição para abrir caminho também para quem ainda está no porão da história. E se a sua resposta para isso é reclamação, eu vou ser indelicado de propósito: pare de mimimi, levante cedo, trabalhe, estude e entregue mais do que promete, porque diante do percurso que nos trouxe até aqui, hoje está fácil demais para virar desperdício.
“Aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como.” Friedrich Nietzsche
“Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta.” Viktor Frankl
“Eu nunca perco. Ou venço, ou aprendo.” Nelson Mandela
“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.” Winston Churchill
“A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar.” Martin Luther King Jr.
976# Dinheiro na mão é inflação! — 12/01/26

Quando alguém fala em comprar a Groenlândia, muita gente imagina mapa, bandeira e manchete. Só que o ponto que decide se isso vira “solução” ou vira caos não é o discurso, é o método. Como esse dinheiro entraria na ilha? Porque, em economia pequena, dinheiro chegando errado não traz prosperidade, traz briga por preço. E preço, quando enlouquece, não pede desculpa para ninguém.
Vamos colocar o cenário em linguagem de rua. A proposta que circula é pagar uma bolada por pessoa, algo como meio milhão para cada habitante, e fazer isso de uma vez. Talvez o caminho seja os EUA pagarem de forma parcelada para não causar esse impacto. Porque o problema não é só “ter dinheiro”, é ter tempo para a oferta reagir sem quebrar. Pagamento à vista em lugar pequeno é como jogar combustível em fogueira e chamar de aquecimento.
Imagine uma ilha onde quase tudo chega de barco, com estoque curto e logística lenta. De repente, todo mundo resolve comprar casa, carro, reforma, serviço, tudo ao mesmo tempo. Só que casa não brota, carro não aparece do nada, mão de obra não se multiplica por milagre. O que acontece quando muita gente quer a mesma coisa ao mesmo tempo? O preço vira leilão. Não é maldade, é escassez mandando.
É o mesmo mecanismo do dinheiro de helicóptero, a metáfora que Milton Friedman usou para mostrar o truque. Você joga notas do céu e finge que a realidade vai se reorganizar sozinha. No papel, todo mundo tem mais. Na prateleira, continua existindo a mesma quantidade de coisas. O resultado é previsível: a moeda perde força e a vida fica mais cara sem pedir licença. Se numa feira existem 100 bananas e 100 unidades de dinheiro, cada banana custa 1. Quando o dinheiro vira 200 e as bananas continuam 100, a banana tende a custar 2. Não é teoria sofisticada, é o bom senso vestido de números.
O golpe mais cruel é psicológico. A pessoa se sente rica e descobre que comprou só uma ilusão, porque o dinheiro chega antes da estrutura. Serviços explodem primeiro, porque são feitos por gente, e gente negocia. Aluguel dispara, conserto fica impossível, o básico vira luxo. E quem não entende finanças vira presa fácil de fraude, gasto impulsivo e promessa mágica.
Por isso o parcelamento não é detalhe, é proteção. Parcelar, travar parte em um fundo e liberar devagar dá tempo para logística, oferta e mão de obra se ajustarem. O debate não é geopolítica, é responsabilidade: quem despeja dinheiro sem aumentar produção despeja inflação. Comprar adesão com cheque gordo parece força, mas é só pressa. Riqueza é capacidade de produzir, transportar, competir e aprender, não é saldo que aparece na tela. Se você quer entender poder, pare de olhar para o valor do pagamento e comece a olhar para a conta que ele empurra para o dia seguinte.
“As palavras são a contrafação dos sábios e o dinheiro dos tolos.” Thomas Hobbes
“Não é sabedoria, mas autoridade que faz uma lei.” Thomas Hobbes
“Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele.” Henry Ford
“Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá.” Henry Ford
“Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos.” Henry Ford
977# Maldição foi de Navio - 12/01/26

O navio atraca no porto e a cidade vibra. Barris de prata, barras de ouro, cofres cheios. A sensação é de vitória automática, como se metal fosse sinônimo de riqueza e riqueza fosse sinônimo de futuro. A Espanha viveu isso por séculos. Só que o navio não trouxe prosperidade. Trouxe um atalho. E atalhos econômicos cobram juros invisíveis.
Milton Friedman insiste numa ideia simples, quase insultante de tão óbvia: se a quantidade de dinheiro cresce mais rápido do que a quantidade de bens e serviços, os preços sobem. Não é moralismo, é física. Você pode aumentar a pressão num sistema fechado, mas não cria mais volume útil. A energia vira calor, e o calor vira custo.
Quando a prata do México e a prata da Bolívia inundaram a Europa via Espanha, o império recebeu um aumento brutal de base monetária sem aumento equivalente de produtividade. Era como elevar a tensão do sistema sem ampliar a capacidade de entrega. O resultado foi uma inflação que corroeu salários e distorceu contratos. O país parecia mais rico no espelho, mas ficou mais frágil na estrutura.
E aí entra o famoso efeito Cantillon. O dinheiro novo não cai de forma uniforme. Ele entra por um ponto do circuito e percorre o sistema. Quem recebe primeiro compra ativos com preços antigos. Quem recebe por último chega quando o mercado já recalibrou e paga mais caro por comida, aluguel e crédito. A desigualdade não nasce do nada; ela aparece no trajeto do dinheiro.
Por isso a imagem do helicóptero funciona só como caricatura. Jogar dinheiro do alto não cria mais casas, nem mais gente qualificada, nem mais produtividade por hora. Cria disputa por coisas finitas. E como sempre existe alguém mais perto do rotor, a corrida começa com vantagem marcada. O preço sobe antes do salário, e a narrativa chega depois.
Engenheiro entende rápido: riqueza é capacidade de entrega. É throughput. É produzir mais valor com menos perda, com melhor processo, melhor tecnologia, melhor logística, melhor decisão. Dinheiro é só o sensor e o sinal. Se você amplifica o sinal sem aumentar a capacidade, o sensor satura e a leitura vira mentira. A Espanha celebrou sinal. Negligenciou capacidade. E pagou com decadência.
Hoje, muita liderança ainda trata liquidez como milagre e produtividade como detalhe. O navio mudou de formato, mas a maldição é a mesma: entrada fácil de dinheiro, saída difícil de resultado. Se você quer escapar, pare de torcer por vento favorável e comece a reforçar o casco. A pergunta honesta é esta: qual navio você está comemorando, e que fábrica você está deixando para trás?
“Encare a realidade como ela é, não como foi ou como você deseja que ela seja.” Autor: Jeff Bezos
“No fim das contas, é impossível viver uma vida que vale a pena a menos que seja uma vida com sentido. E é muito difícil ter uma vida com sentido sem um trabalho com sentido.” Autor: John Rockefeller
“Ou você controla o seu dinheiro ou ele o controlará.” Autor: T. Harv Eker
“O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem; a essência domina-o e ele adora-a.” Autor: Karl Marx
“Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas.” Autor: Karl Marx
Vídeos
Vídeo 01# Comida Tipo Comida — 08/11/25
O vídeo “Comida Tipo Comida” desmonta um dos equívocos mais comuns sobre a indústria alimentícia: a ideia de que produtos “tipo alguma coisa” são resultado de má-fé corporativa. Na realidade, são consequência direta de uma estrutura tributária sufocante, da logística ineficiente e da renda média da população.
“Sem tipo iogurte, muita gente não teria nenhum iogurte.”
Vídeo 02# Carro movido a água — 08/11/25
O vídeo “Carro movido a água” desmistifica um dos boatos tecnológicos mais persistentes das últimas décadas: a promessa de que a água pode substituir a gasolina sem violar as leis da física. Em linguagem acessível, o narrador mostra por que a termodinâmica não “tira férias”.
“Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira.”
Vídeo 03# Todo problema começa pequeno — 08/11/25
“Todo problema começa pequeno” é um lembrete brutalmente realista sobre a cultura de complacência dentro das operações industriais. O vídeo mostra como pequenos desvios e “gambiarras temporárias” viram catástrofes quando a prevenção cede lugar ao improviso.
“Os problemas não desaparecem porque são ignorados — eles se tornam monstros.” — Winston Churchill
Vídeo 04# Banânia e o Milagre Econômico — 08/11/25
“Banânia e o Milagre Econômico” é uma parábola direta sobre o mito do dinheiro fácil: o governo deposita 1 milhão de “bananis” para cada cidadão e a euforia vira colapso. Sem aumento de produção, os preços disparam, o trabalho para, faltam bens e a moeda implode. A mensagem é simples e dura: prosperidade vem de produtividade, não de decreto — riqueza real se constrói, não se imprime.
“Se todo mundo é milionário, ninguém é rico.”
Vídeo 05# Como Destruir com o Mercado Negro — 08/11/25
O vídeo propõe uma tese provocativa em tom satírico: se governos querem realmente destruir o mercado negro, basta submetê-lo ao mesmo ambiente hostil do setor formal — estatização, carga tributária total (ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS), CLT completa com benefícios e adicionais, licitações demoradas e um labirinto regulatório (sanitário, ambiental, marketing). Sem agilidade, com custos explosivos e decisões politizadas, a “eficiência” do mercado negro implode sem precisar de helicóptero ou megaoperações. Moral: mercados paralelos florescem onde há proibição, controle de preços e burocracia; sufocam quando submetidos às mesmas amarras que estrangulam o empreendedor comum.
“O mercado negro prospera quando se impõem controles de preços e proibições.” — (paráfrase de ideias de Milton Friedman)
“Nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo.” — Milton Friedman
“A burocracia é a morte de qualquer eficiência.” — atribuída a diversos autores
Vídeo 06# Carros a Ar Comprimido: O Sonho Verde Que a Física Enterrou — 17/05/25
A ideia de um carro movido a ar comprimido sempre encantou: um veículo que emite apenas ar, silencioso, limpo, livre dos combustíveis fósseis. No vídeo, esse sonho sustentável é explorado com rigor histórico e técnico — desde os experimentos do século XIX até os desafios modernos enfrentados pela física e pela termodinâmica.
O conceito parece simples, mas esbarra em leis naturais: comprimir ar exige calor, que se dissipa; expandir ar gera movimento — mas a energia perdida é grande. Enquanto os veículos elétricos convertem eficientemente energia em deslocamento, os carros a ar enfrentam perdas críticas e autonomia limitada. Além disso, a infraestrutura necessária — estações de compressão de alta pressão — praticamente não existe.
Resultado prático? Um sistema encantador no papel, mas logisticamente e termodinamicamente inviável. O vídeo mostra que o único escape desse “sonho verde” é uma inovadora revolução tecnológica — que ainda não chegou.
“A energia que não se armazena não se move.” — RXO
“Tecnologia bonita só vence na ficção.” — RXO
Vídeo 07# Não contrato azarado — 16/11/25
Neste vídeo, explico de forma direta — e incômoda para alguns — por que não contrato pessoas “azaradas”. Não no sentido místico, mas no comportamental: profissionais que acumulam fracassos, vivem em círculos repetitivos, culpam fatores externos e carregam consigo um padrão de decisões ruins. Gente que sempre tem uma história triste para justificar o próprio baixo desempenho, mas jamais assume o protagonismo para sair do buraco. Times de alta performance não sobrevivem com âncoras emocionais. E liderança não é caridade: é responsabilidade.
“O padrão de decisões de uma pessoa é o melhor preditor do futuro dela.” — RXO
Vídeo 08# Cansaço não é sinônimo de entrega
Cansaço não prova entrega. Trabalho exige deslocamento efetivo. Suor sem resultado é desperdício energético. Sistemas premiam quem move resultados com eficiência, não quem sofre mais nem faz barulho improdutivo constante.
“Trabalho só existe quando há deslocamento real.” — RXO
Vídeo 09# A Jaboticaba mais cara do Mundo
O Brasil desperdiça eletricidade ao aquecer água com chuveiros elétricos no horário de pico. Um improviso histórico virou erro sistêmico: encarece tarifas, exige térmicas, superdimensiona redes e sacrifica eficiência. Há solução solar, mas falta decisão estratégica nacional e racional urgente.
“Não falta energia. Falta inteligência no uso.” — RXO
Vídeo 10# Hat-Trik Político
O vídeo critica Fernando Haddad como autor de um hat-trik de incompetência em três cargos. Mostra, com números, a virada de superávit para rombo, manobras para maquiar déficit, aumento da dívida, inflação acima da meta, impostos em alta e estatais em crise.
“Três cargos, três fracassos — o placar não mente.” — RXO